Nasceu no Boi Velho, que na época pertencia a Monteiro, e era da família dos Bernardos e de Cabôco Ferreira, todos gente afamada naquelas quebradas dos Velhos Cariris.
Só tinha um problema , Zé que era pequeno e magro que só um sibito, queria a todo custo entrar pra gloriosa Polícia Militar da Paraíba, onde pretendia alcançar quem sabe , o posto de marechal , uma patente muito em voga no exército brasileiro , isso lá no limiar dos anos sessenta aonde era tido como certo que o mundo ia se acabar e os Estados Unidos , alimentavam uma guerra idiota com os comunistas da Rússia , fato que nem de longe interessava a Zé.
Apesar da compleição física contrária a qualquer regimento militar – um metro e cinqüenta e poucos centímetros, e uns cinqüenta e poucos quilos, Zé , por indicação de um padrinho forte, foi incorporado à briosa Polícia Militar da Paraíba.
De farda cáqui , quépi e coturno , ele era o próprio Zé Carrapeta , personagem do poema O ABILOLADO, do poeta Chico Pedrosa.
Depois que passou "a pronto" foi lotado no quartel de Campina Grande , onde enfrentou a antipatia do comandante que não lhe dava descanso.
Cumprido o prazo de recolhimento e treinamento no quartel de Campina , eis que chega a hora do bravo contingente partir para cumprir o seu dever ou seja: Todo mundo ir para o interior , estabelecer a ordem nas regiões mais críticas onde ainda imperava o "faroeste" , quando se falava que o rifle 44 , era a justiça do Piancó.
Conceição na Paraíba, por exemplo, não era naquela época o melhor lugar do mundo pra se ser soldado de polícia.
Zé morria de medo de ser enviado pra lá o que era quase certo por parte do seu comandante truculento .
Todo mundo perfilado , o comandante gritando , soldado fulano, vai pra tal lugar , soldado cicrano tal lugar e quase chegando a vez de Zé que teve uma idéia terminal, começou a falar bem alto, como se estivesse conversando com os colegas:
"Não me mandando pra Prata nem pra Ouro velho , onde eu tenho inimigos , pra mim qualquer lugar, tá bom".
Não deu outra, o chefão gritou de lá:
Soldado José Paes de Lira, vai destacar na Prata.
E Zé queria outra coisa?
Nunca foi promovido, nunca prendeu ninguém (pelo menos sozinho), e também até morrer, nunca mais saiu do eixo Prata/Boi Velho, onde fez muitos amigos e compadres e tomou suas cachaças até viajar desta para a melhor, em baixa definitiva.

Almanaque Raimundo Floriano
Fundado em 24.09.2016
(Cultural, sem fins comerciais, lucrativos ou financeiros)
Raimundo Floriano de Albuquerque e Silva, Editor deste Almanaque, também conhecido como Velho Fulô, Palhaço Seu Mundinho e Mundico Trazendowski, nascido em Balsas , Maranhão, a 3 de julho de 1936, Católico Apostólico Romano, Contador, Oficial da Reserva do Exército Brasileiro, Funcionário Público aposentado da Câmara dos Deputados, Titular da Cadeira nº 10 da Academia Passa Disco da Música Nordestina, cuja patrona é a cantora Elba Ramalho, Mestre e Fundador da Banda da Capital Federal, Pesquisador da MPB, especializado em Velha Guarda, Música Militar, Carnaval e Forró, Cardeal Fundador da Igreja Sertaneja, Pioneiro de Brasília, Xerife nos Mares do Caribe, Cordelista e Glosador, Amigo do Rio das Balsas, Inventor da Descida de Boia, em julho de 1952, Amigo da Fanfarra do 1° RCG, autor dos livros O Acordo PDS/PTB, coletânea de charges, Sinais de Revisão e Regras de Pontuação, normativo, Do Jumento ao Parlamento, com episódios da vida real, De Balsas para o Mundo, centrado na navegação fluvial Balsas/Oceano Atlântico, Pétalas do Rosa, saga da Família Albuquerque e Silva, Memorial Balsense, dedicado à história de sua terra natal, e Caindo na Gandaia, humorístico apimentado, é casado, tem quatro filhos, uma nora, dois genros e dois netos e reside em Brasília, Distrito Federal, desde dezembro de 1960.


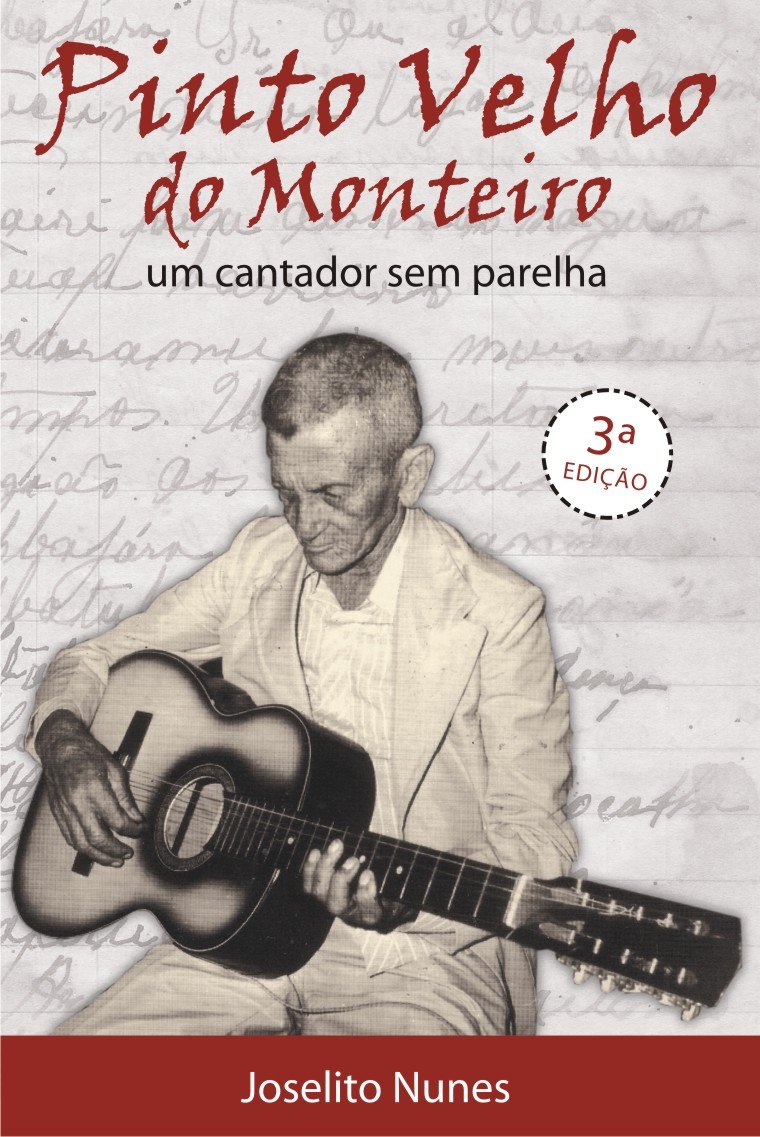

































.jpg)















