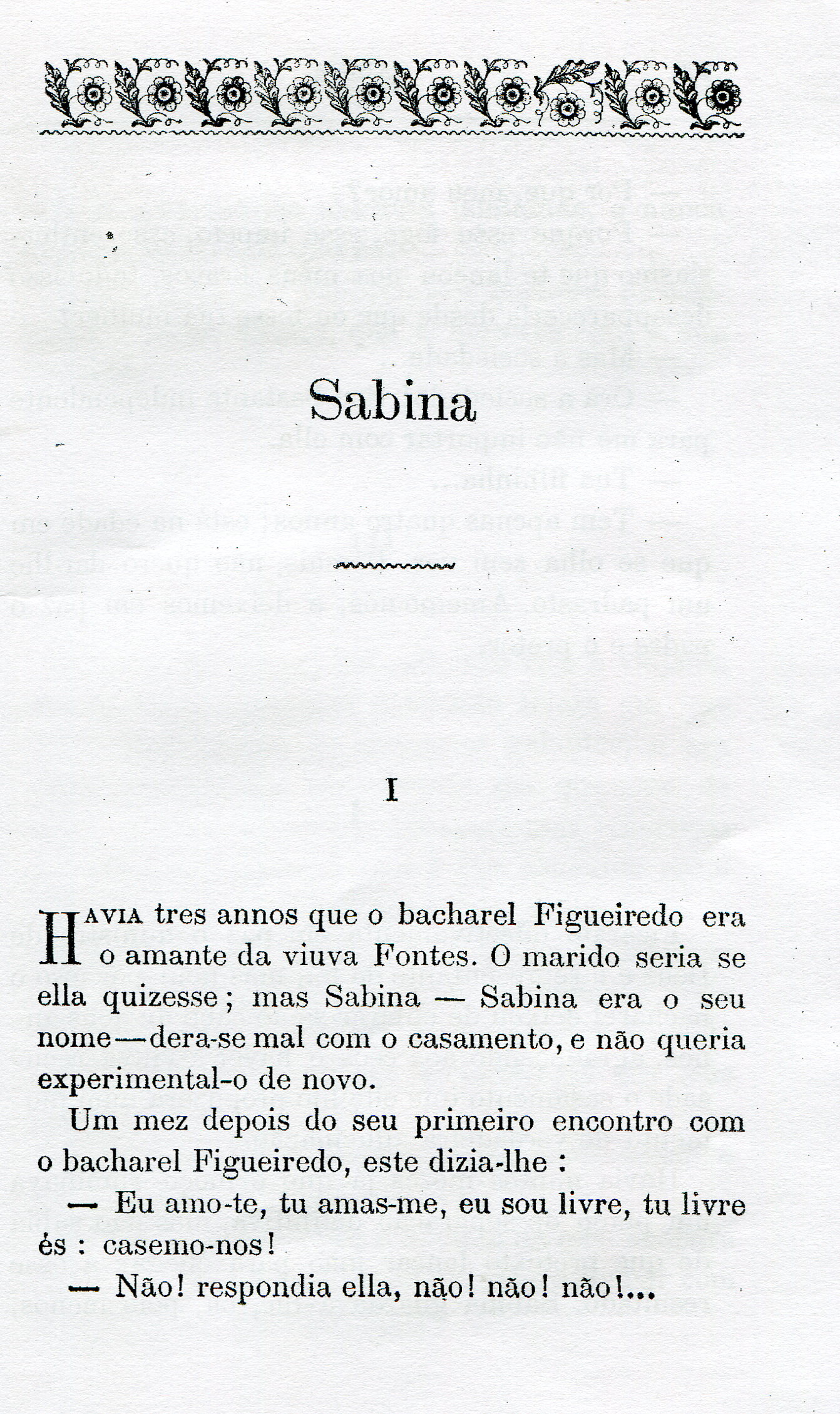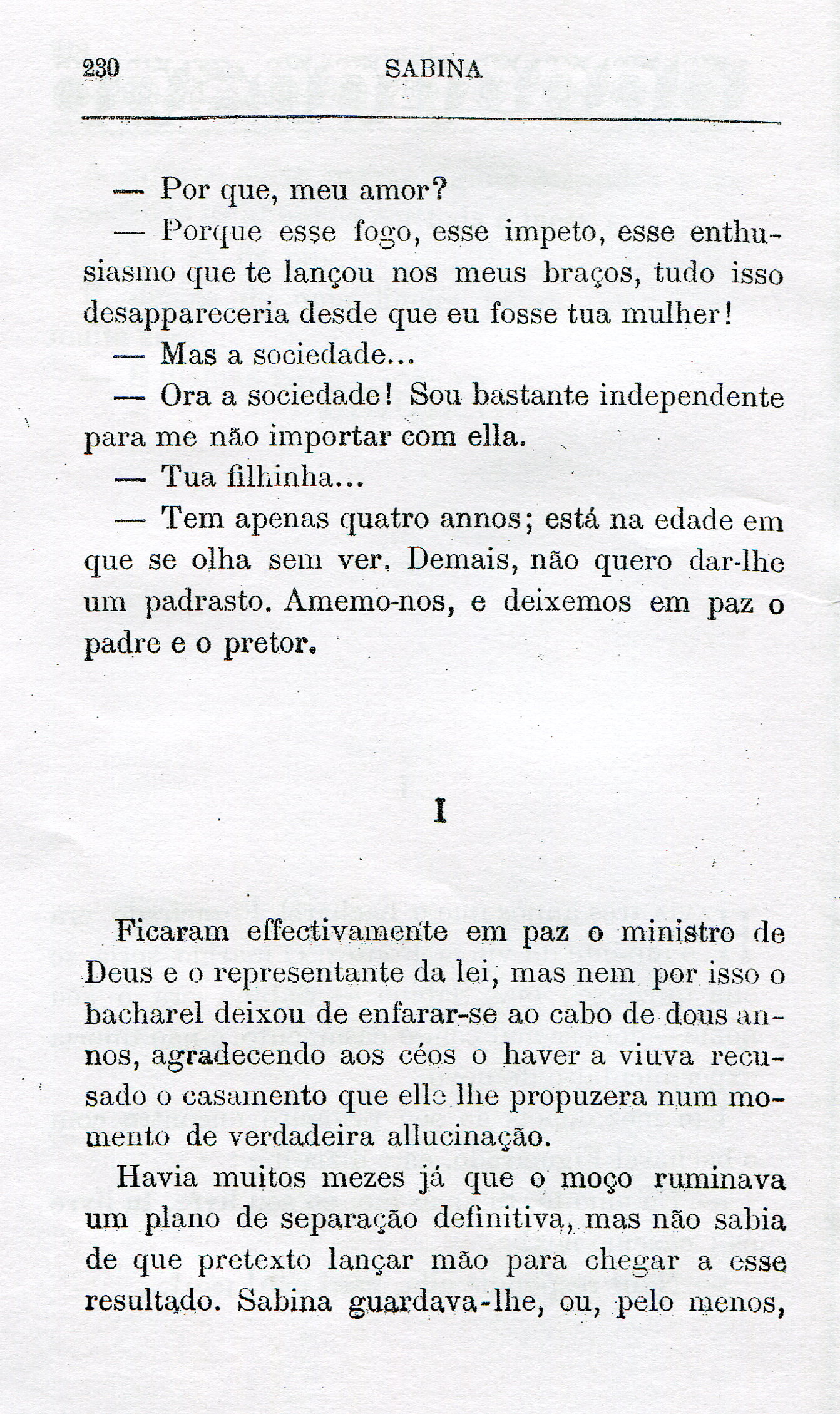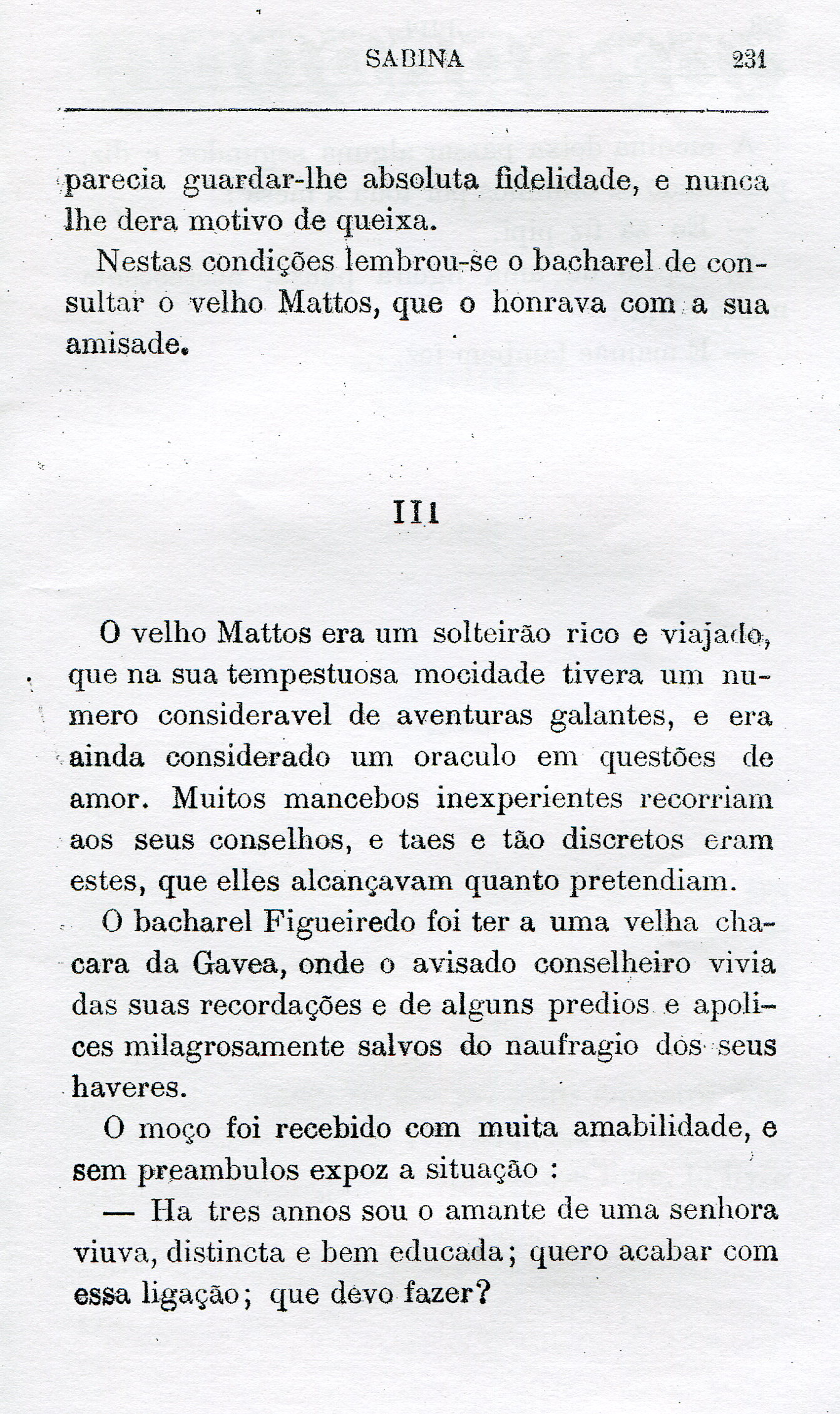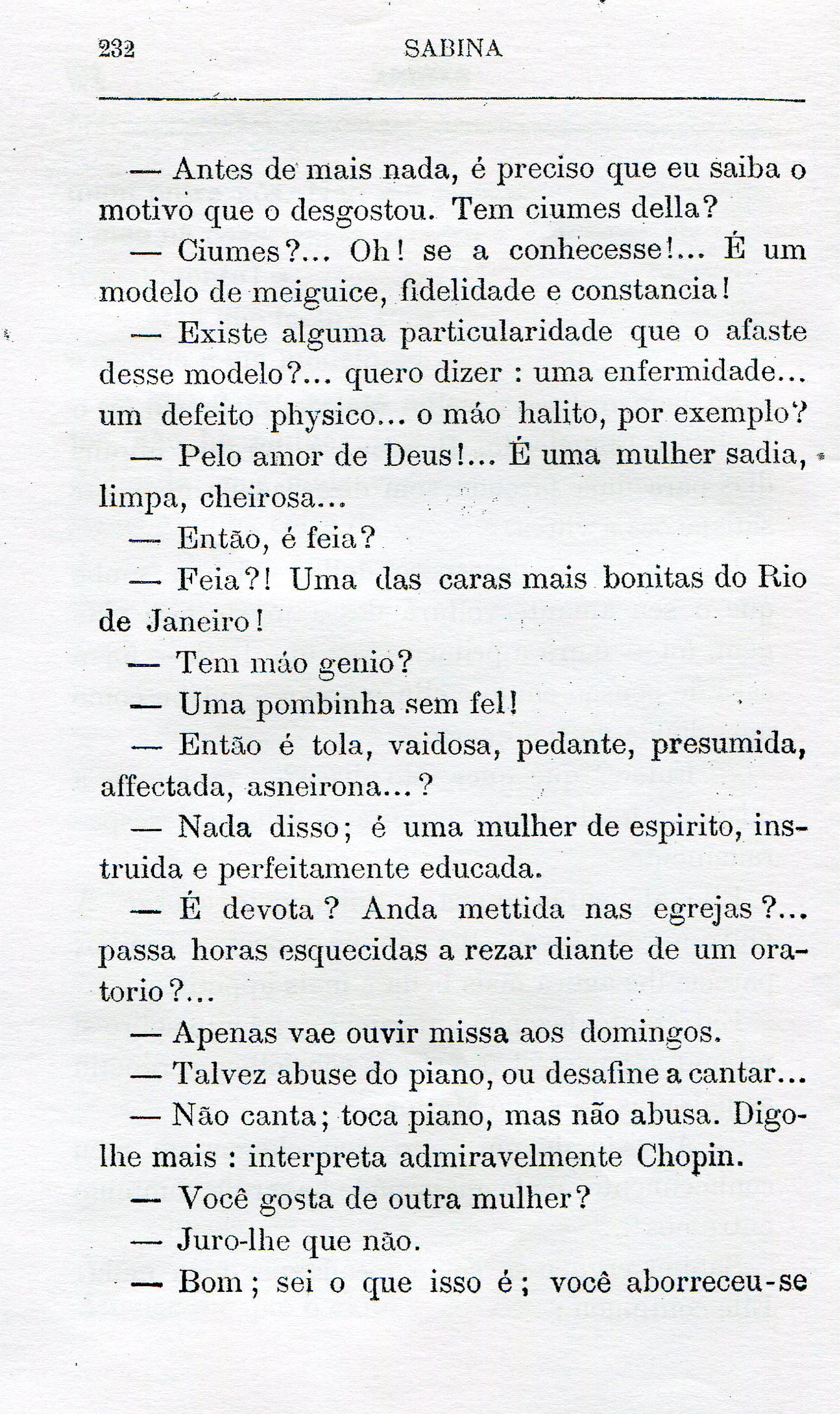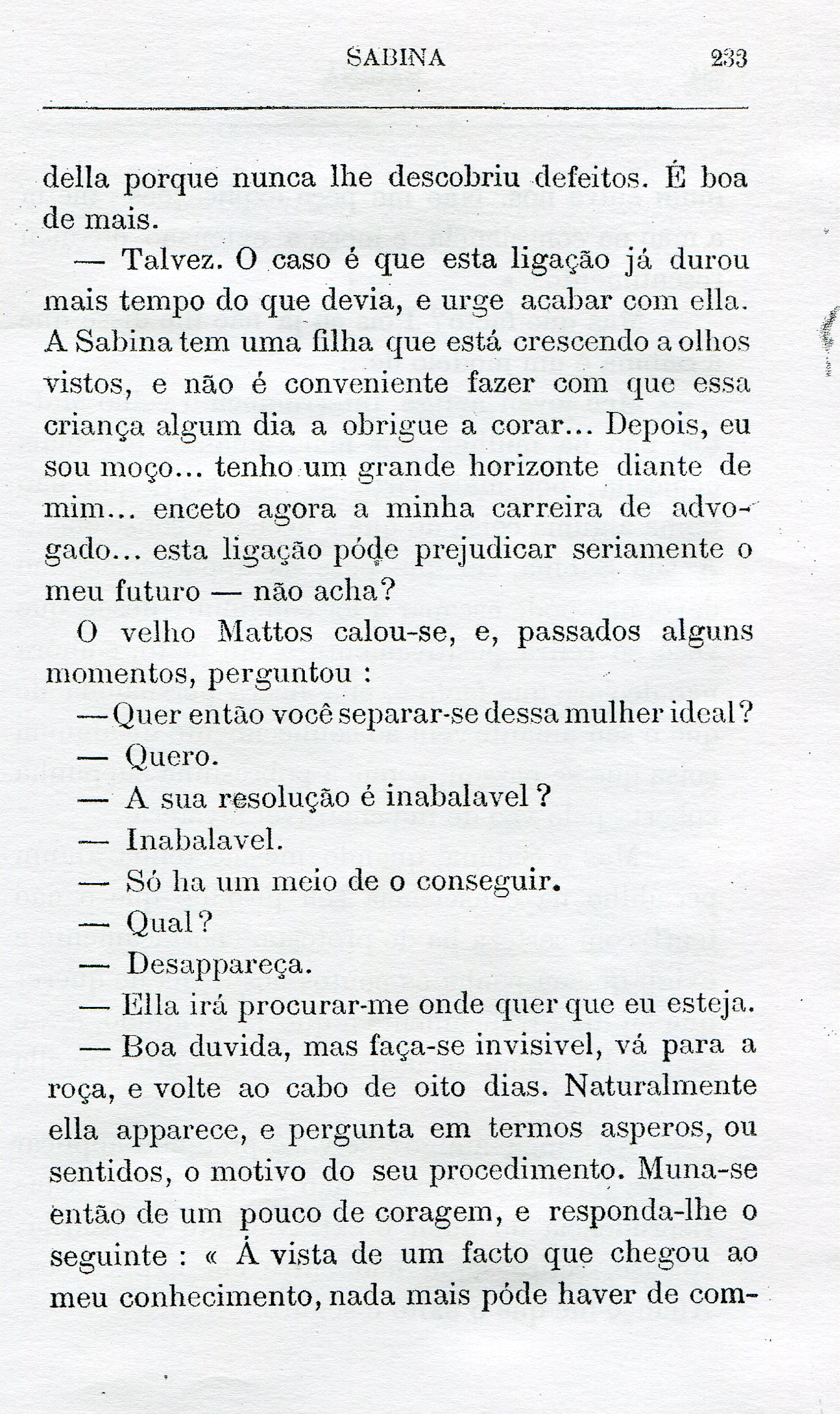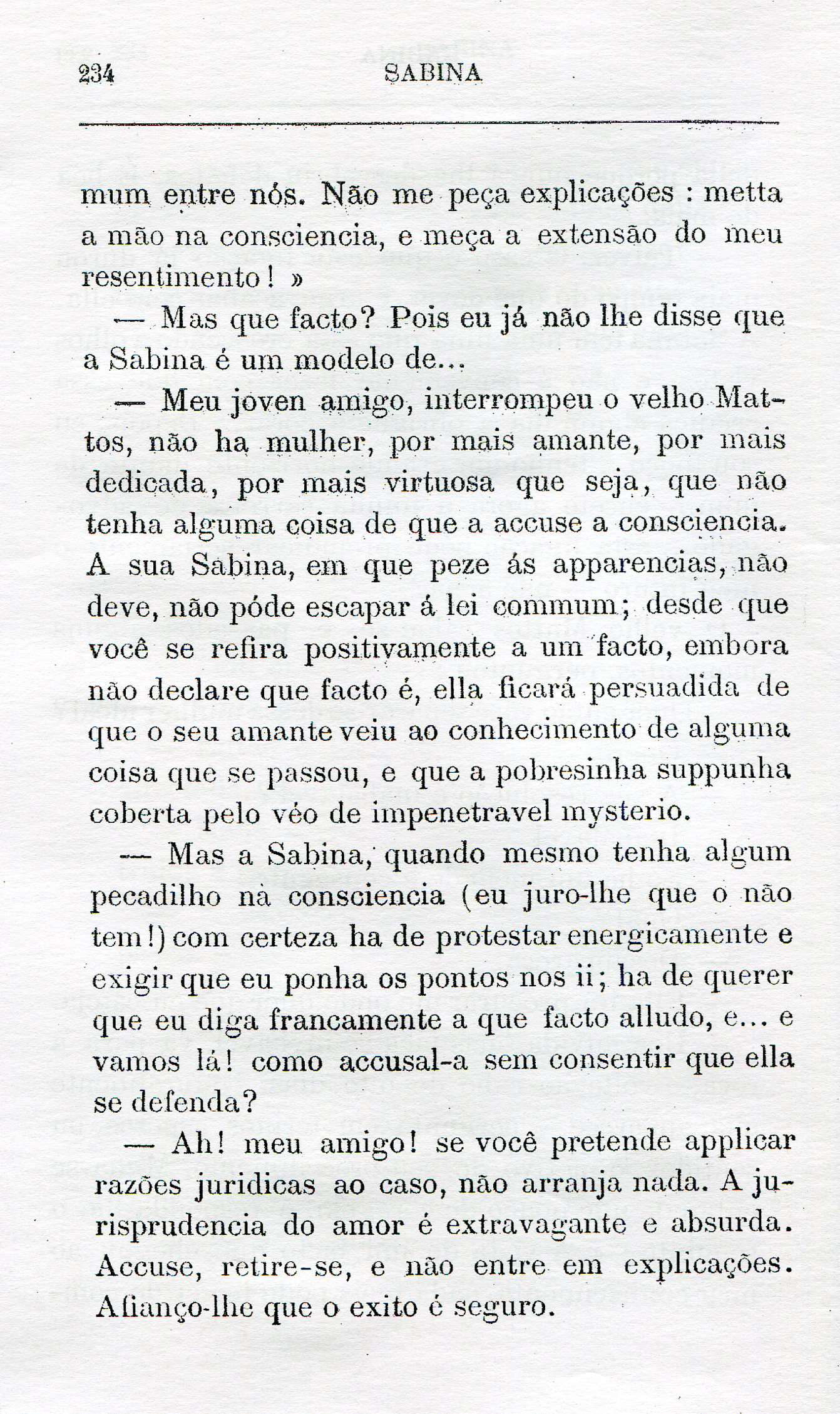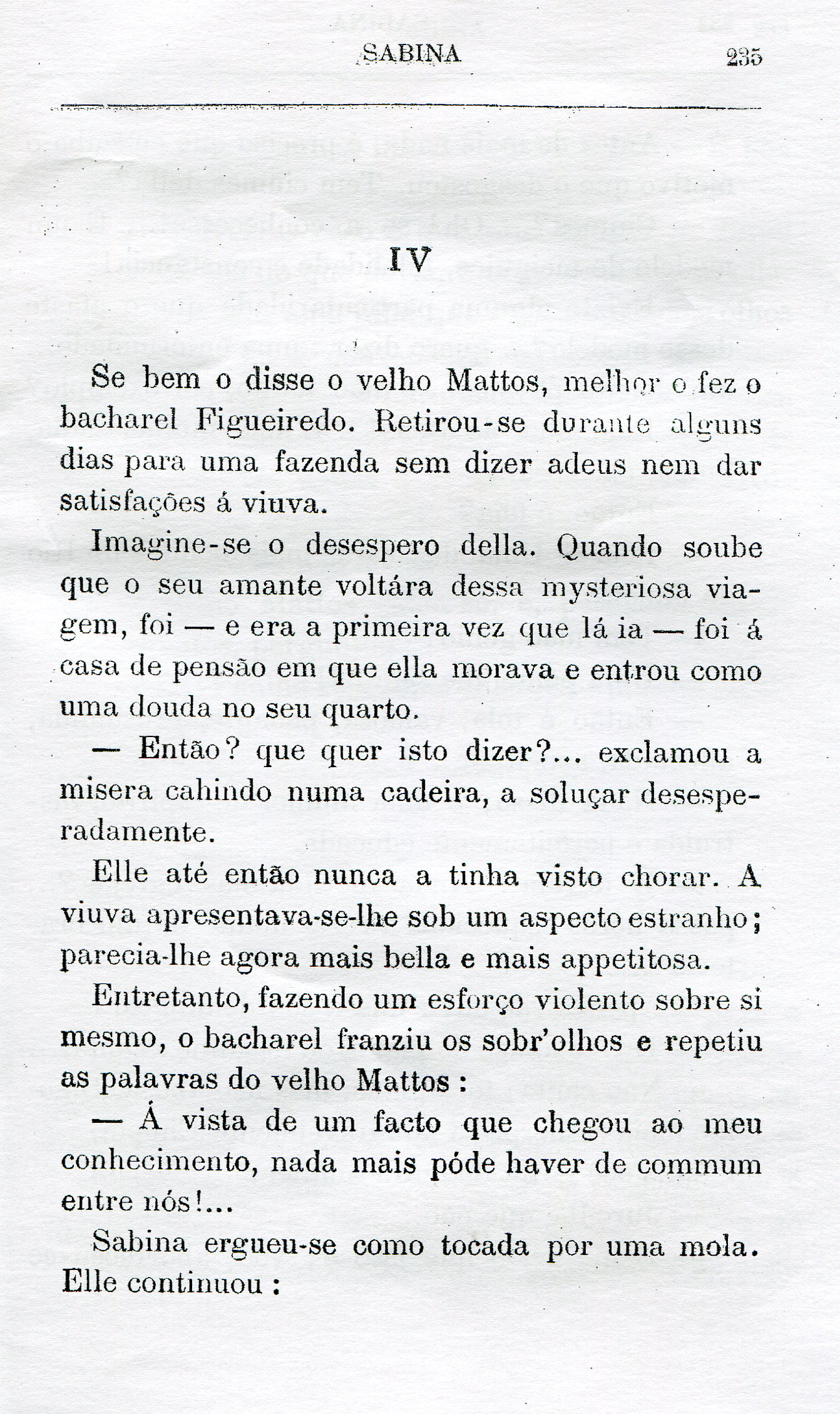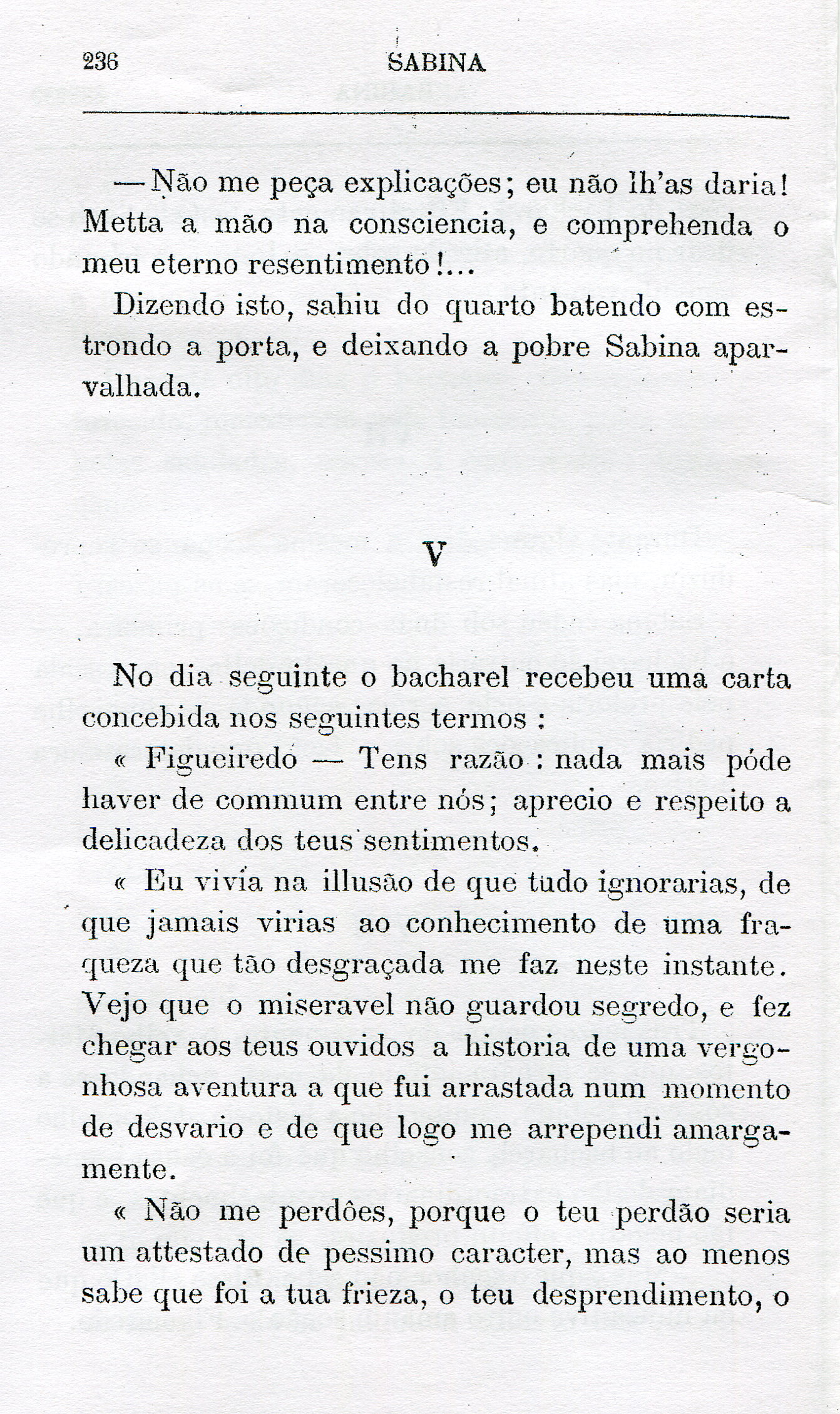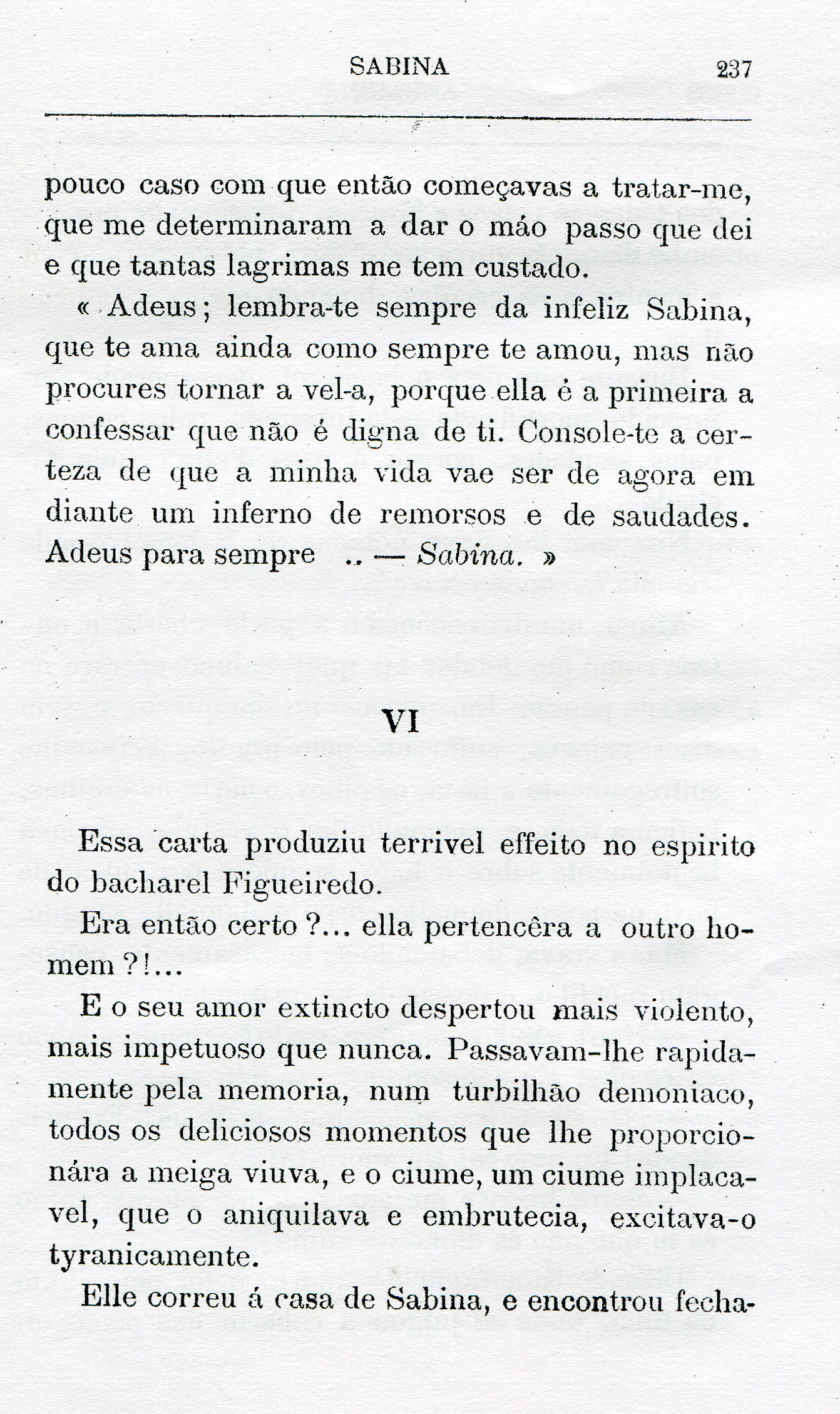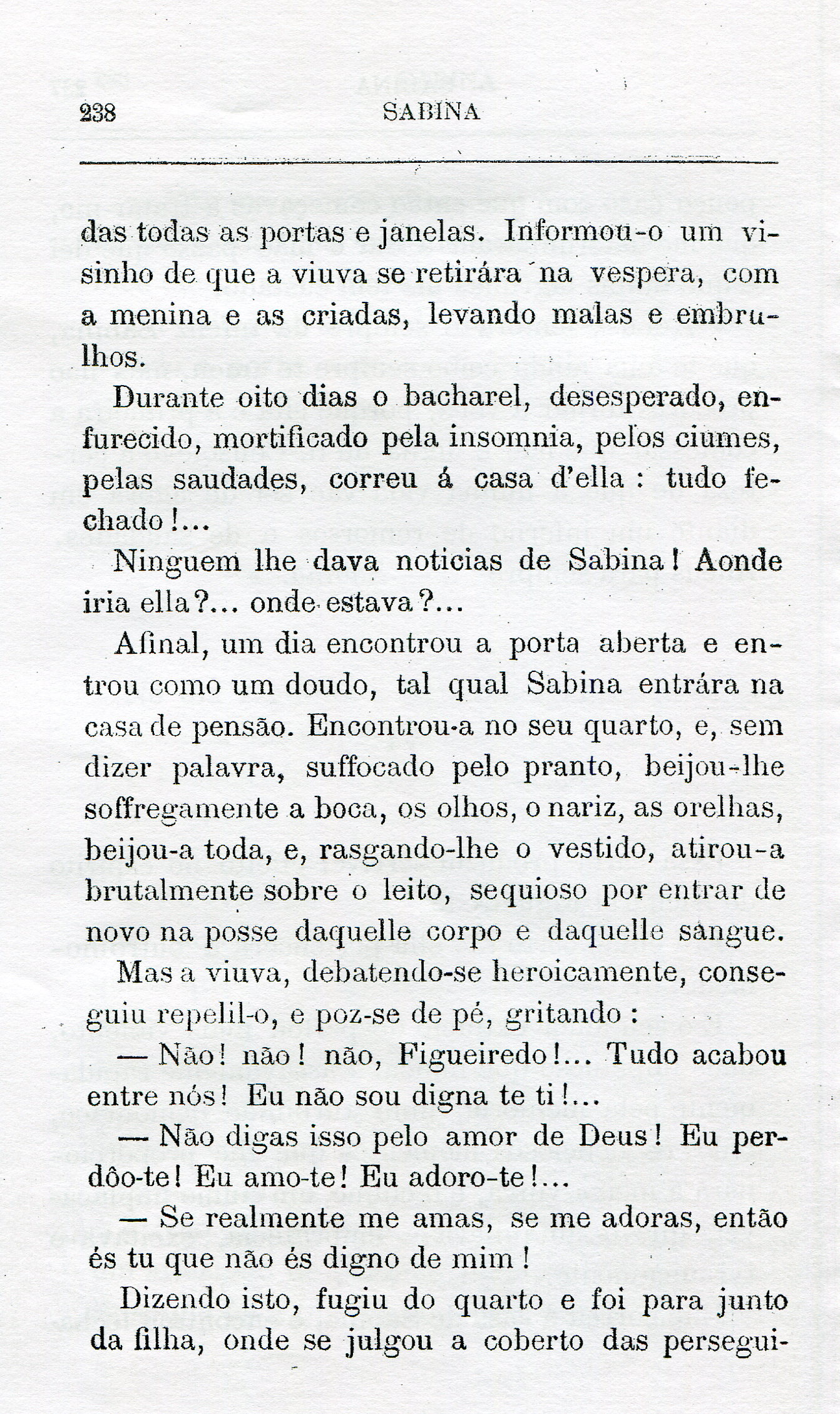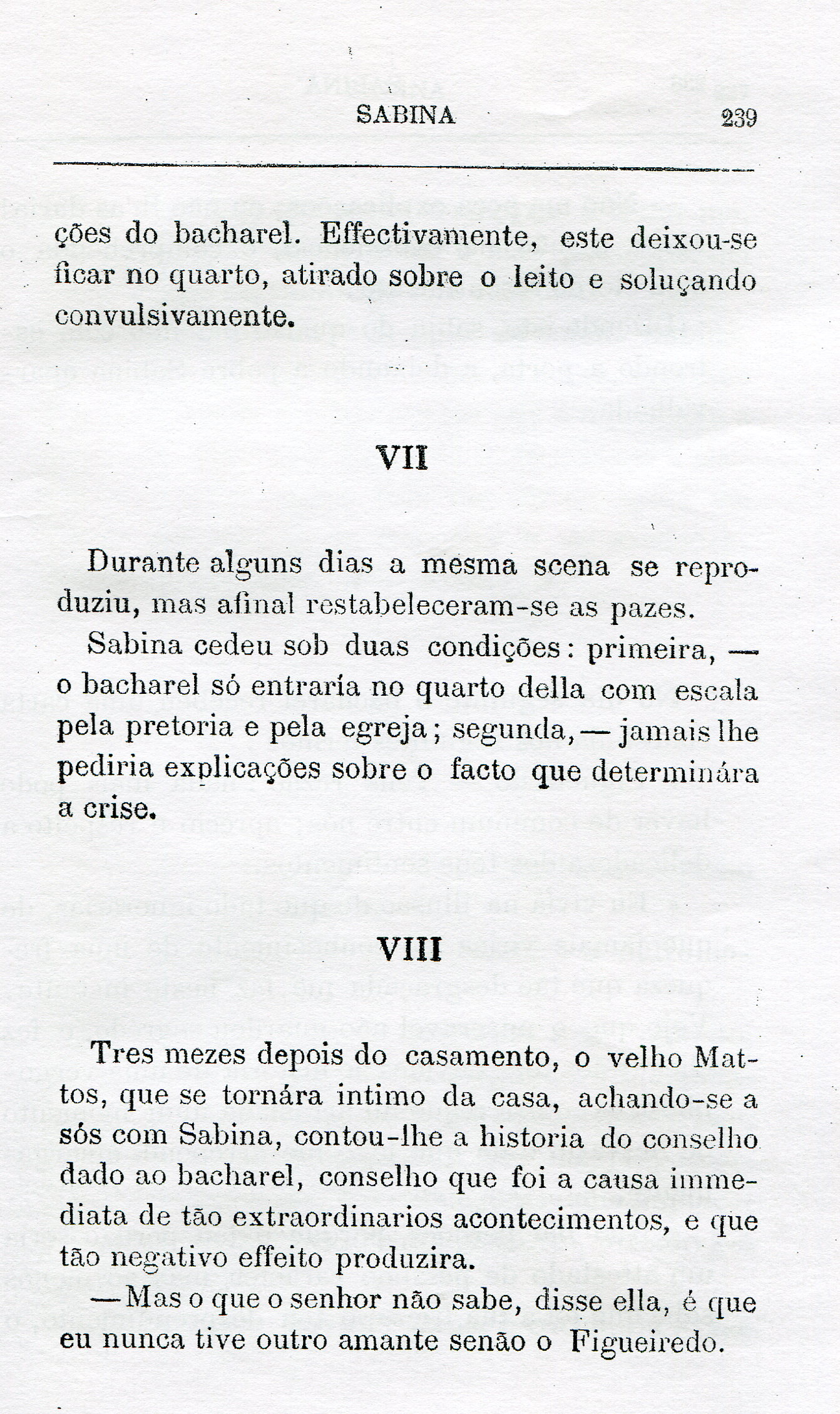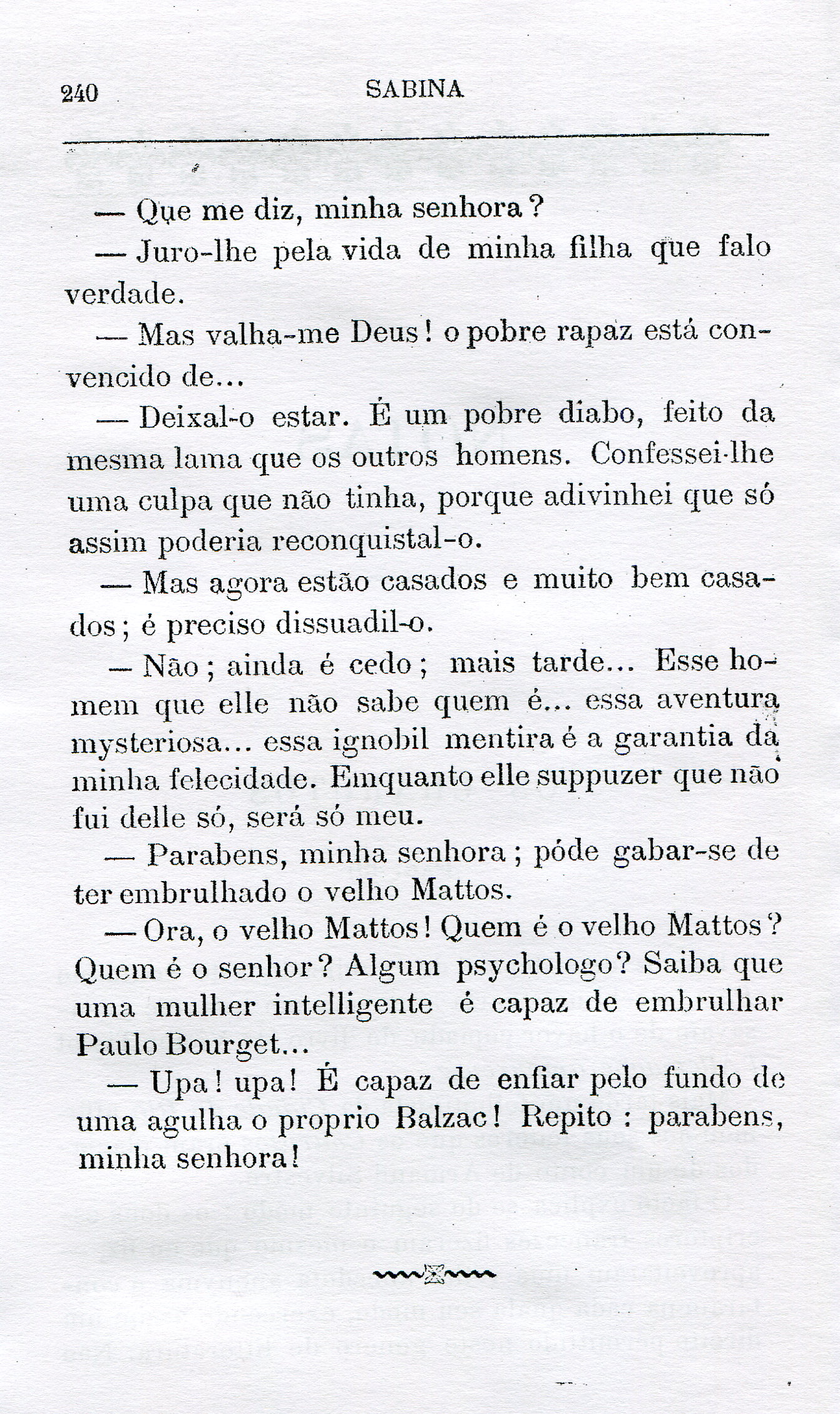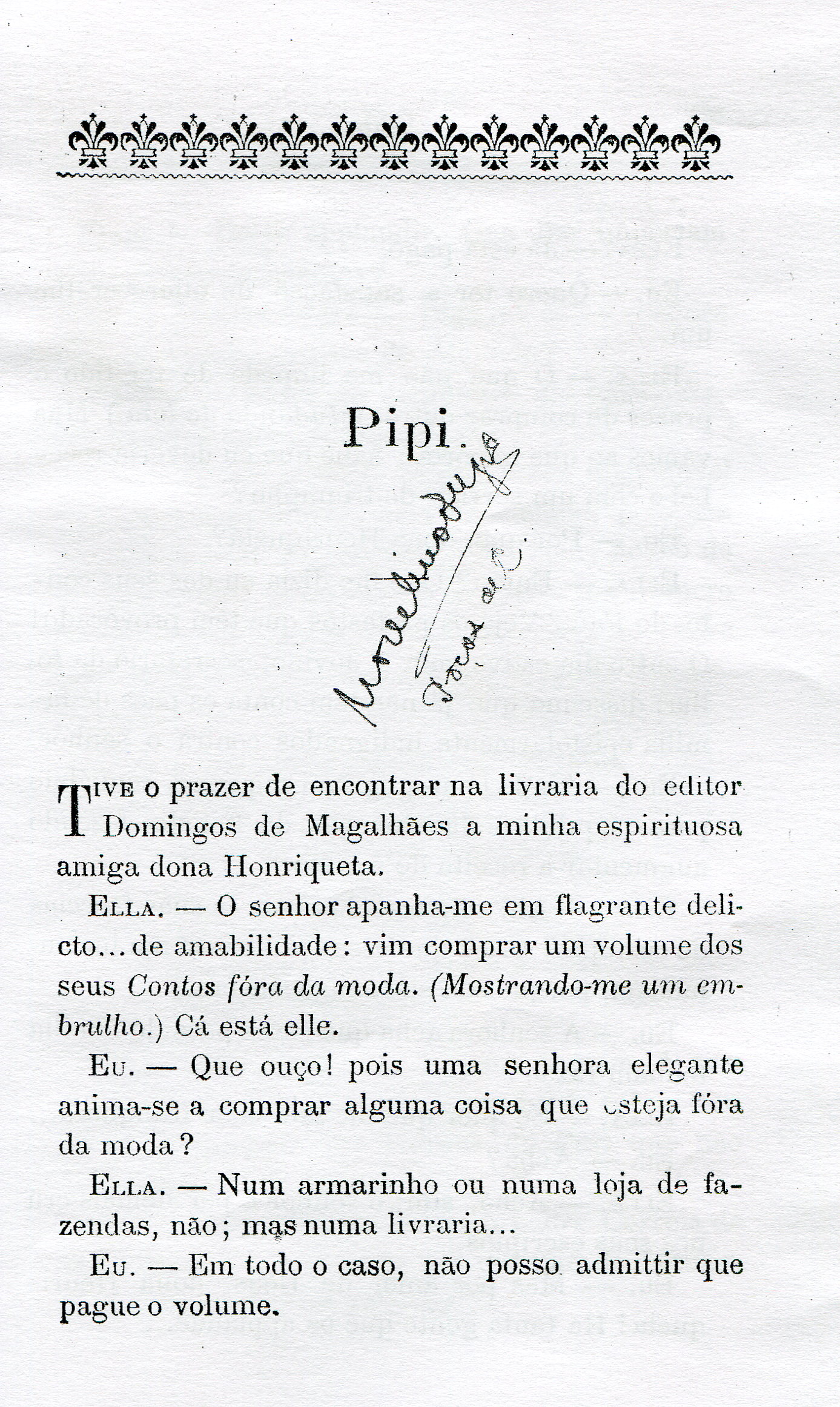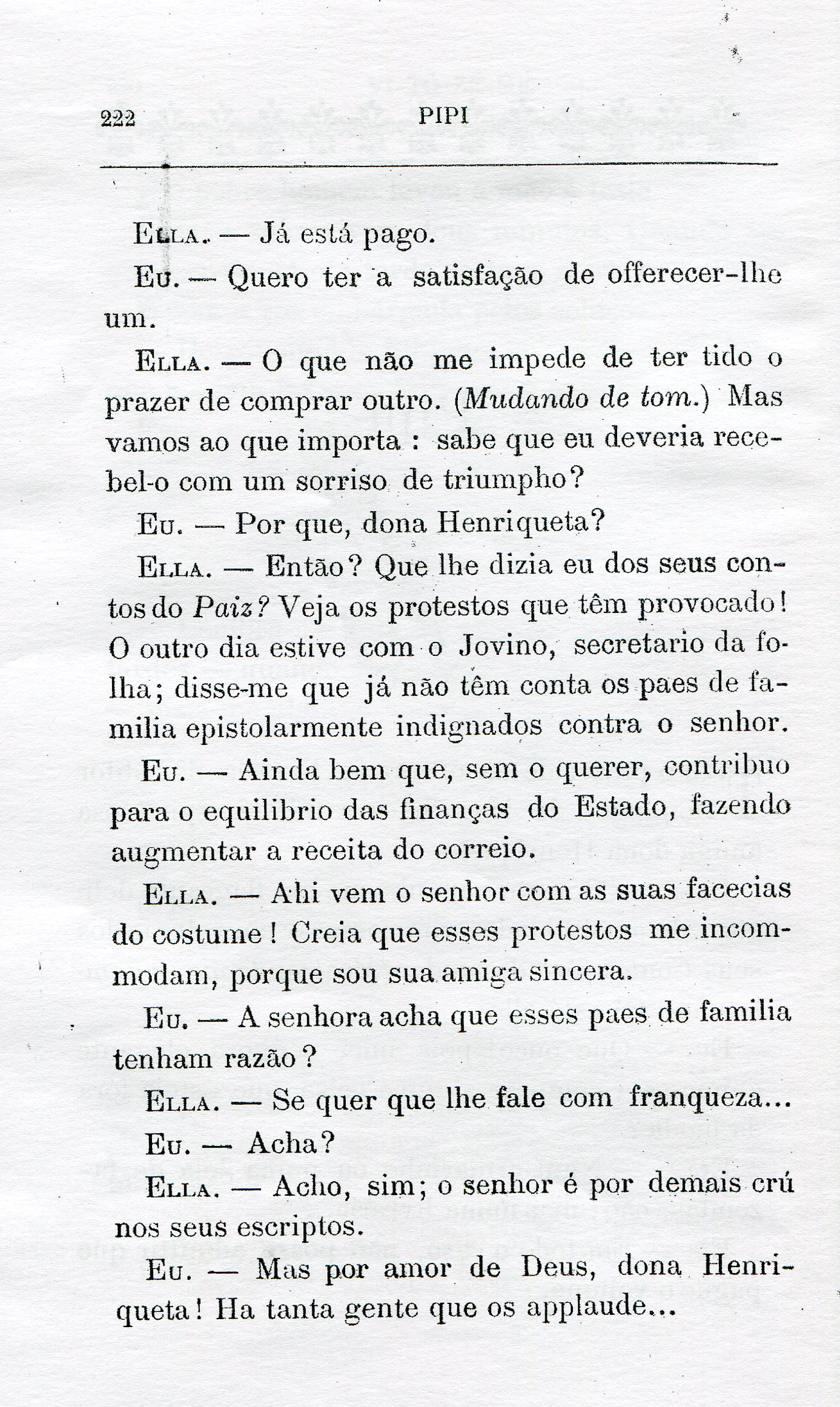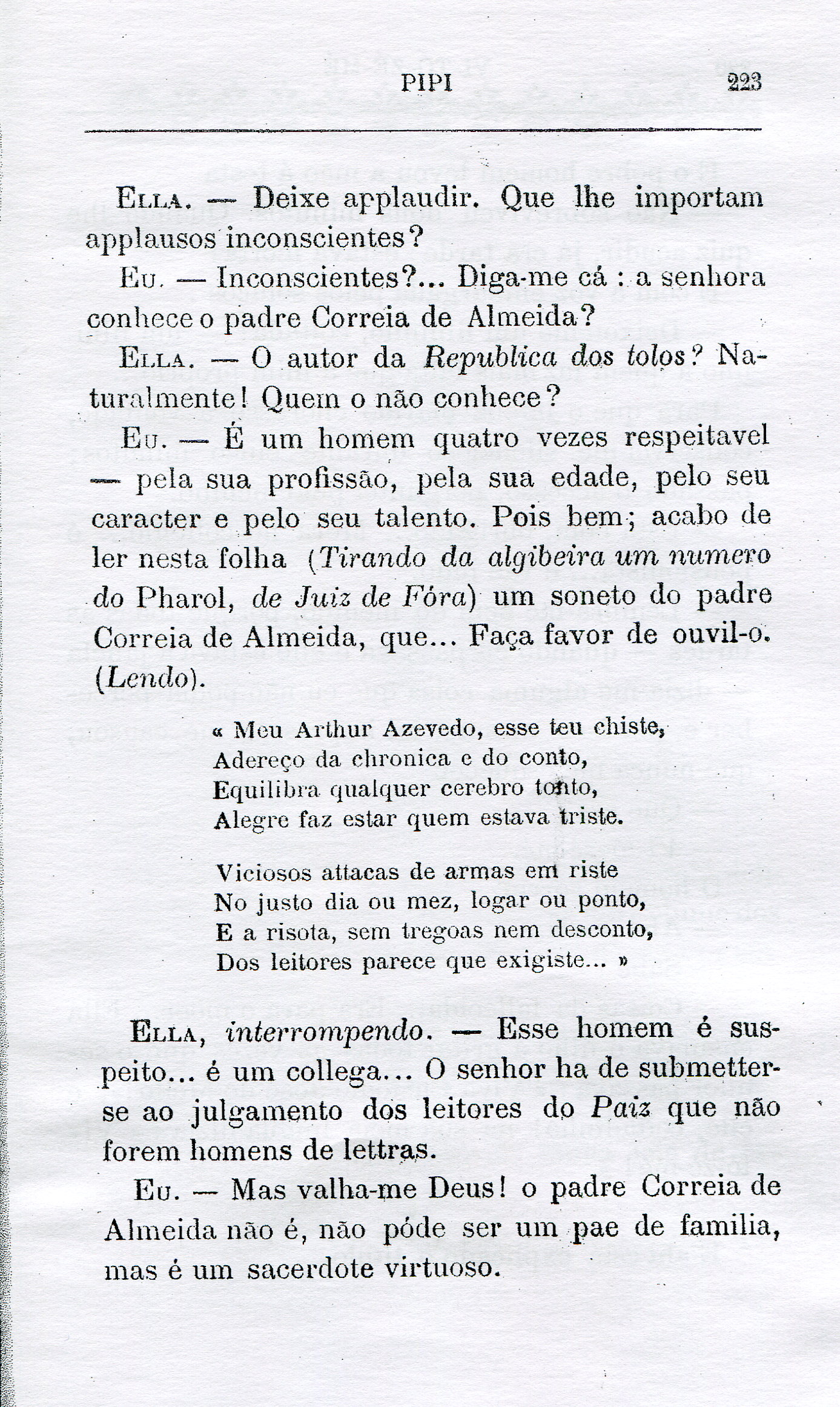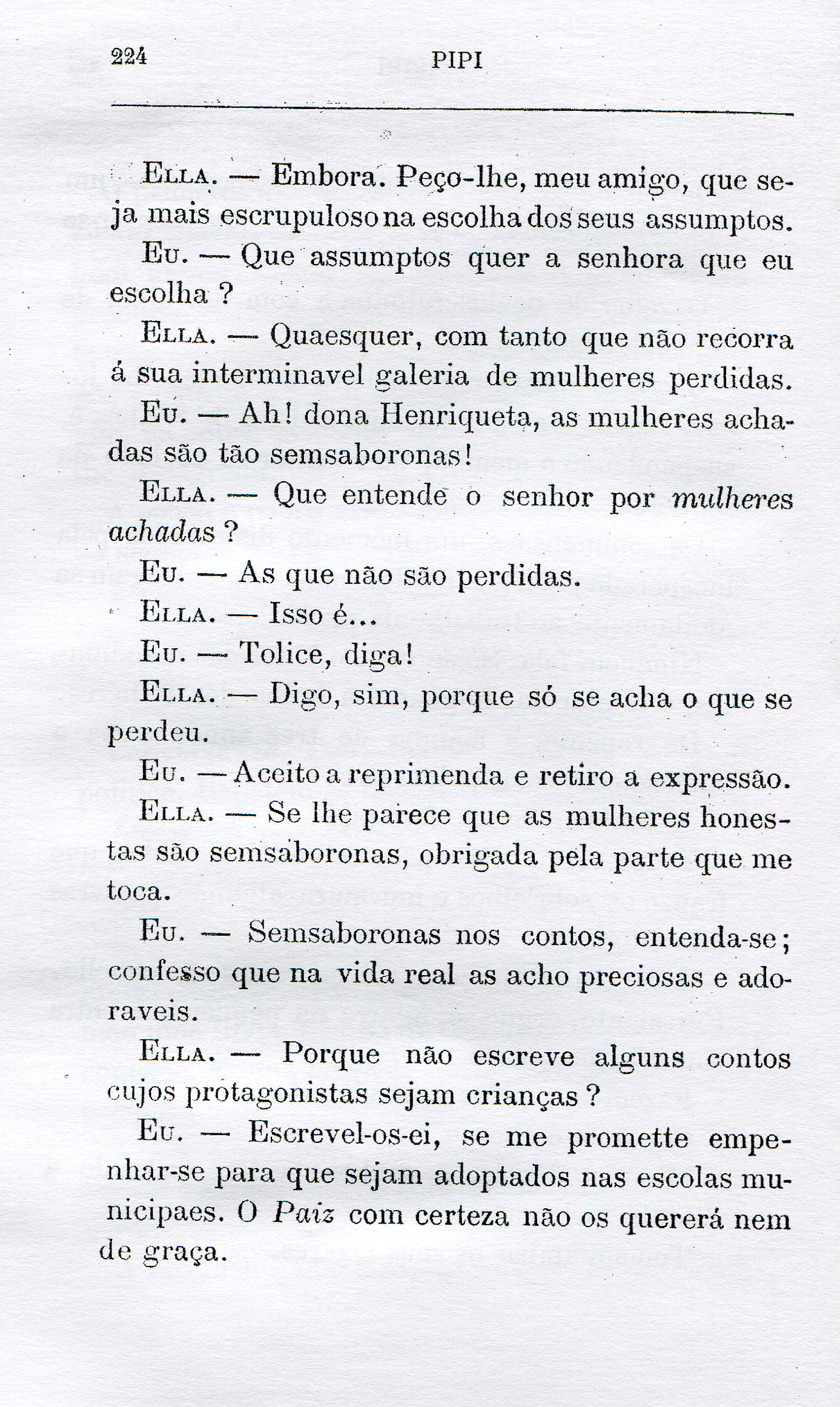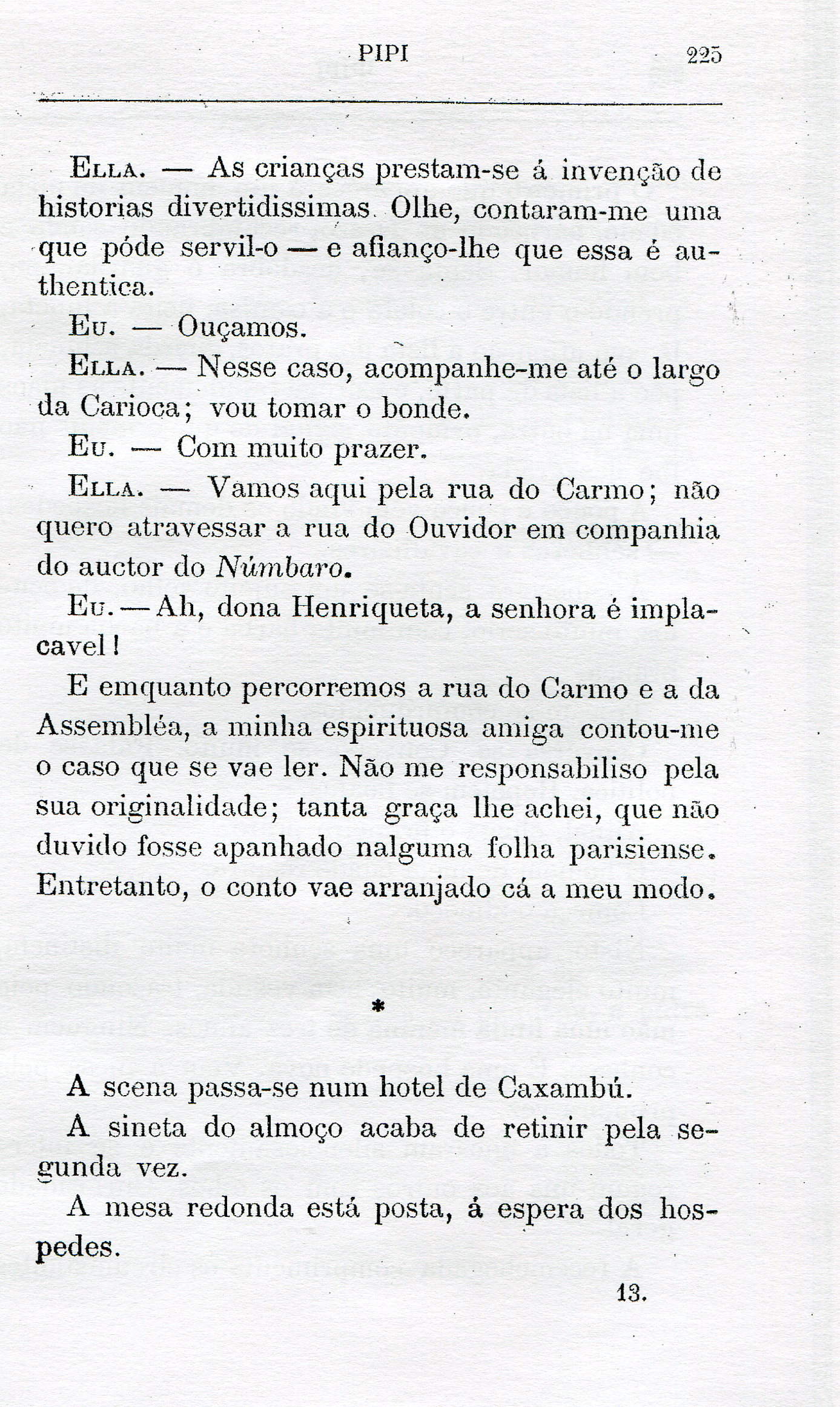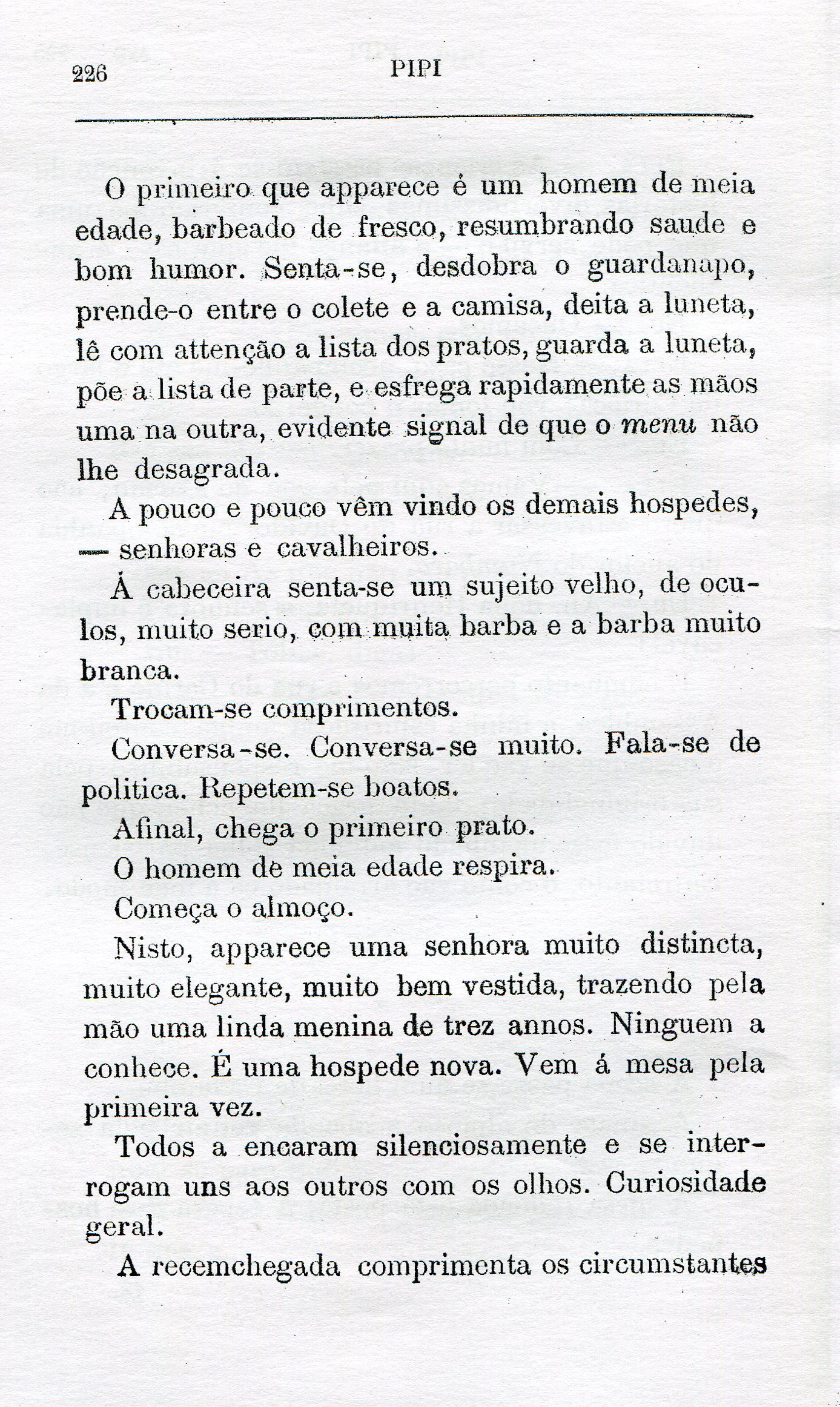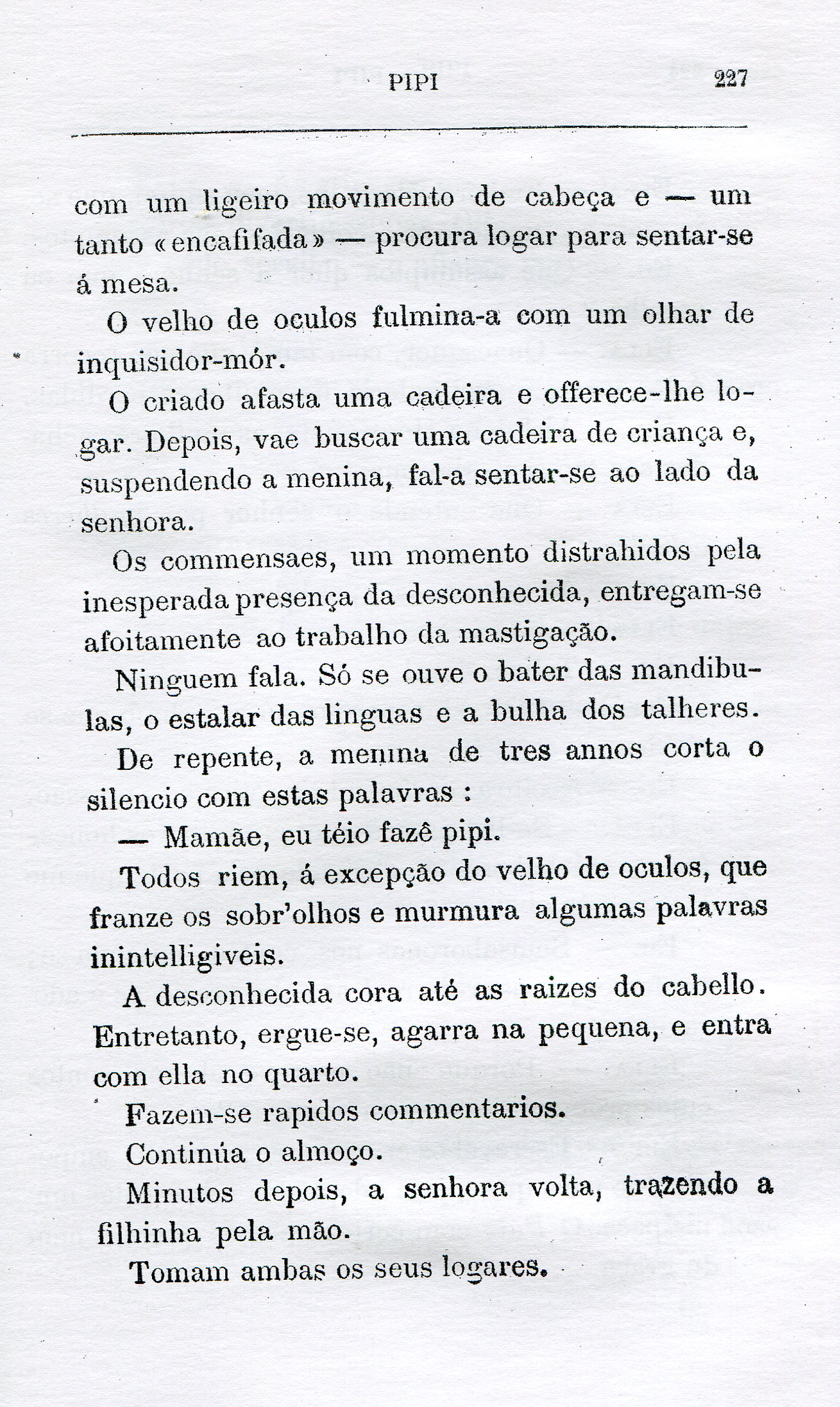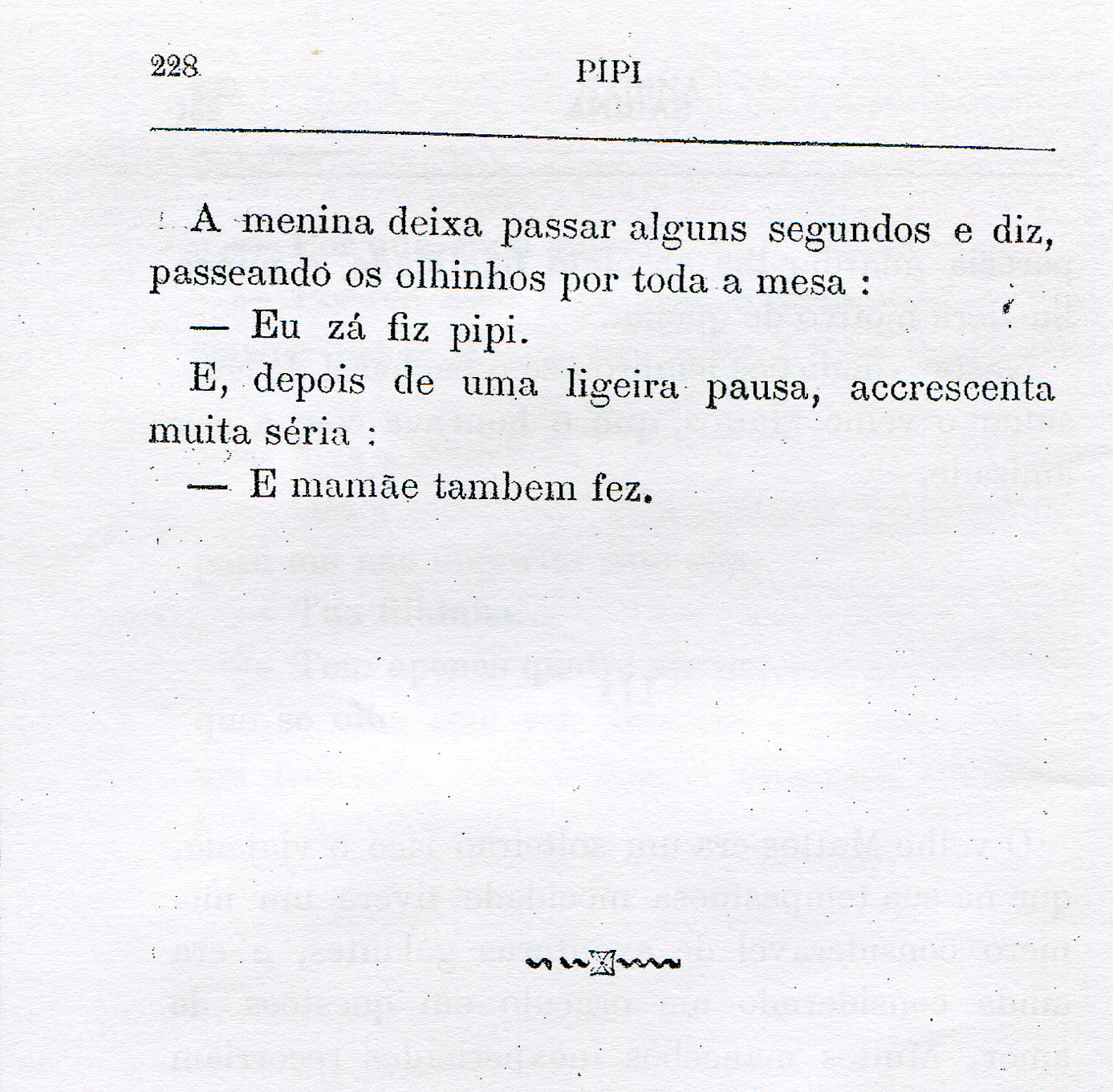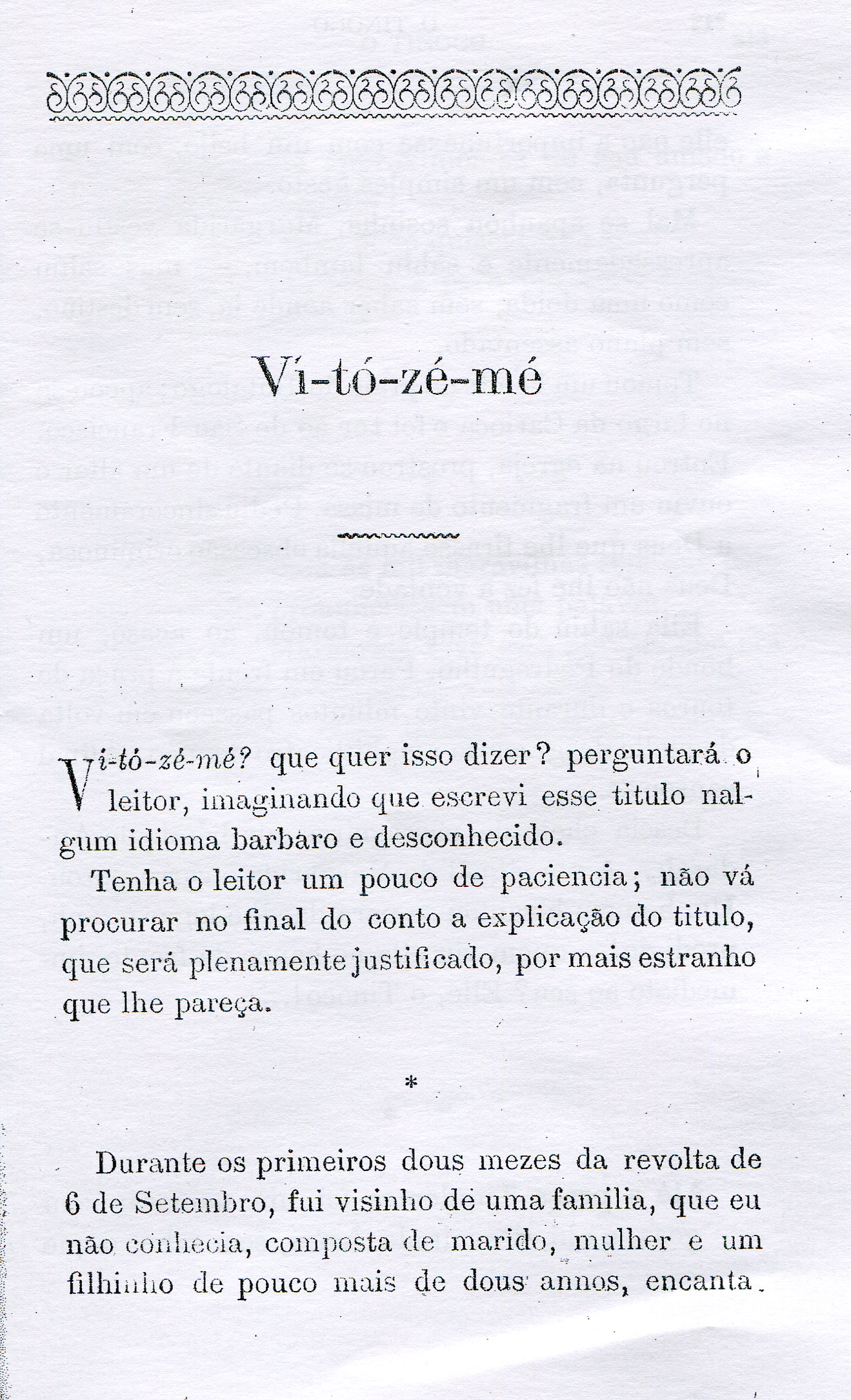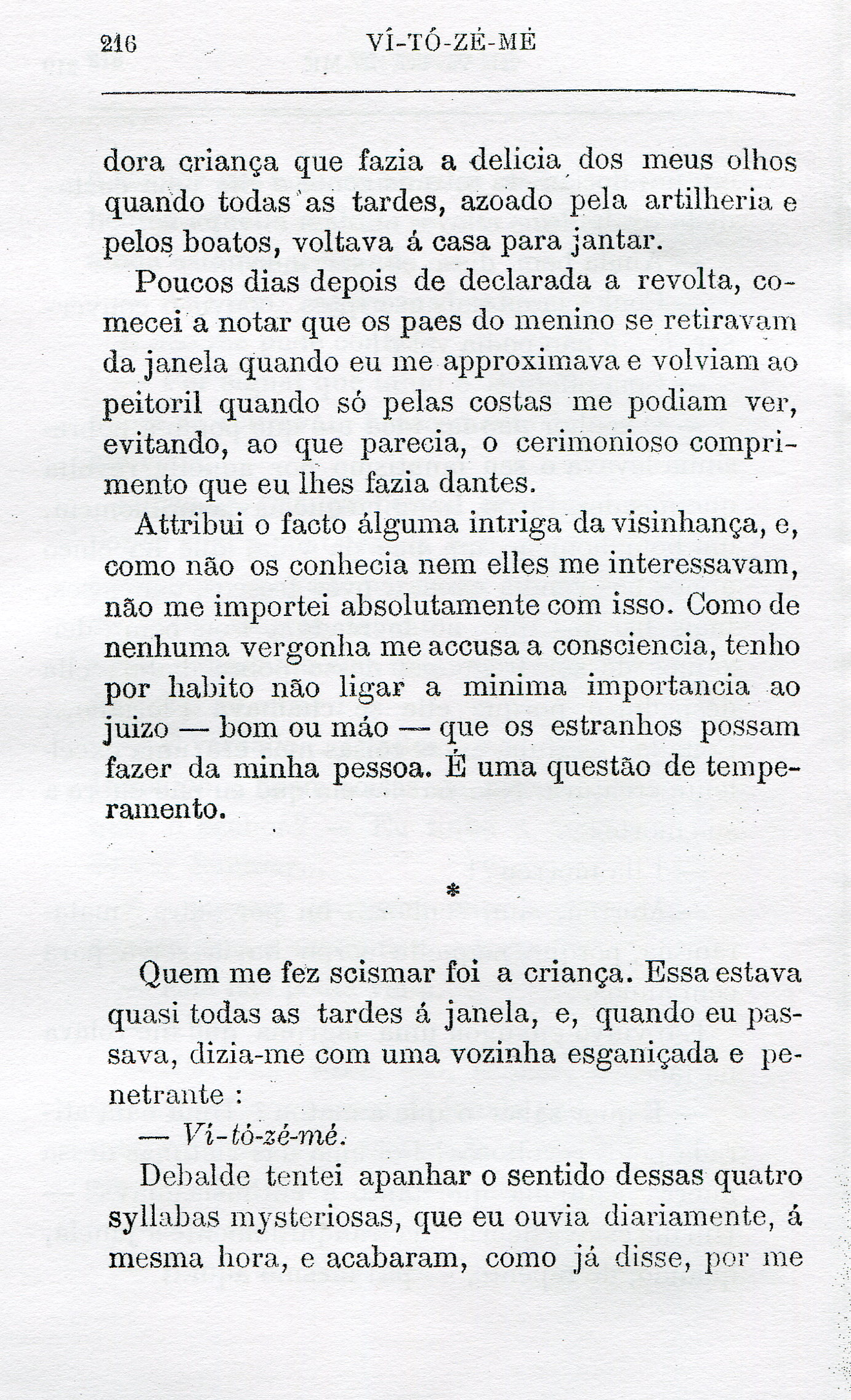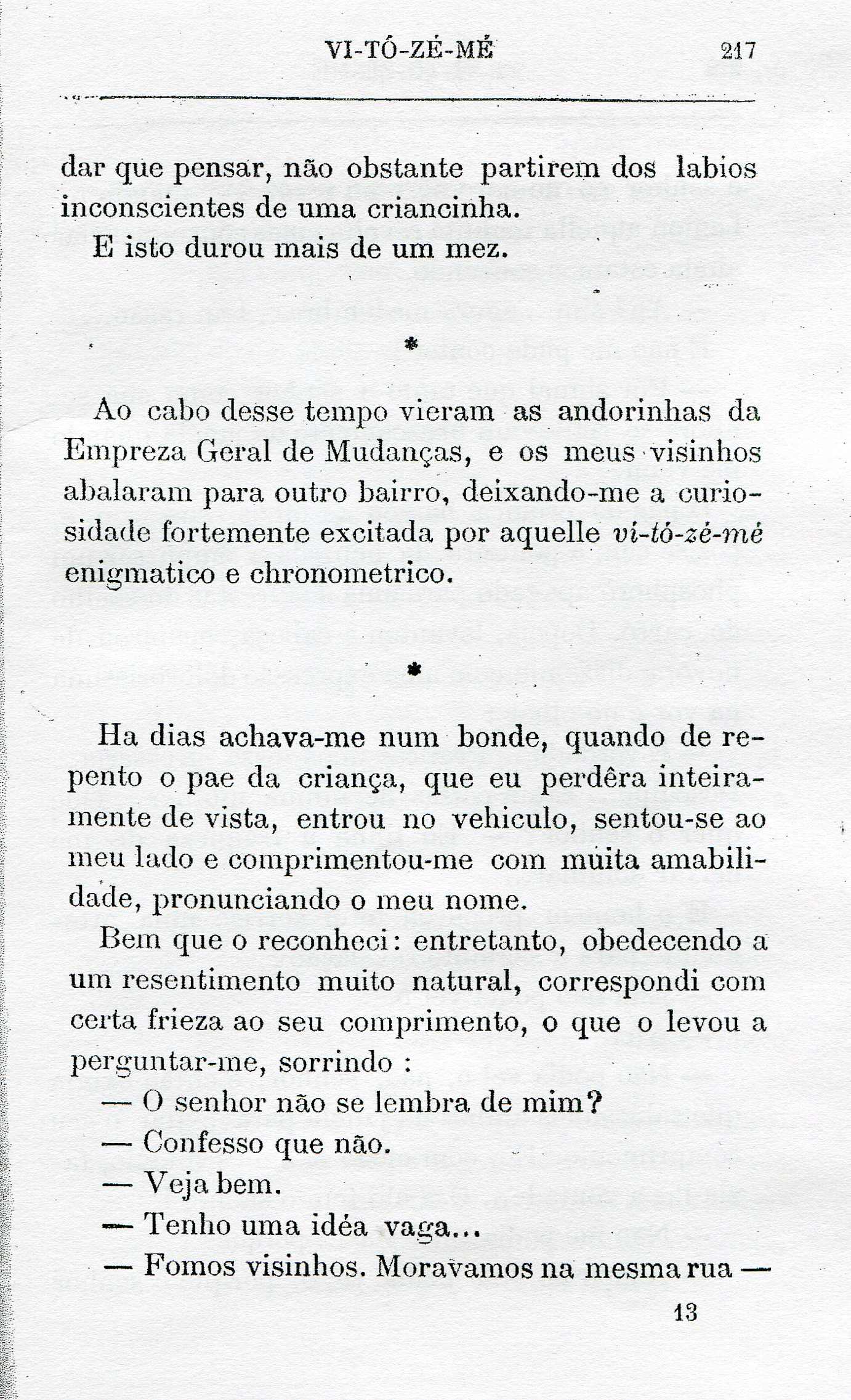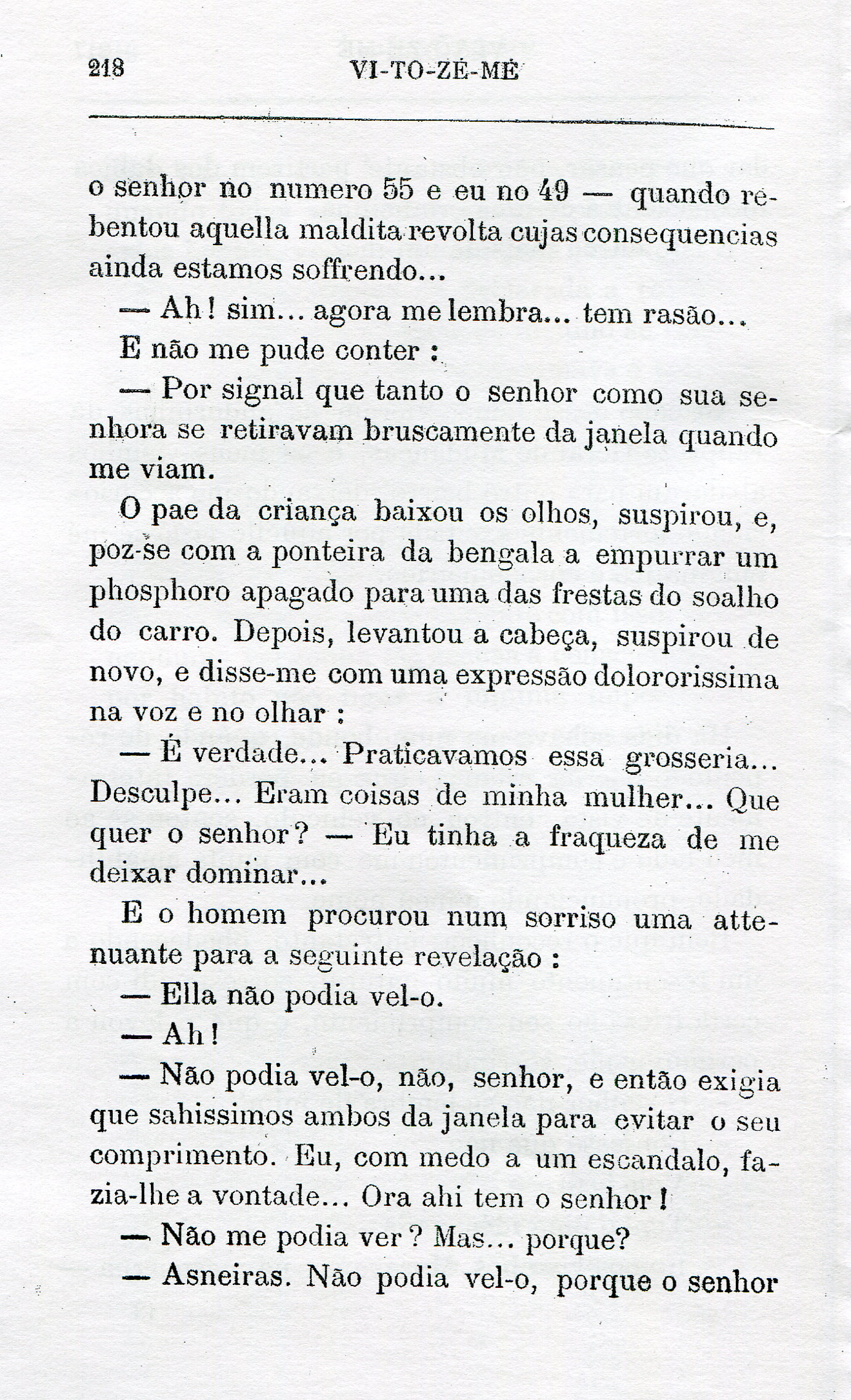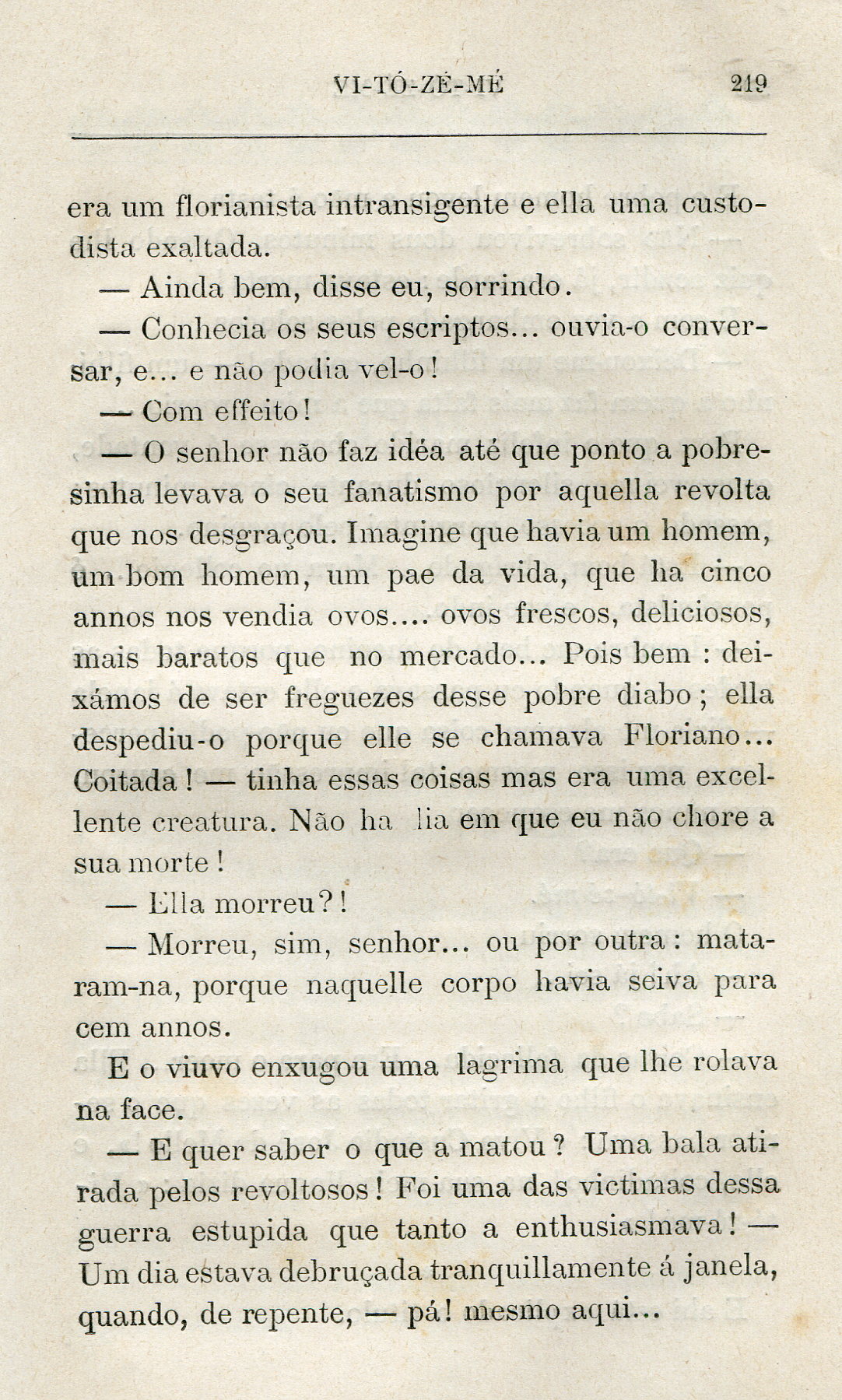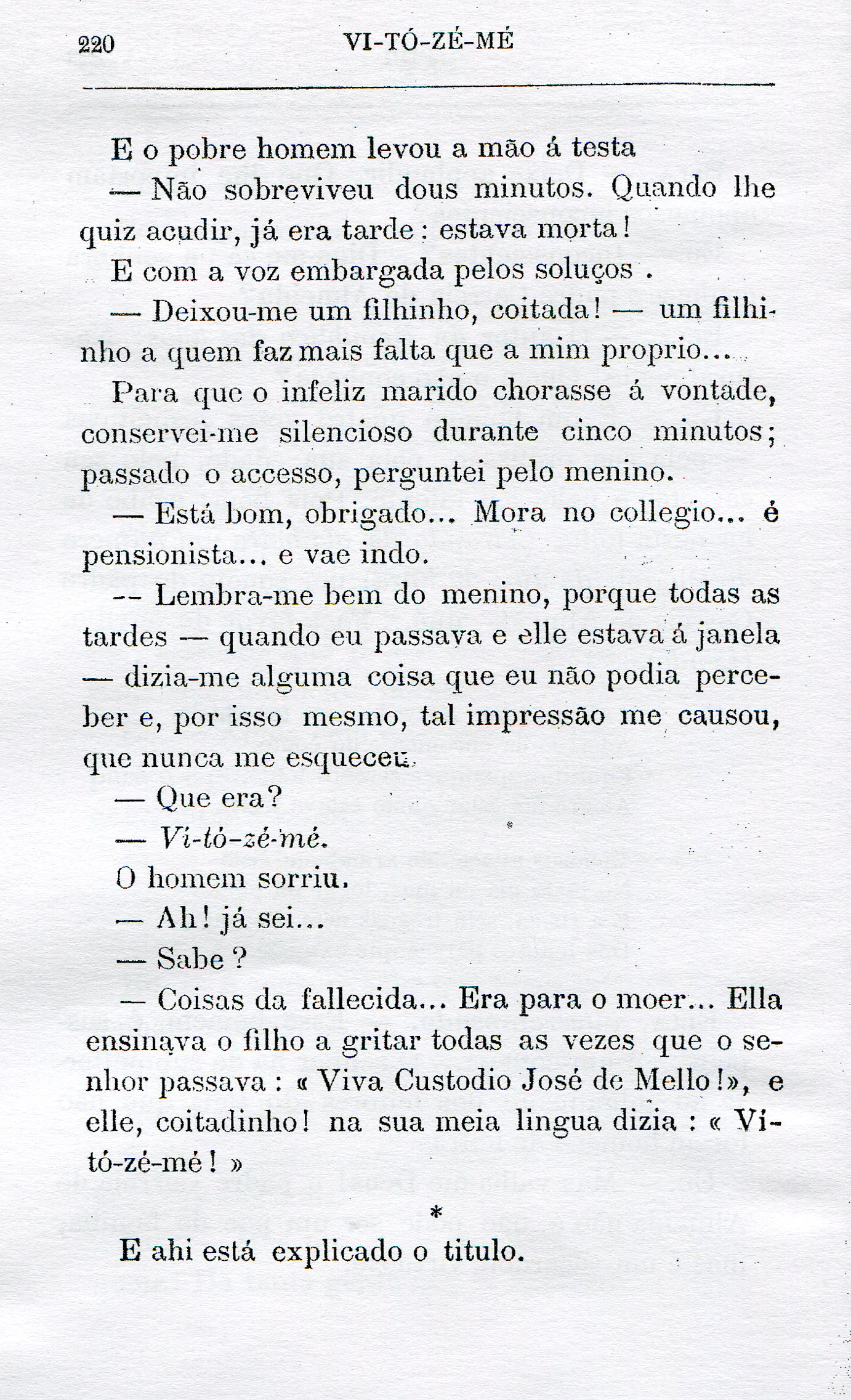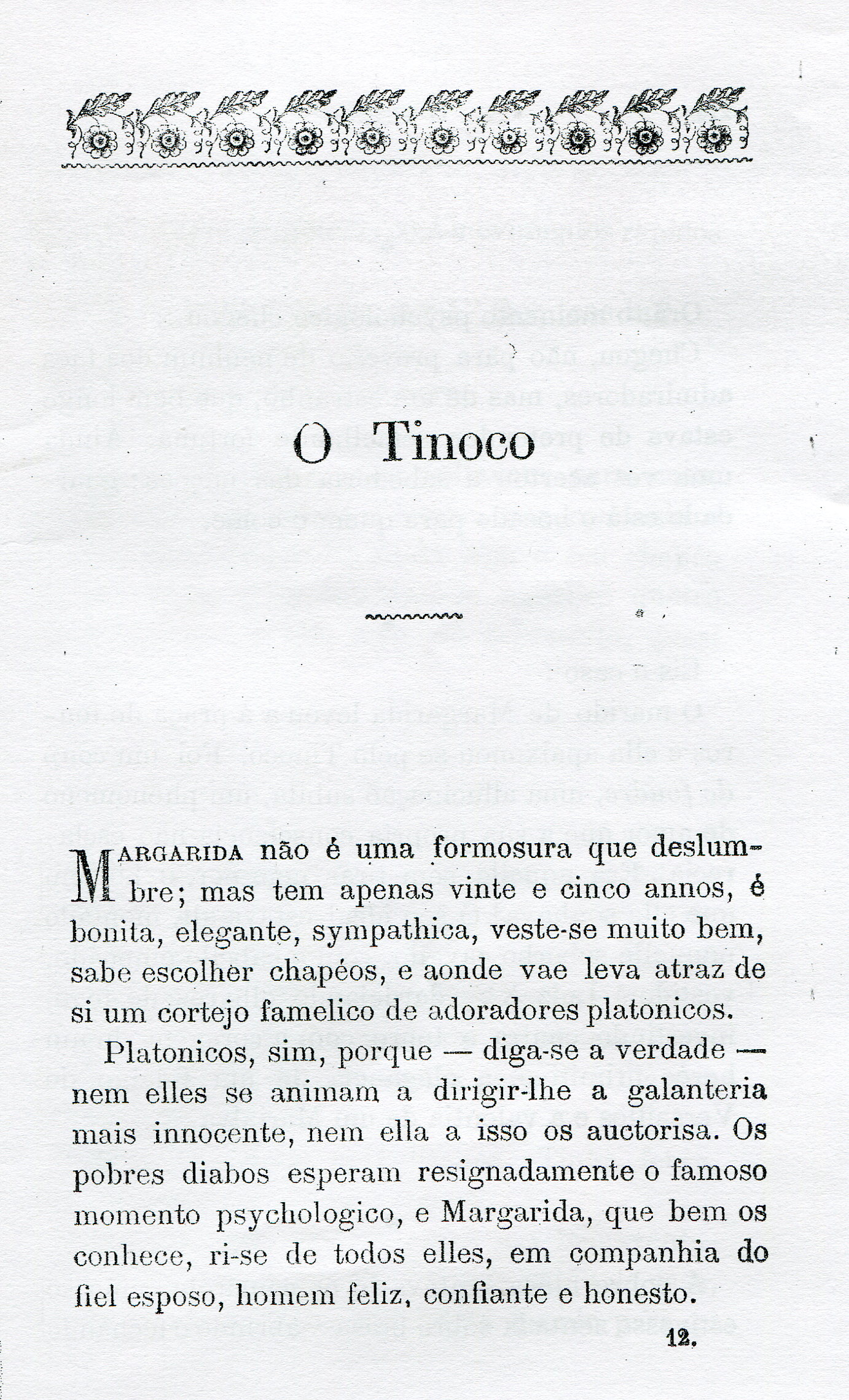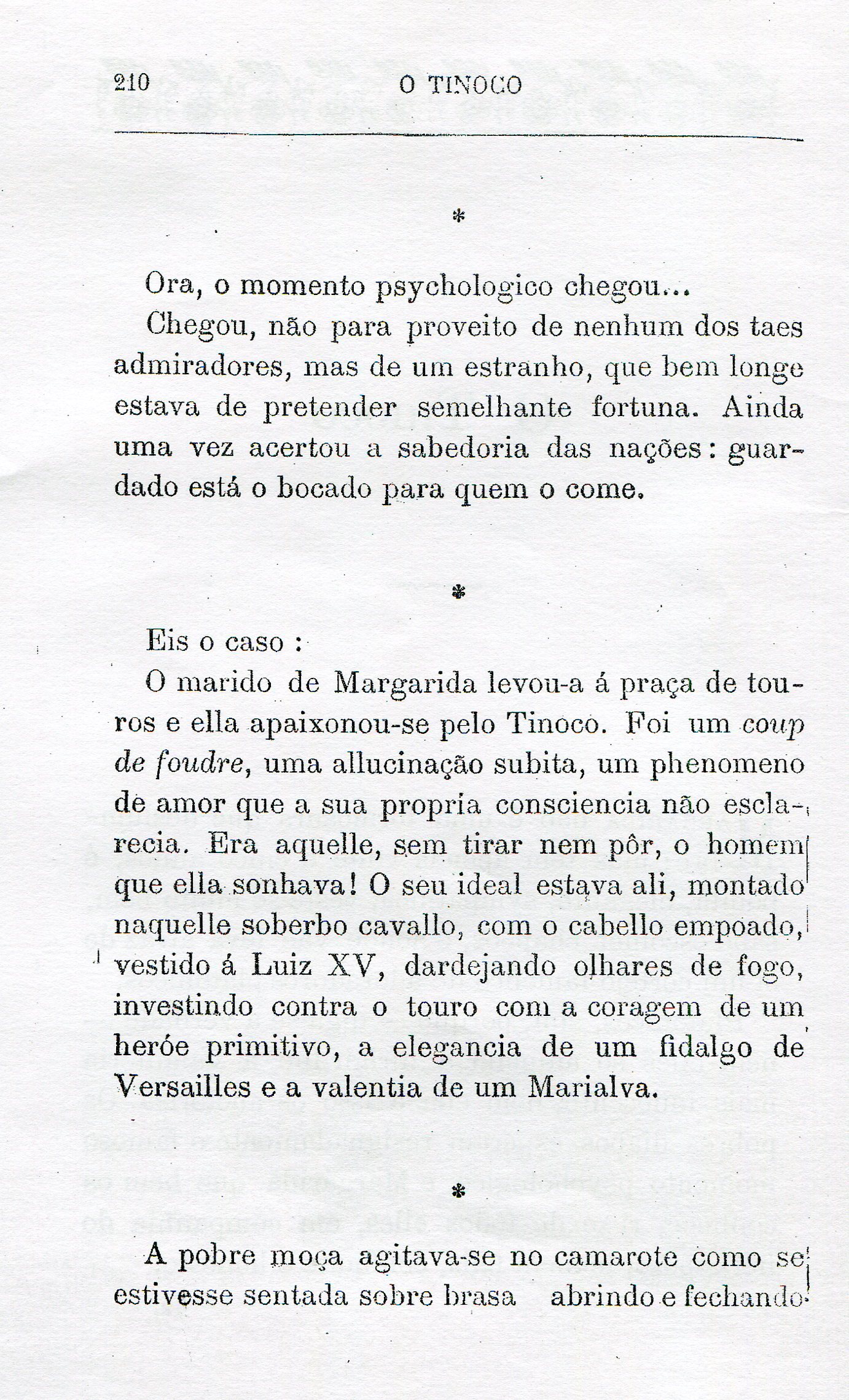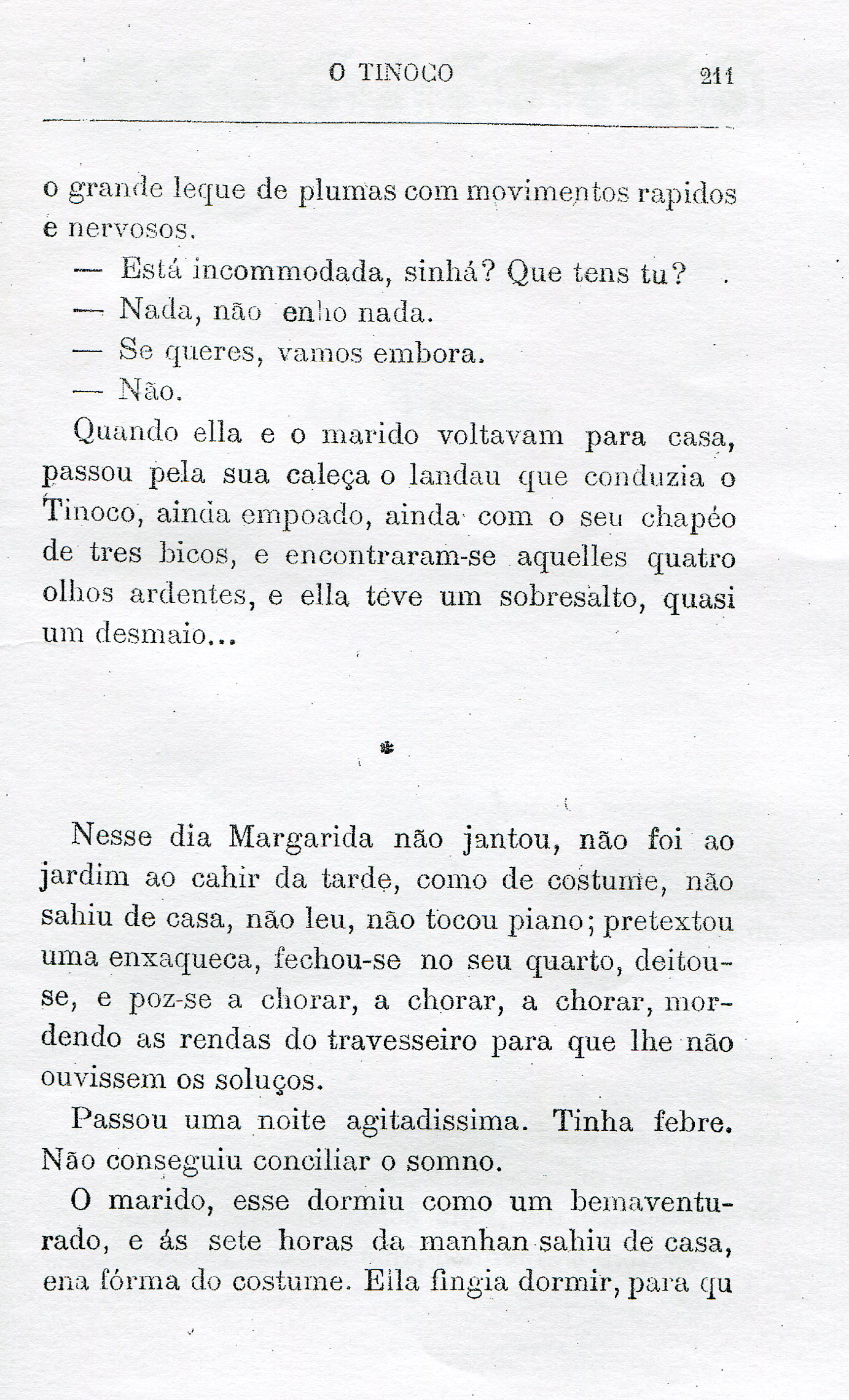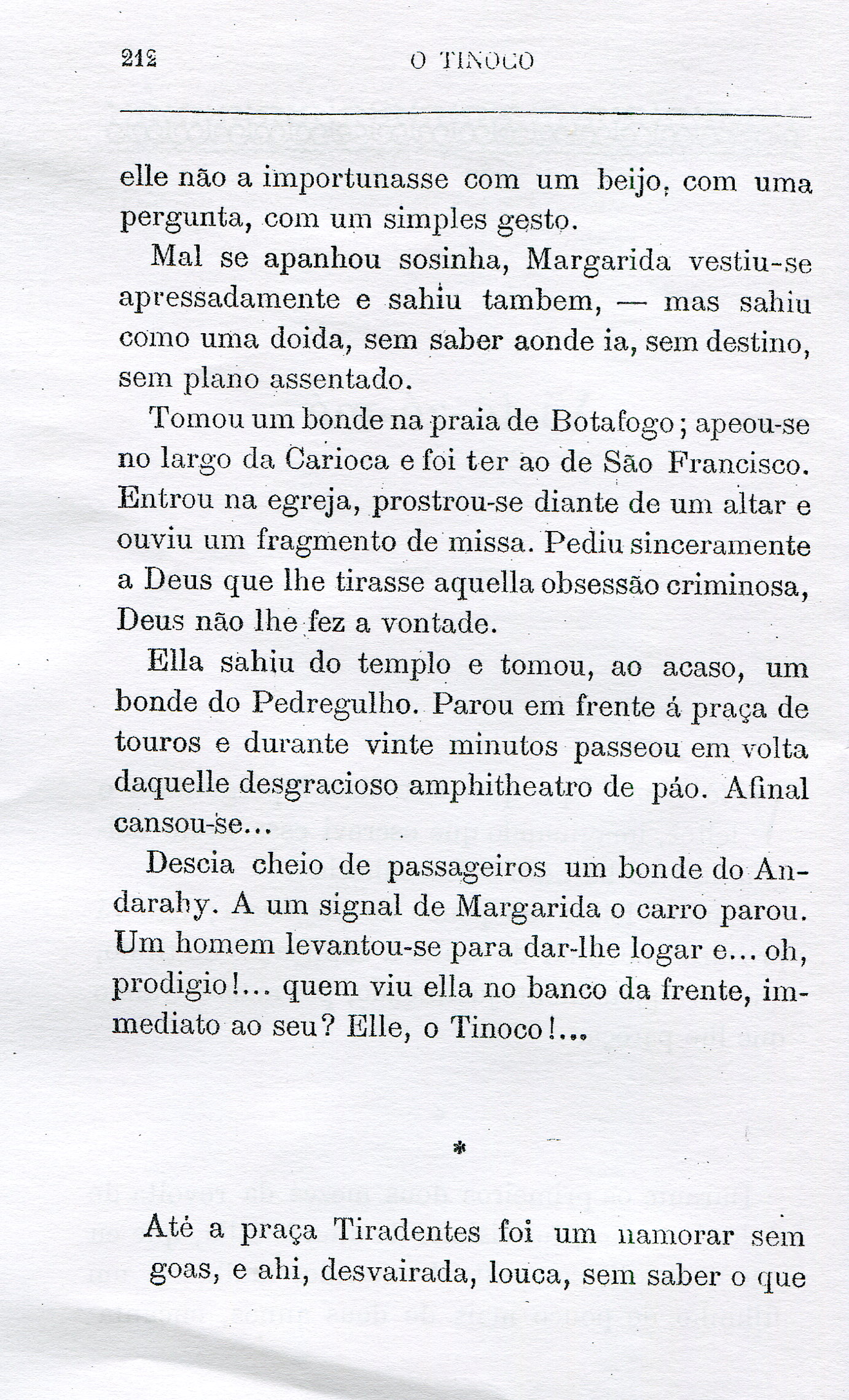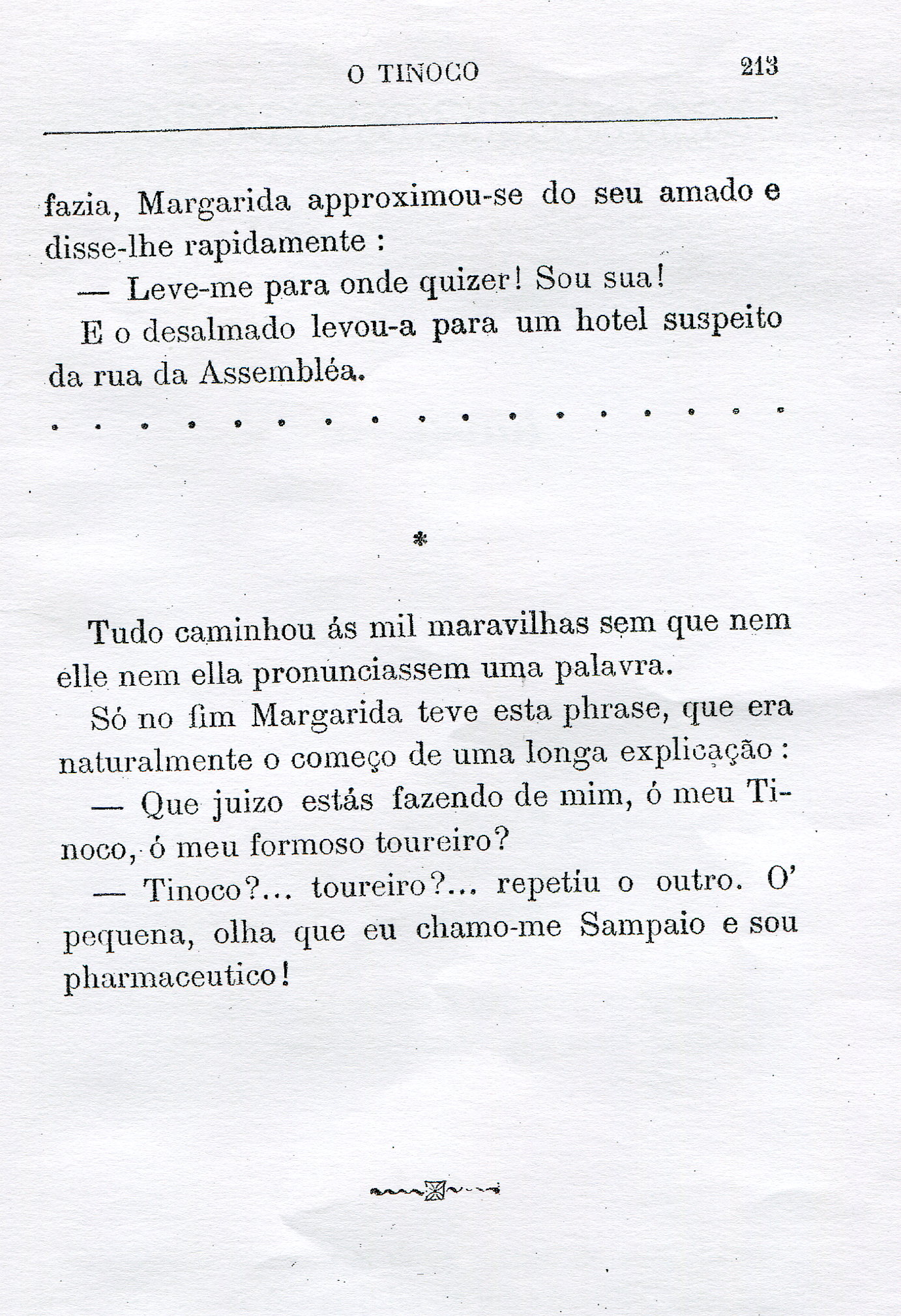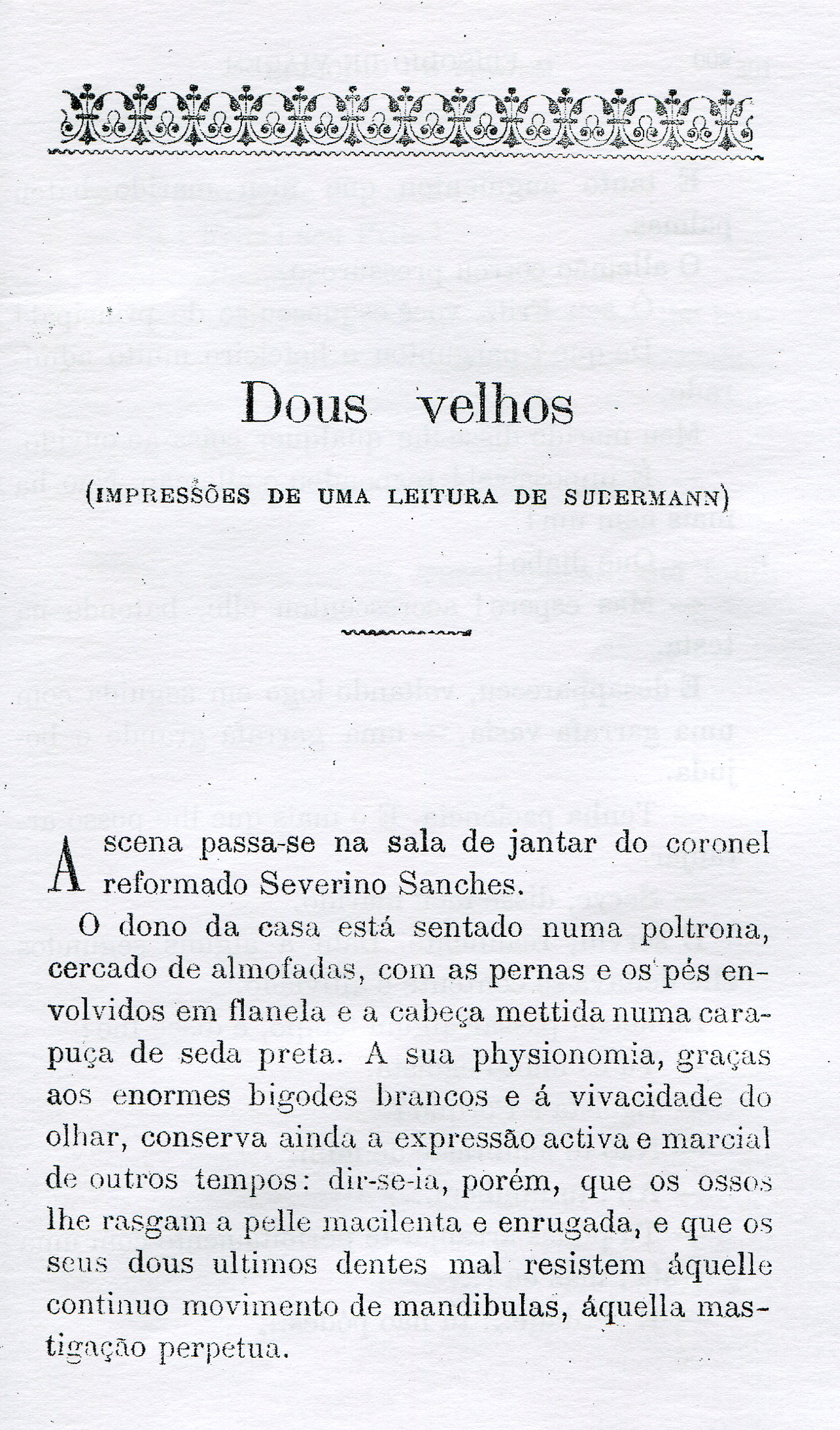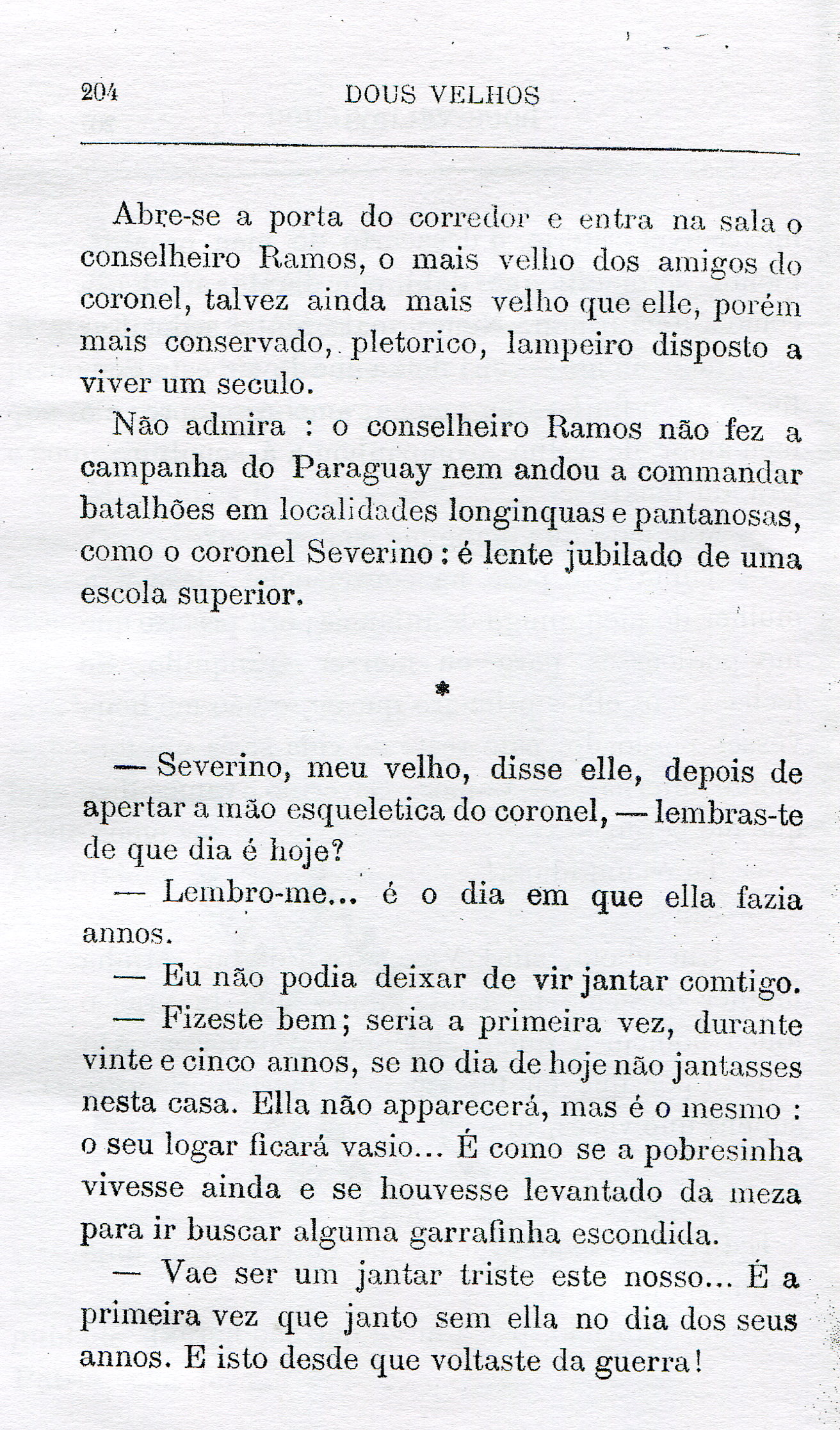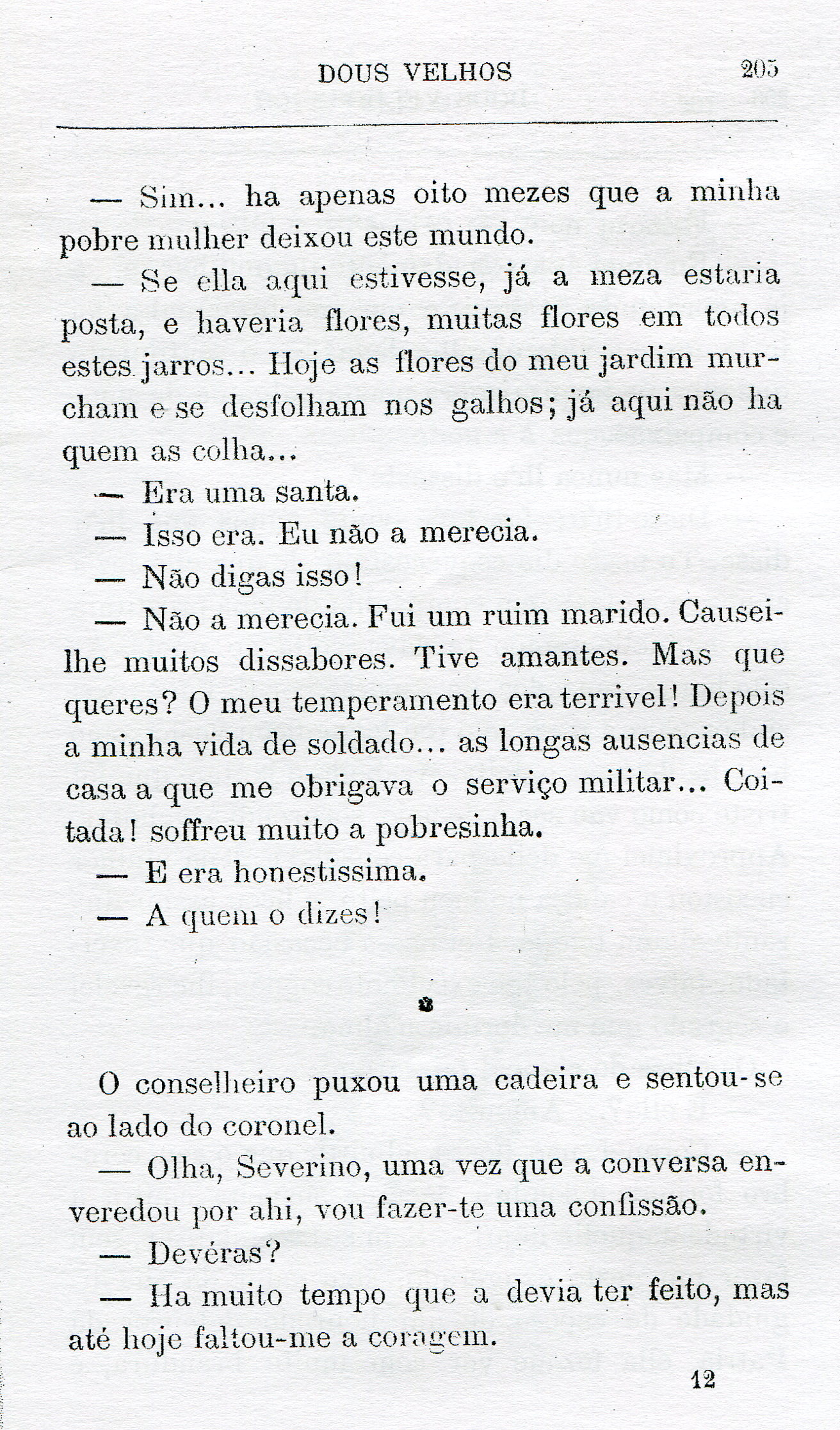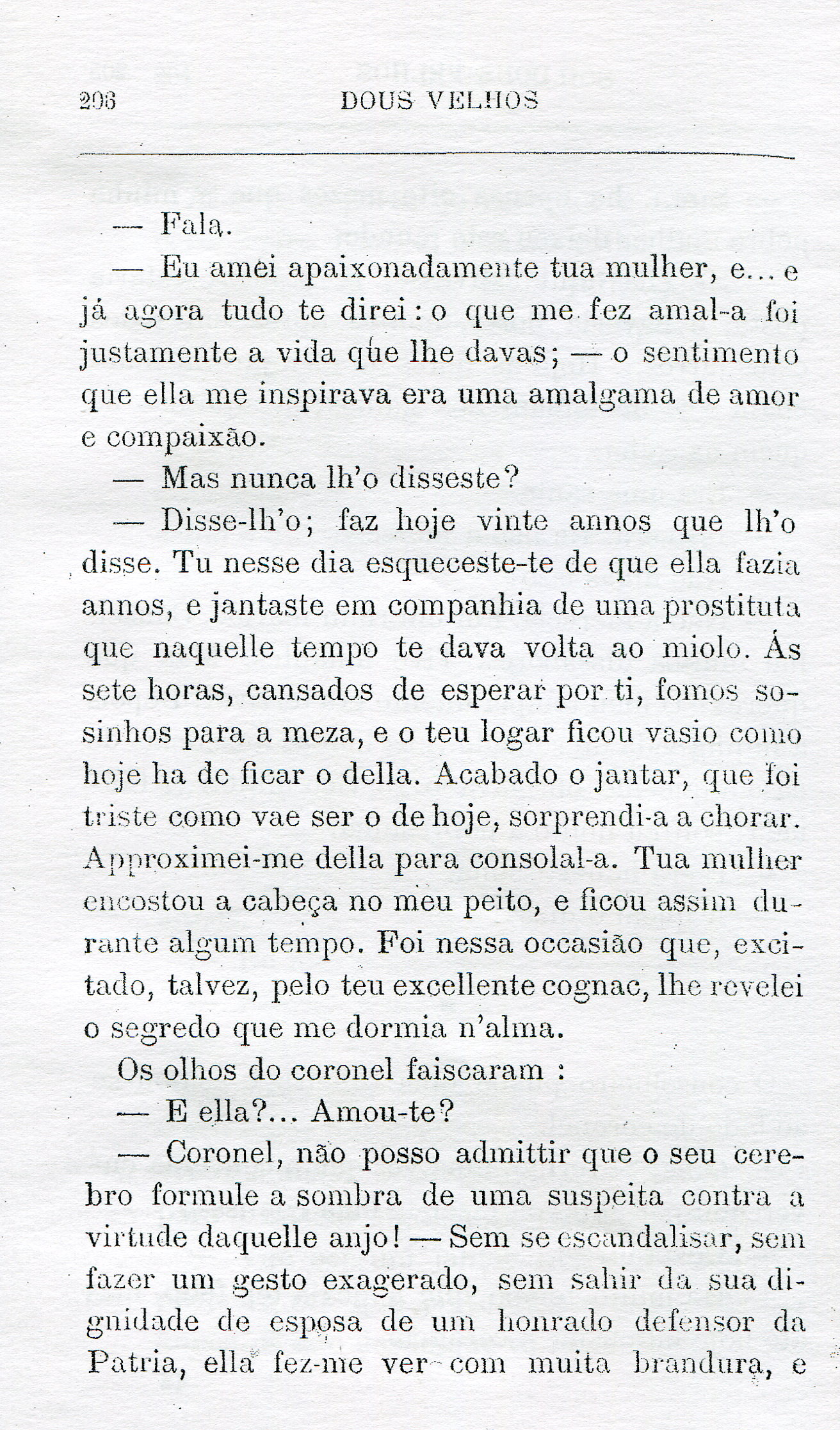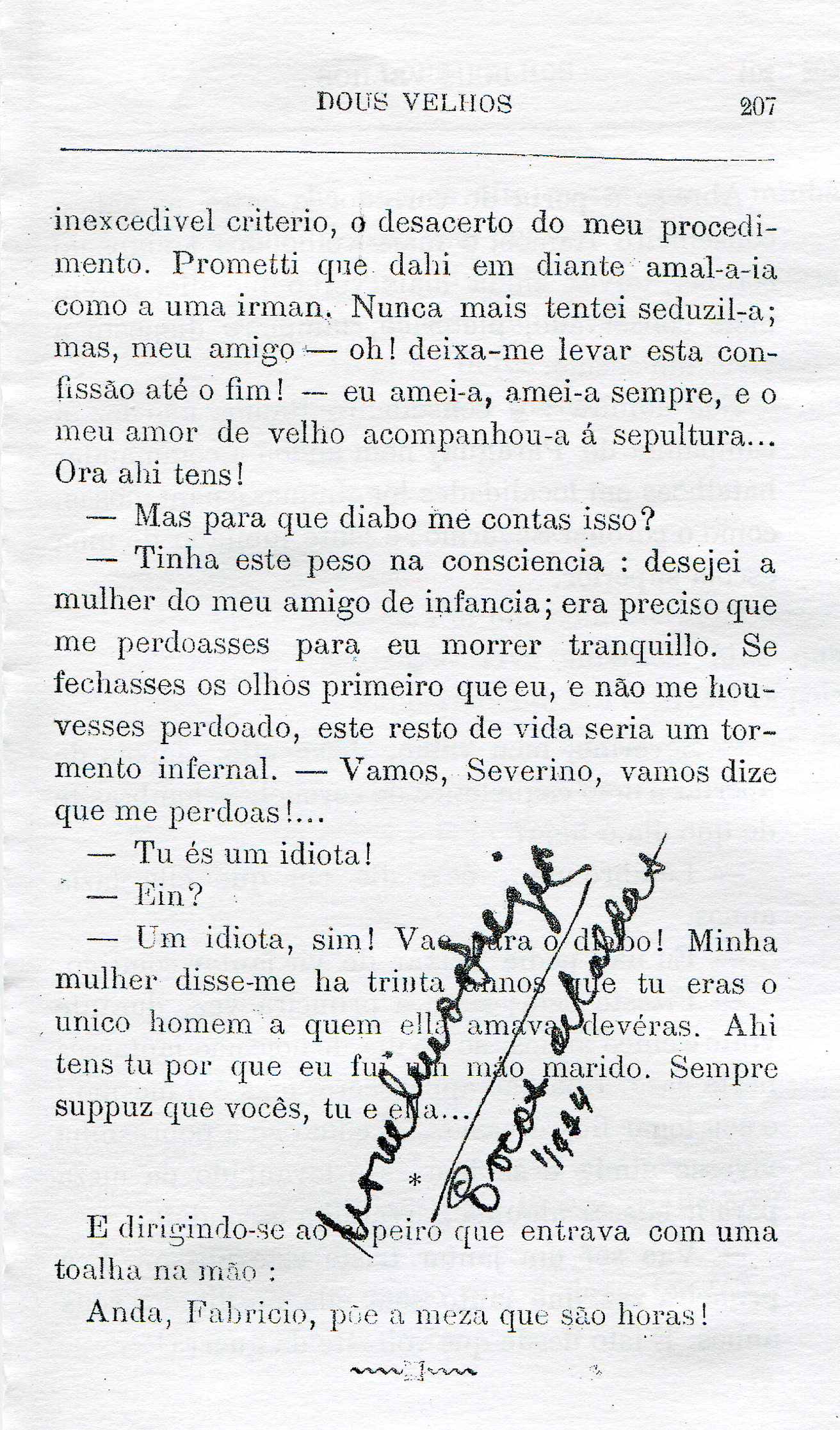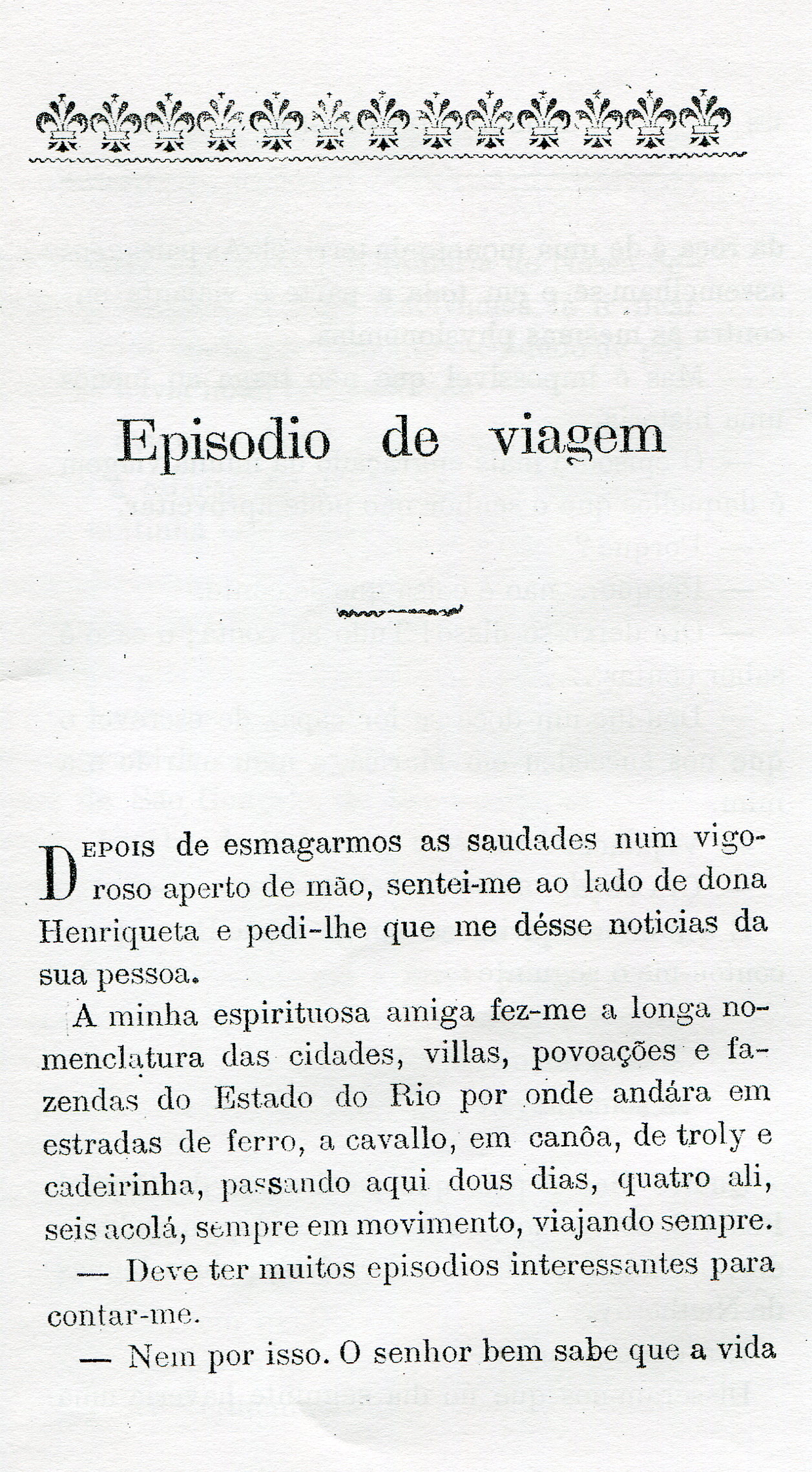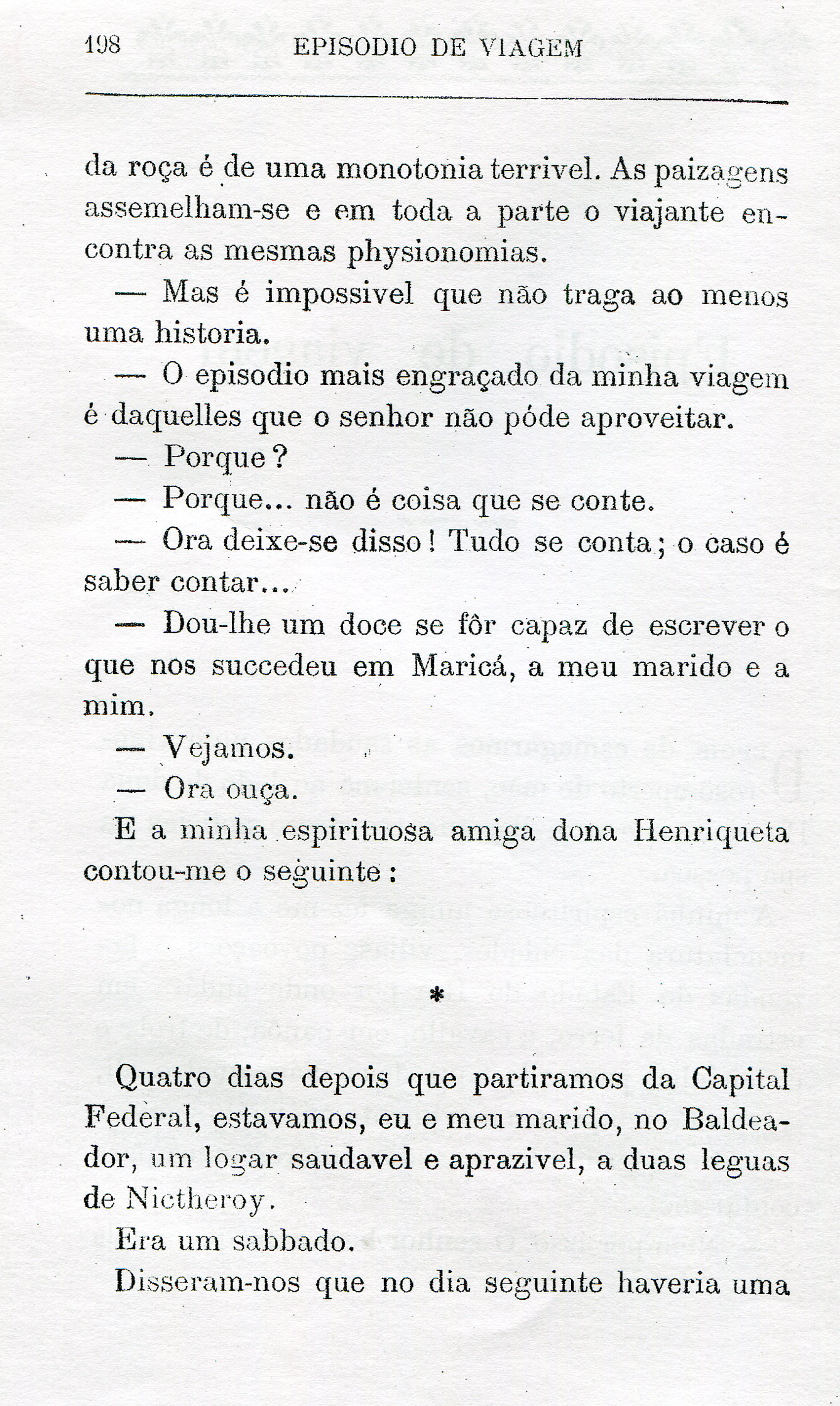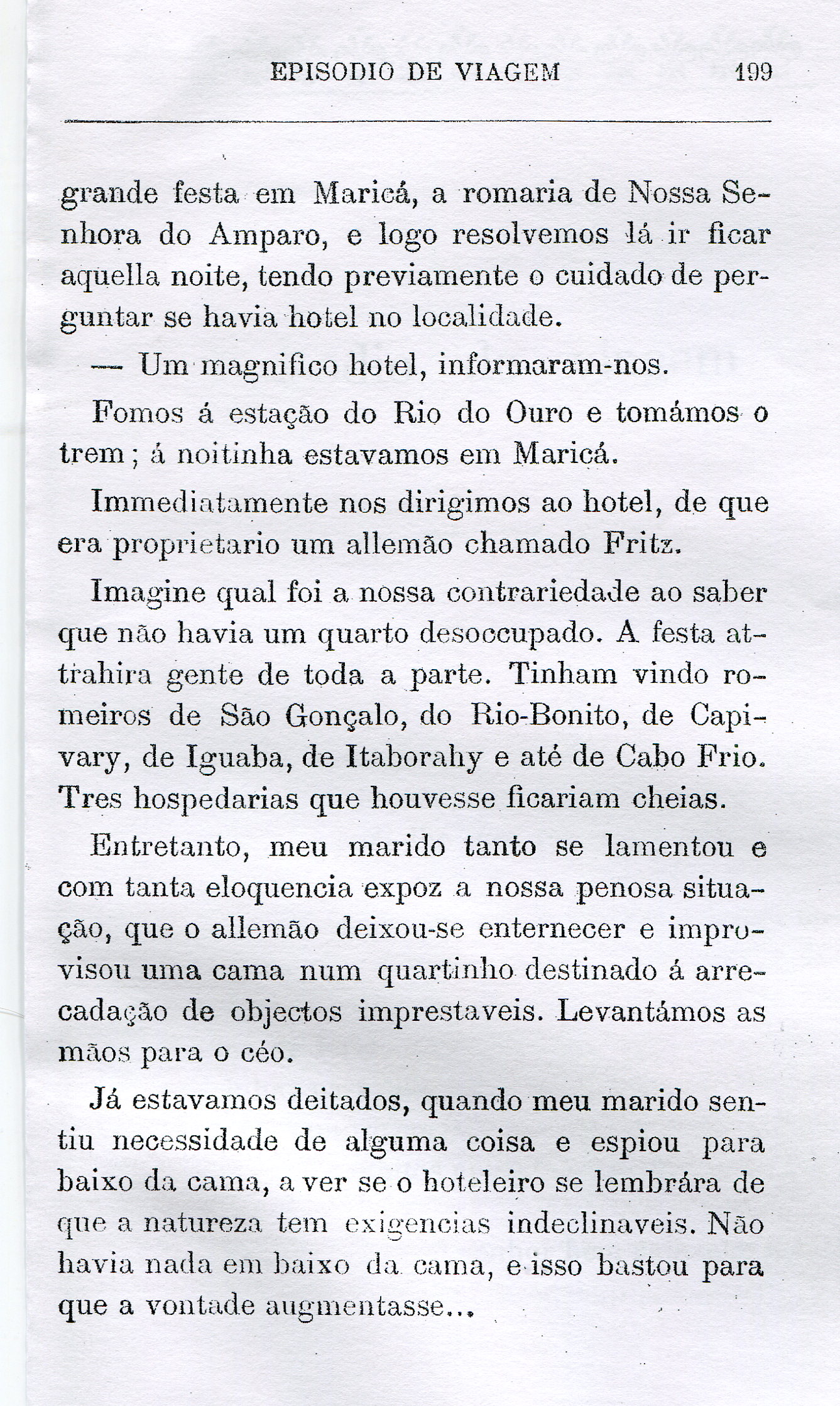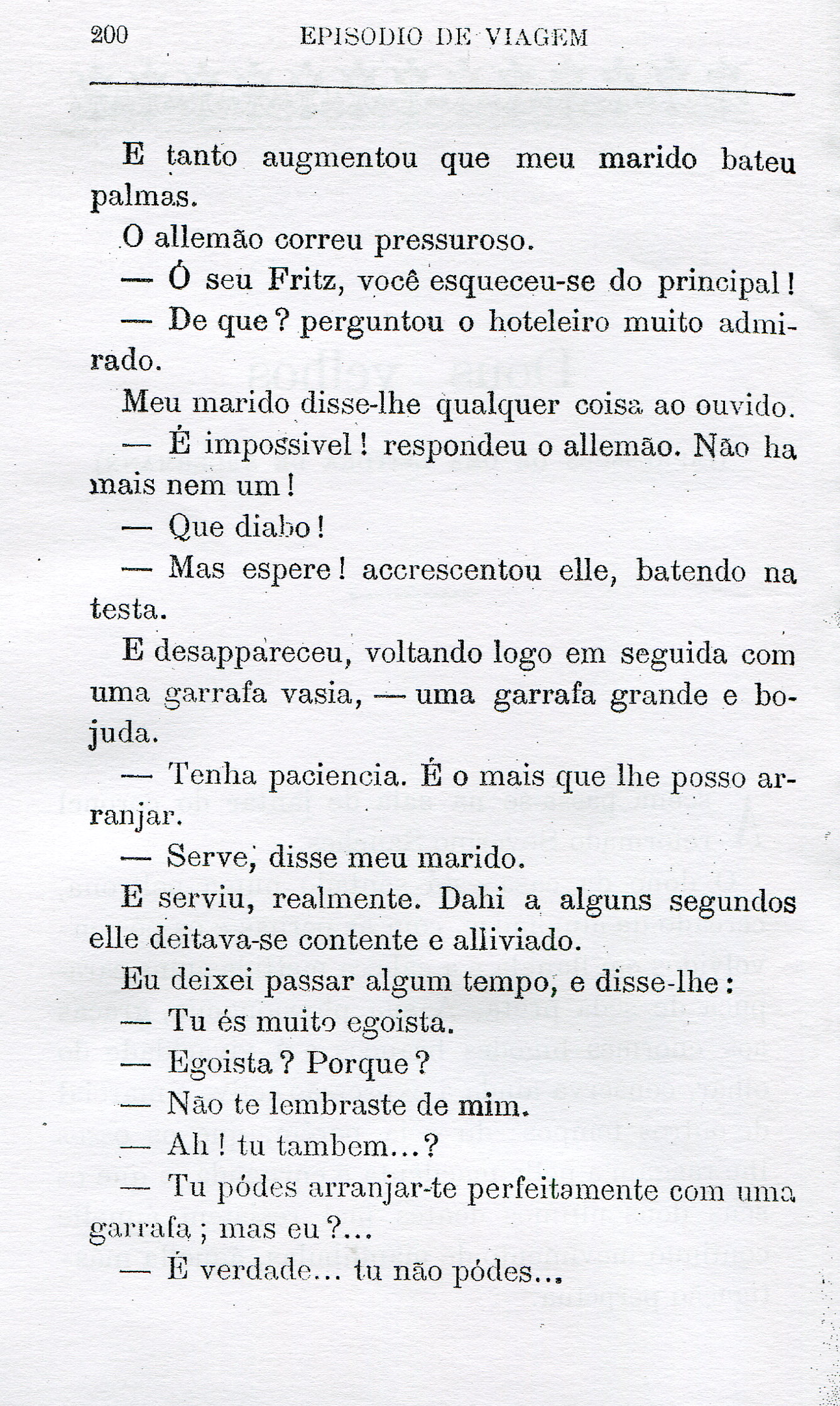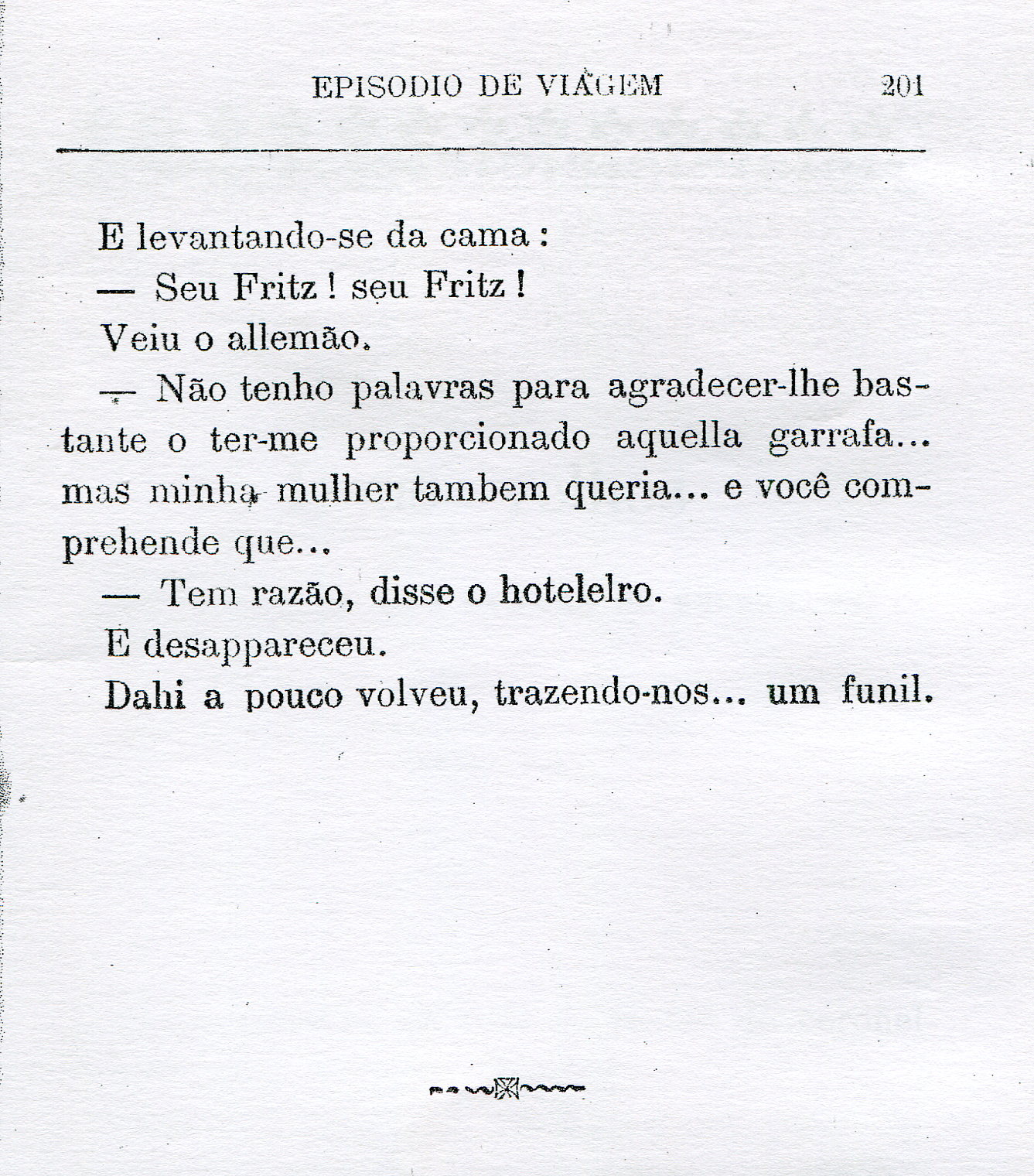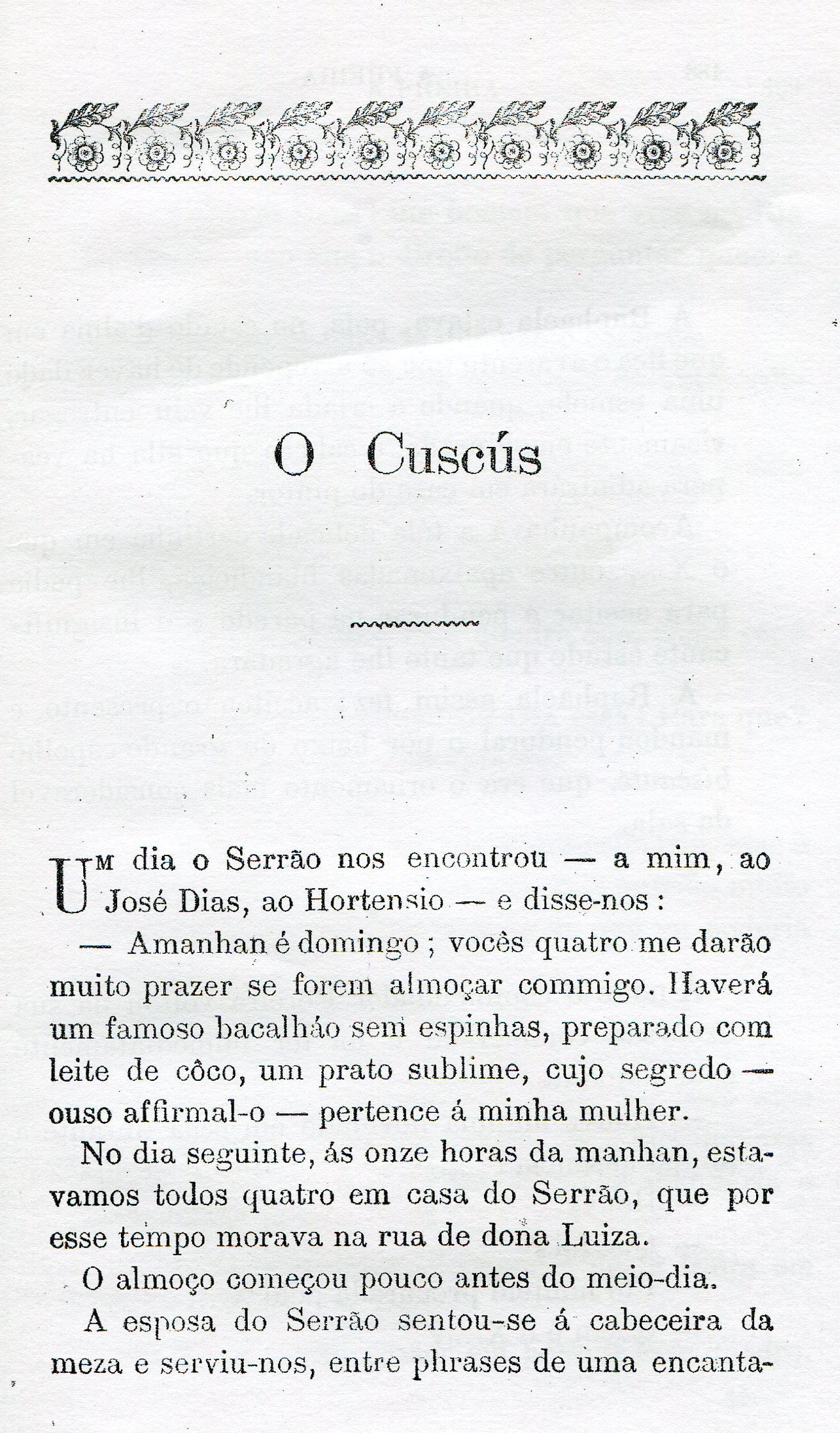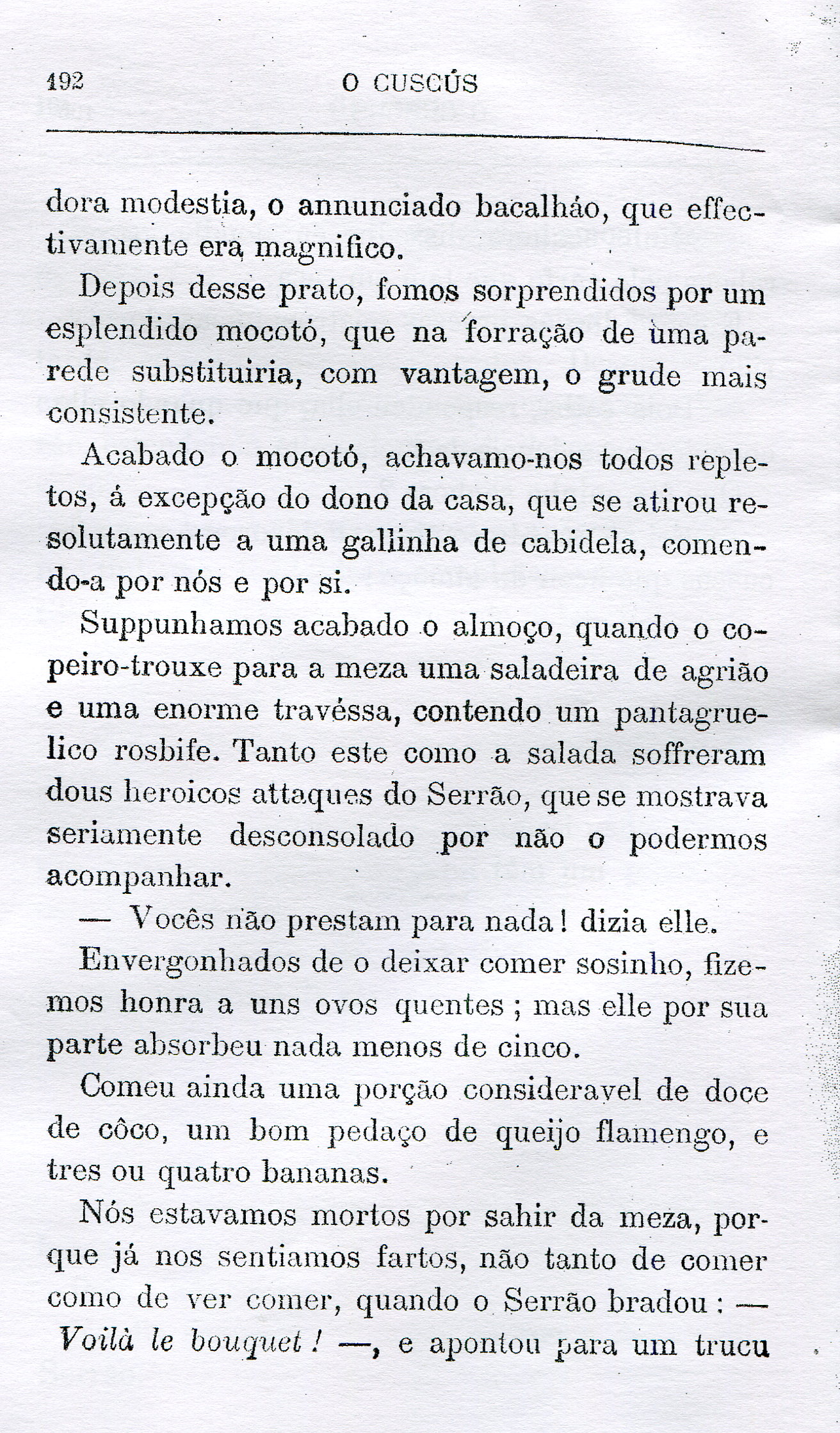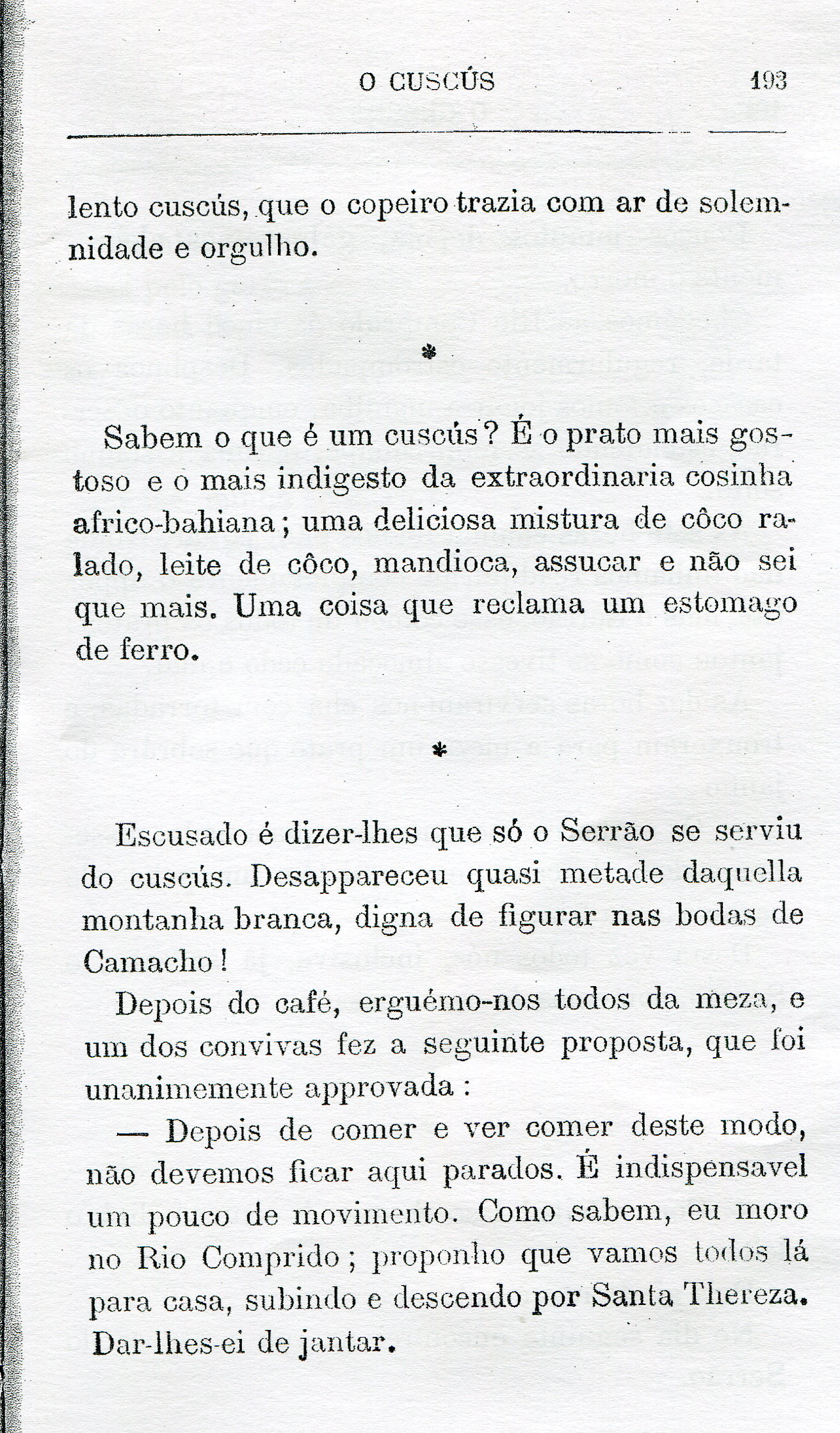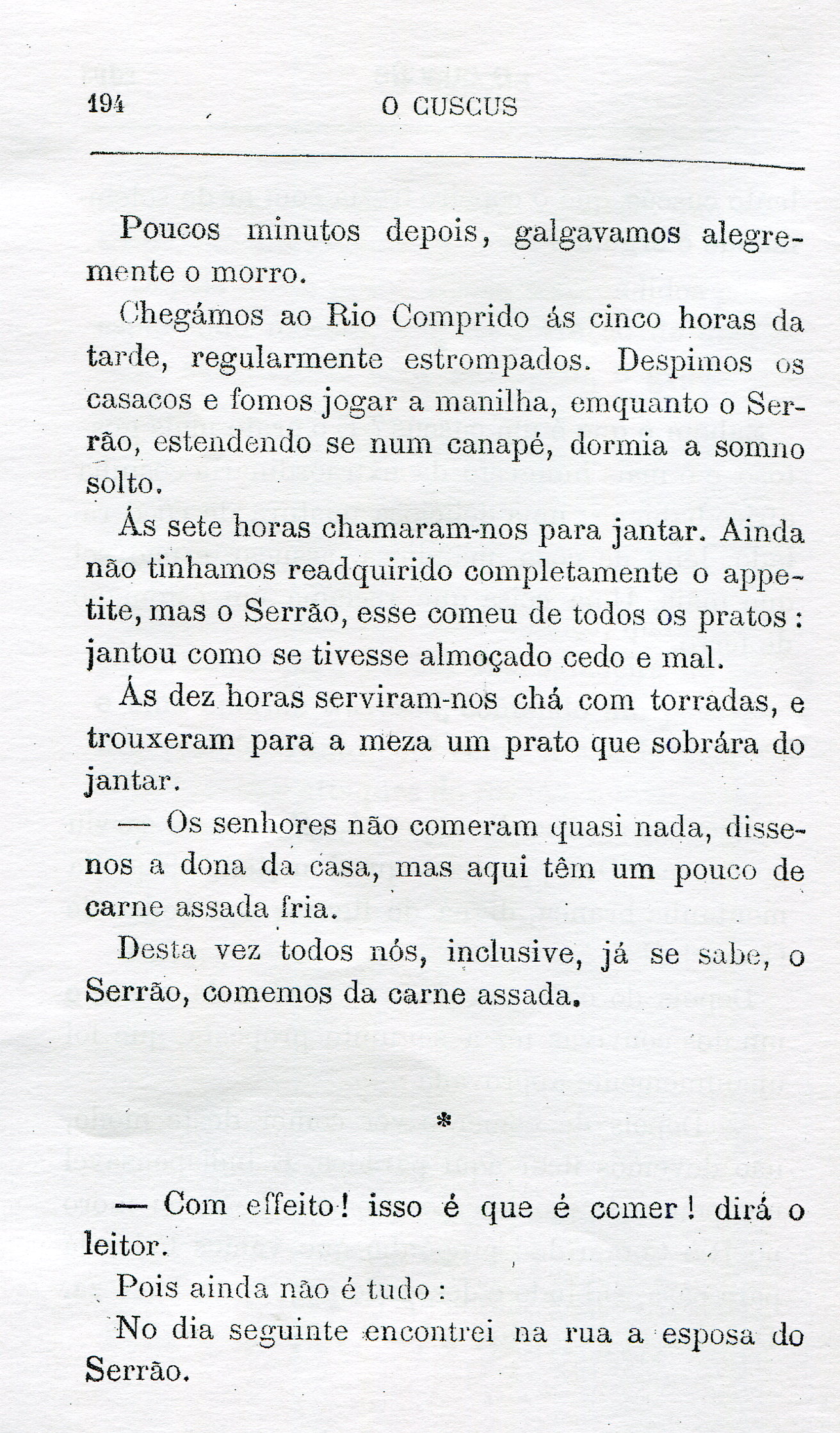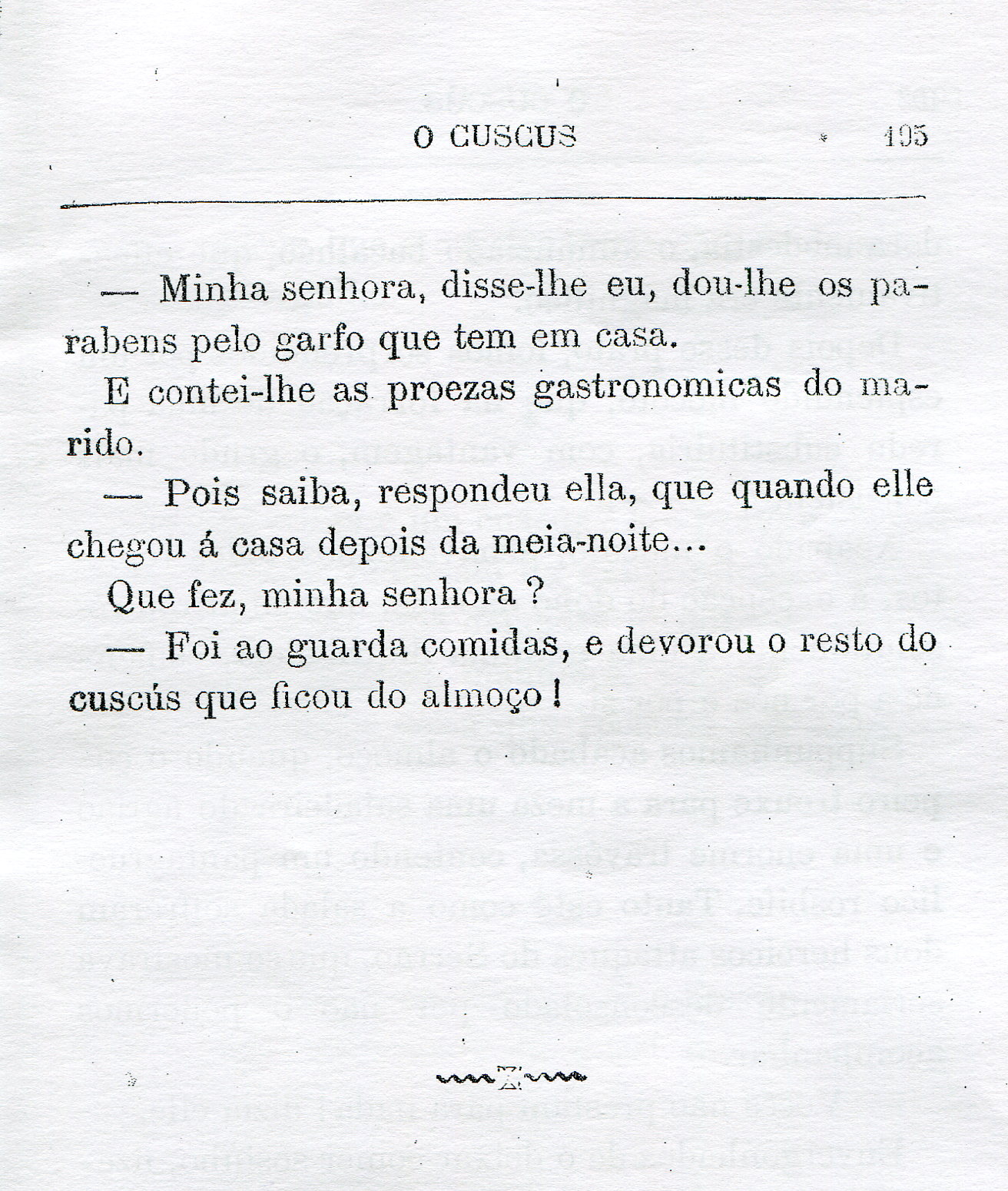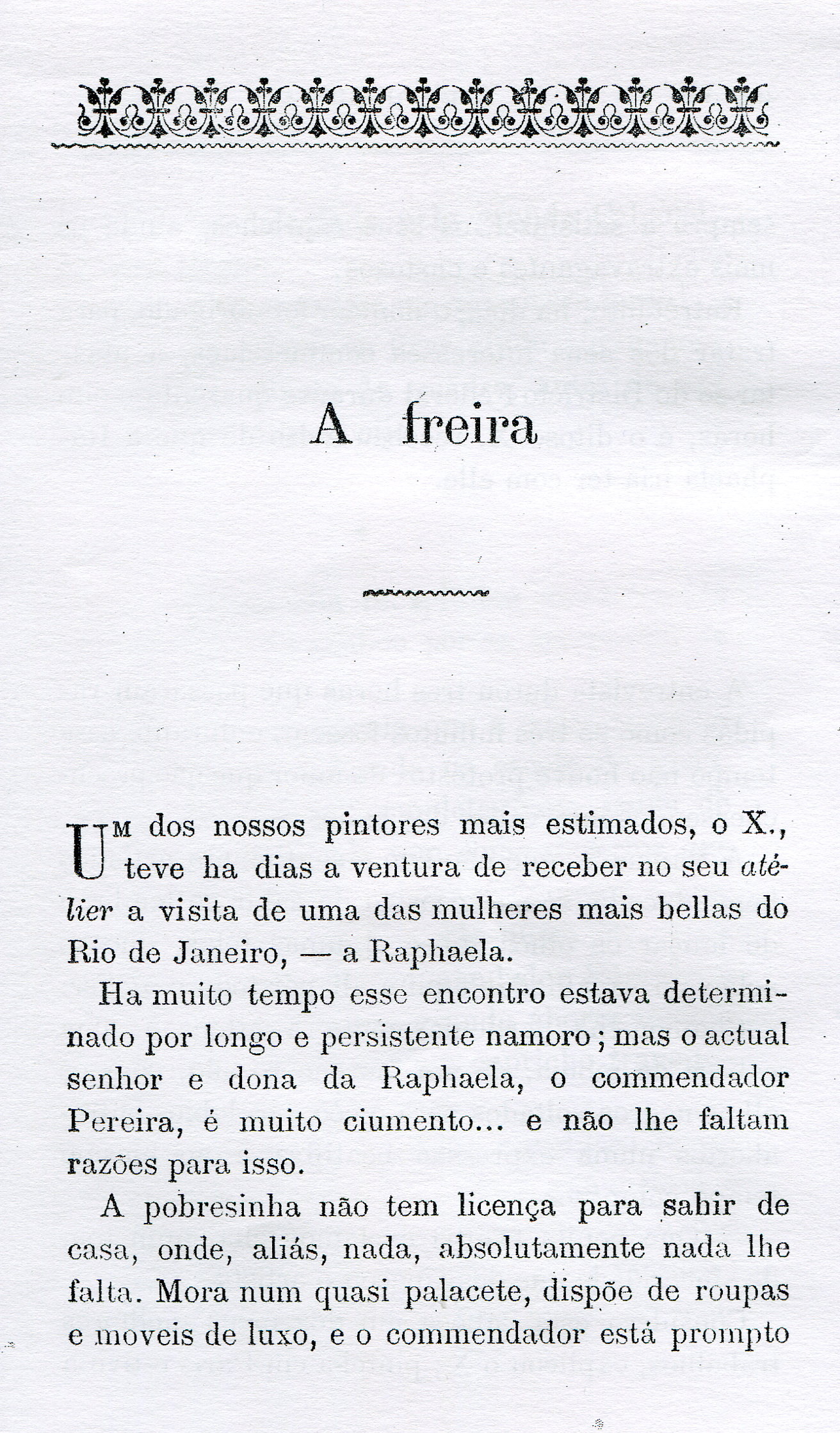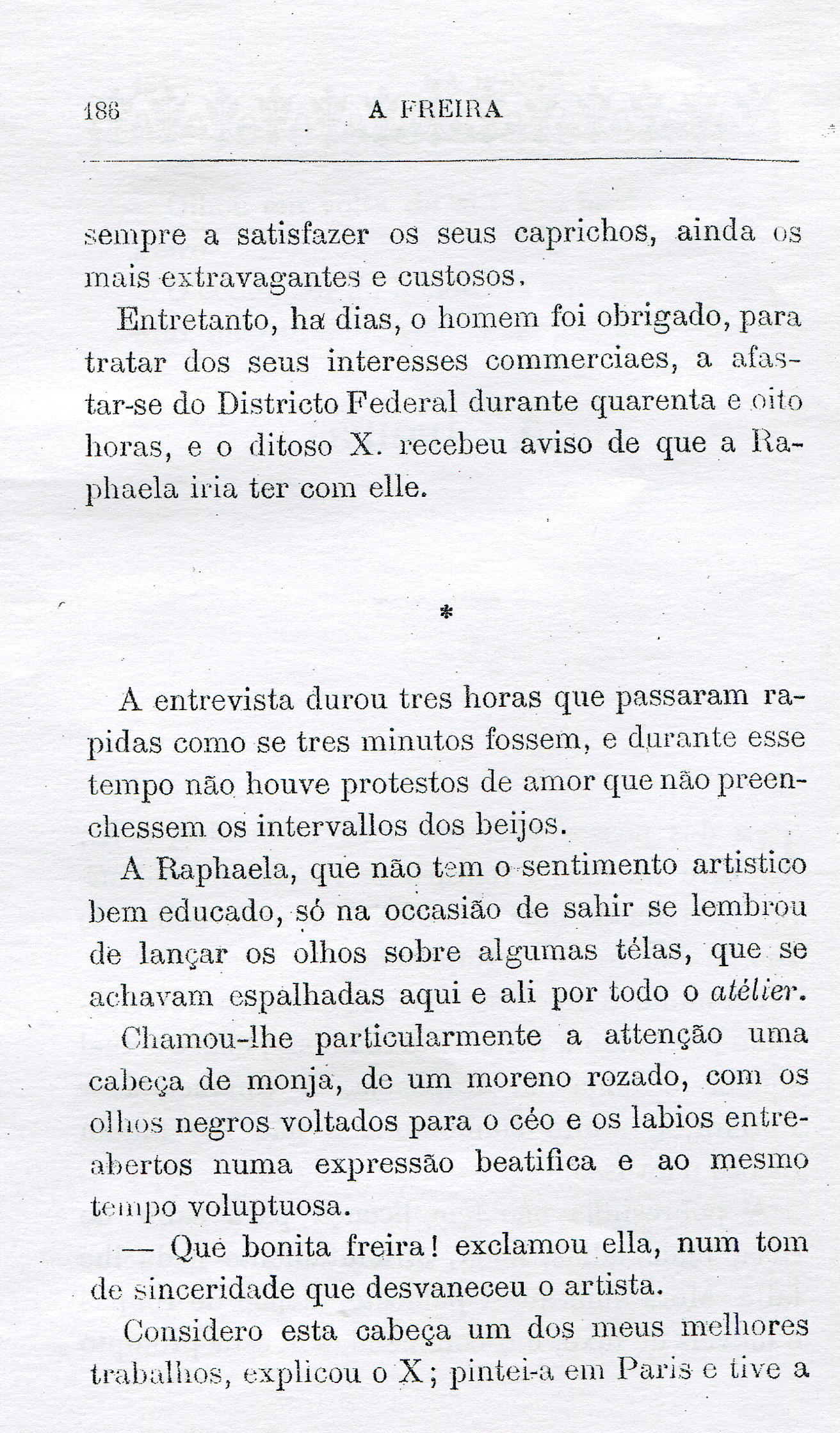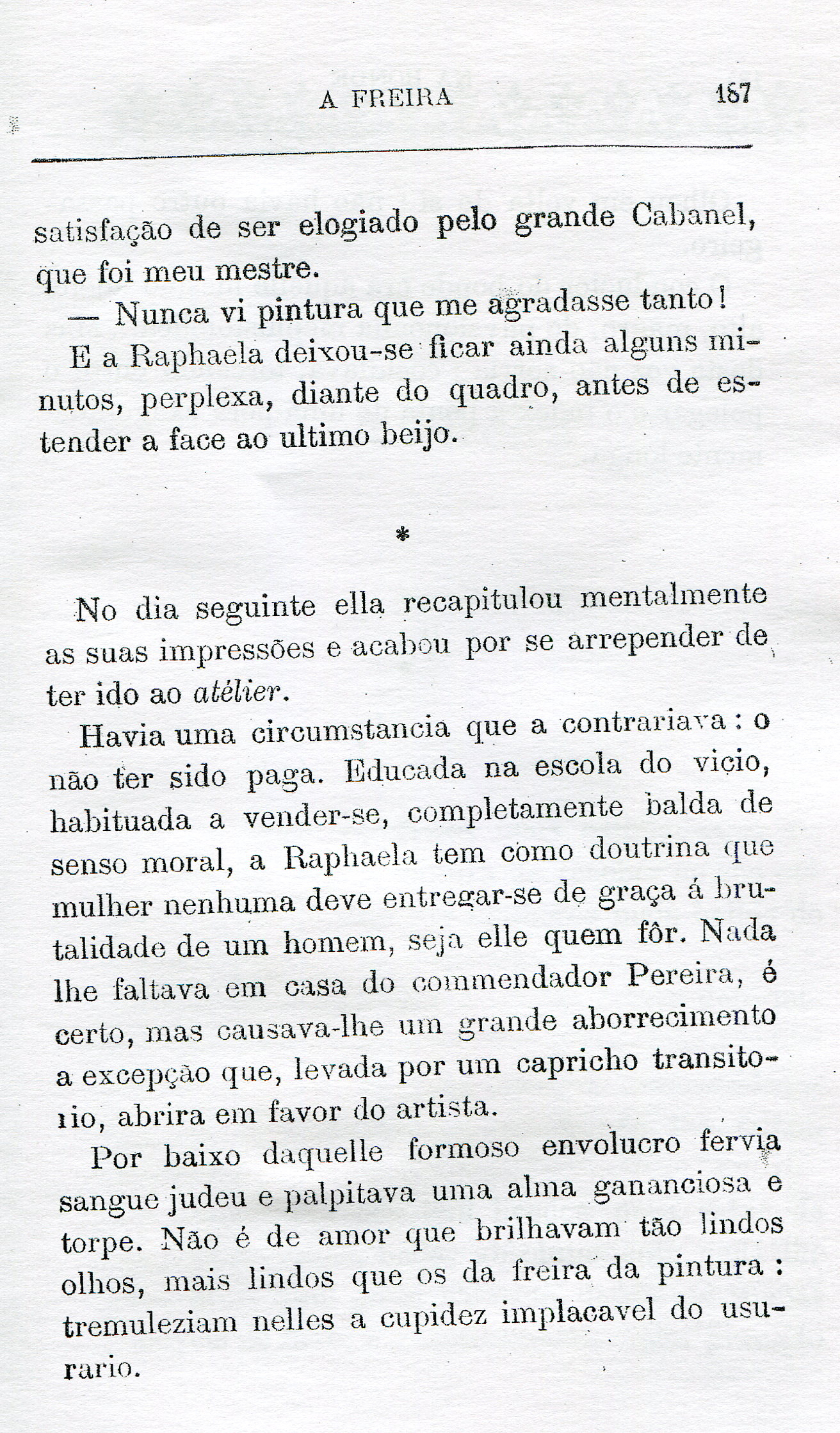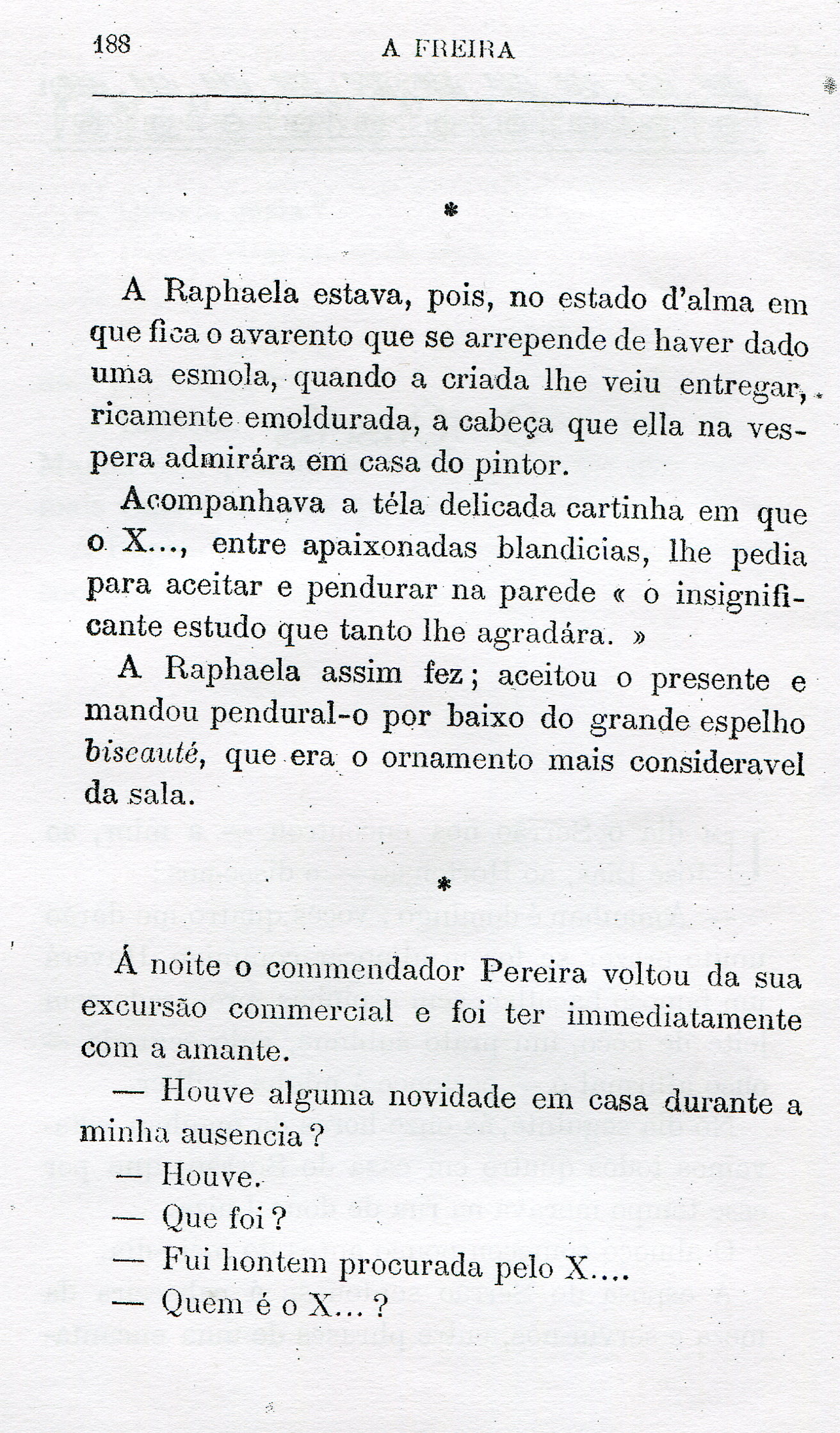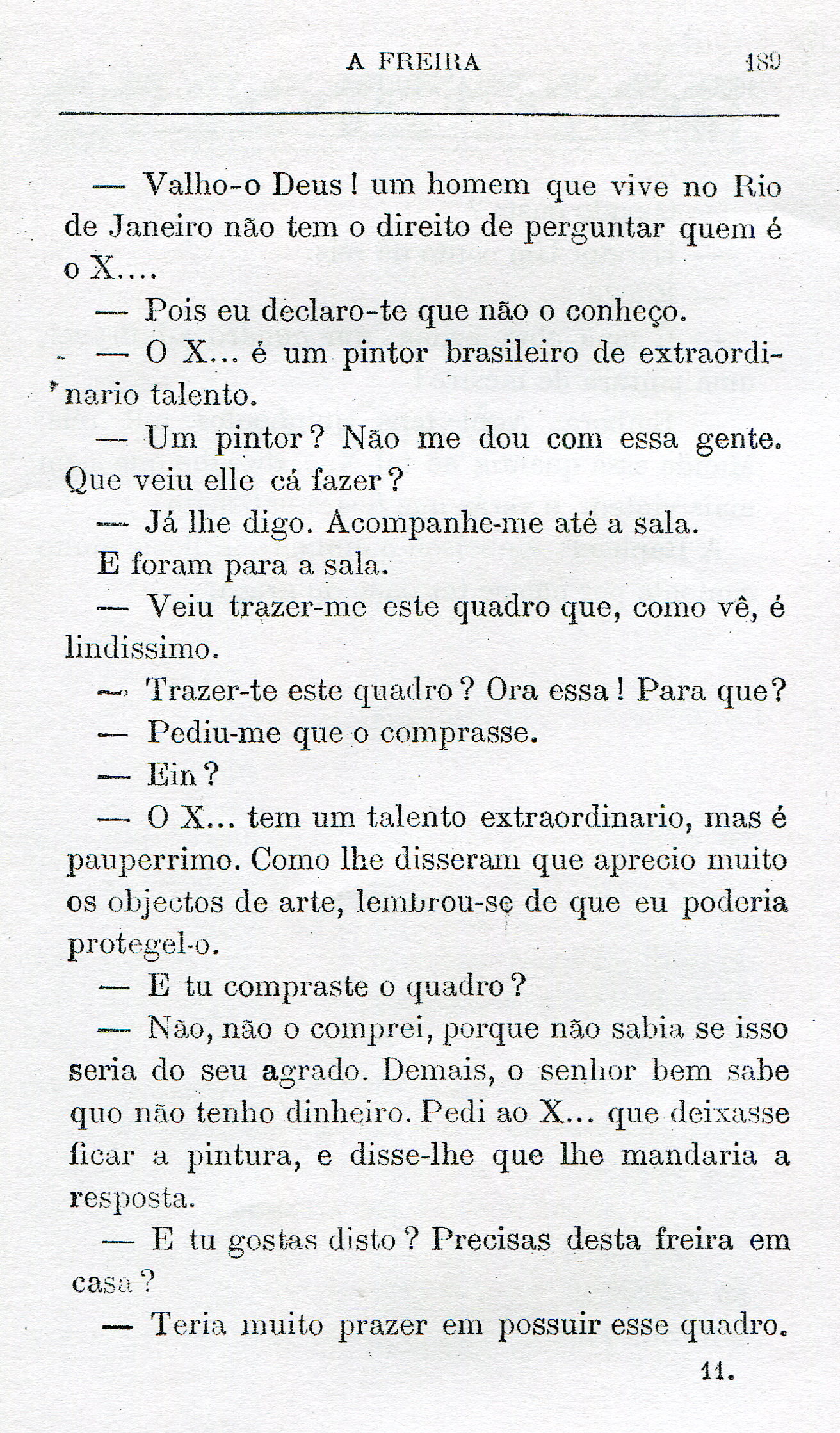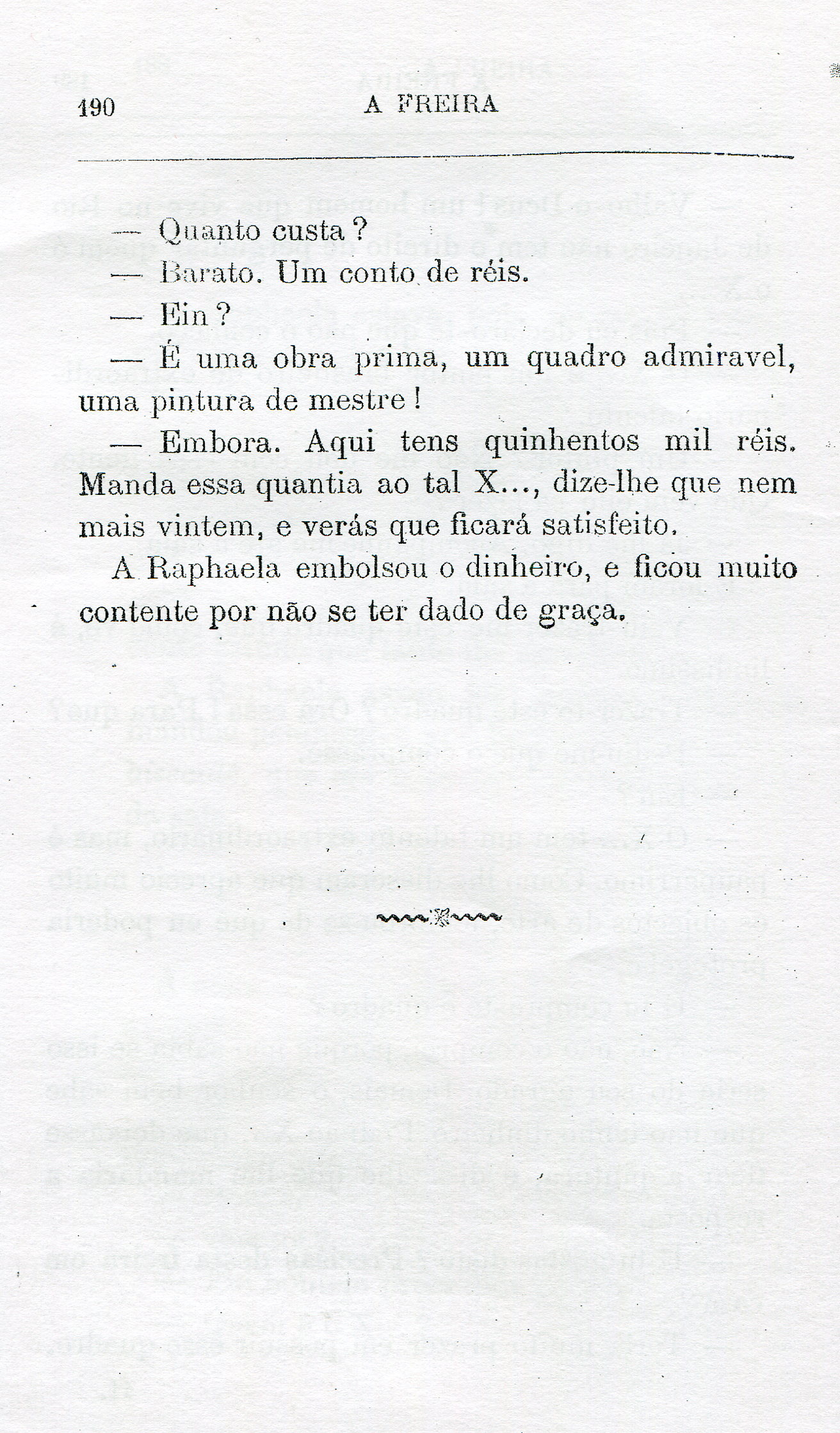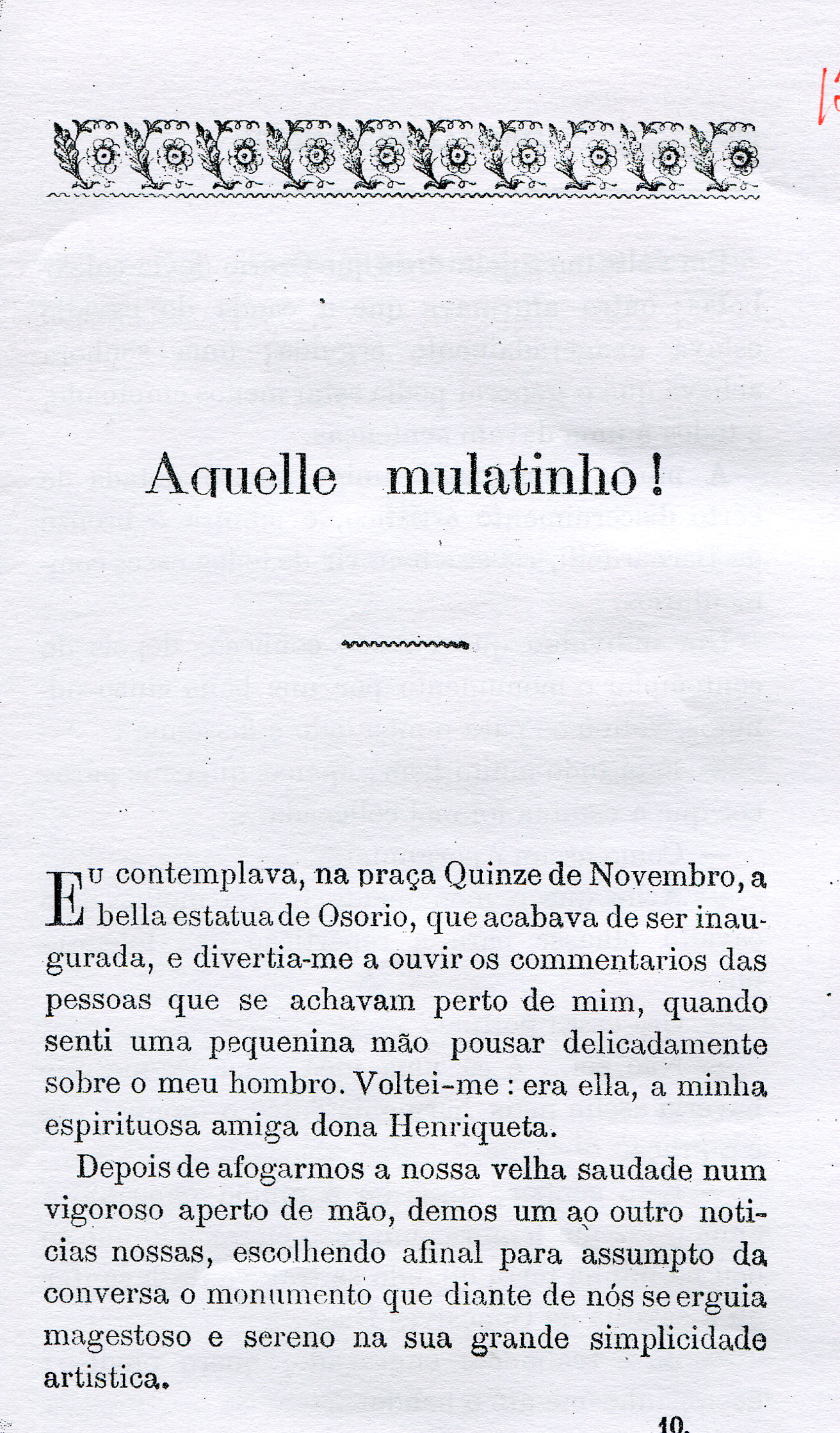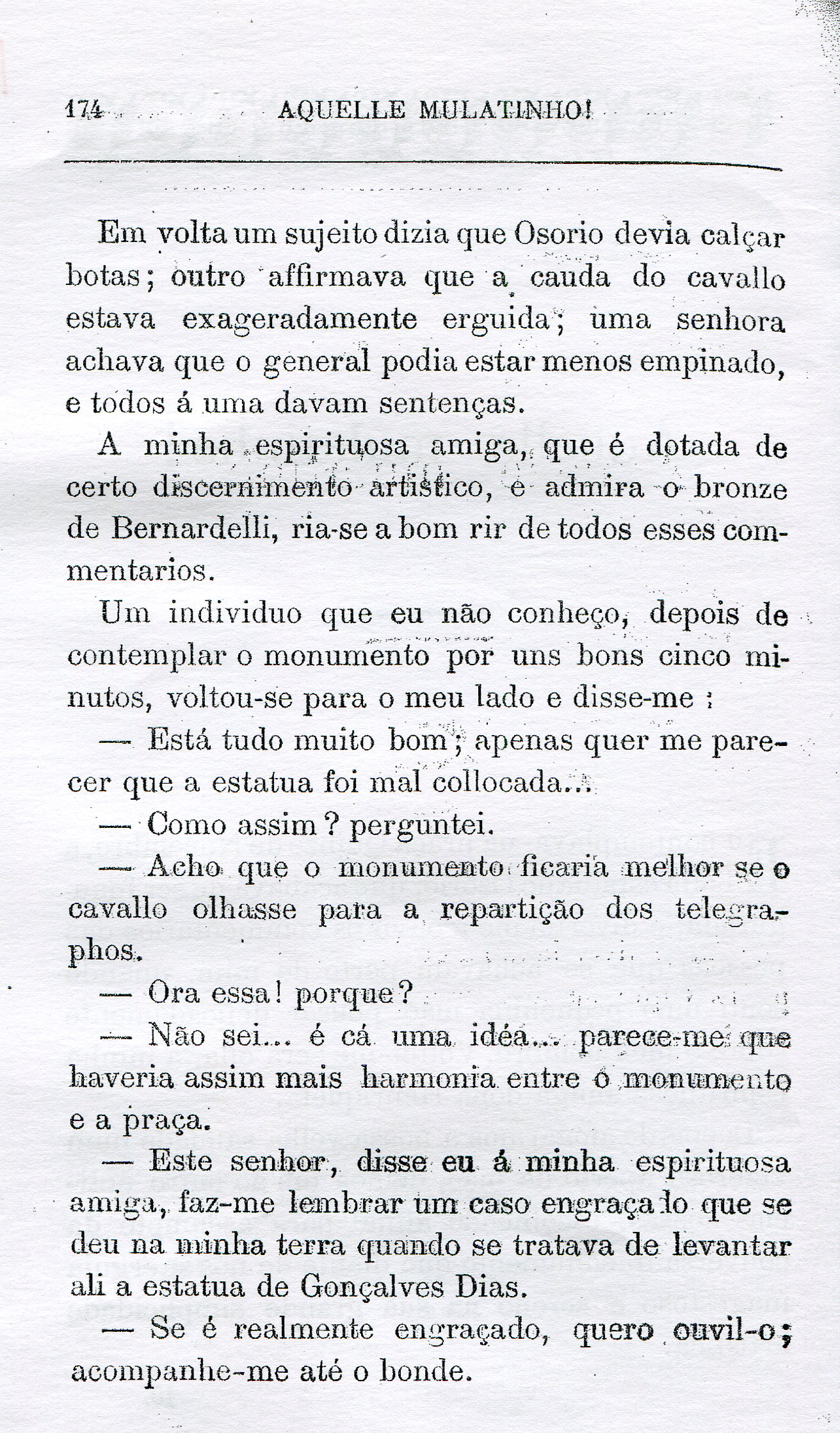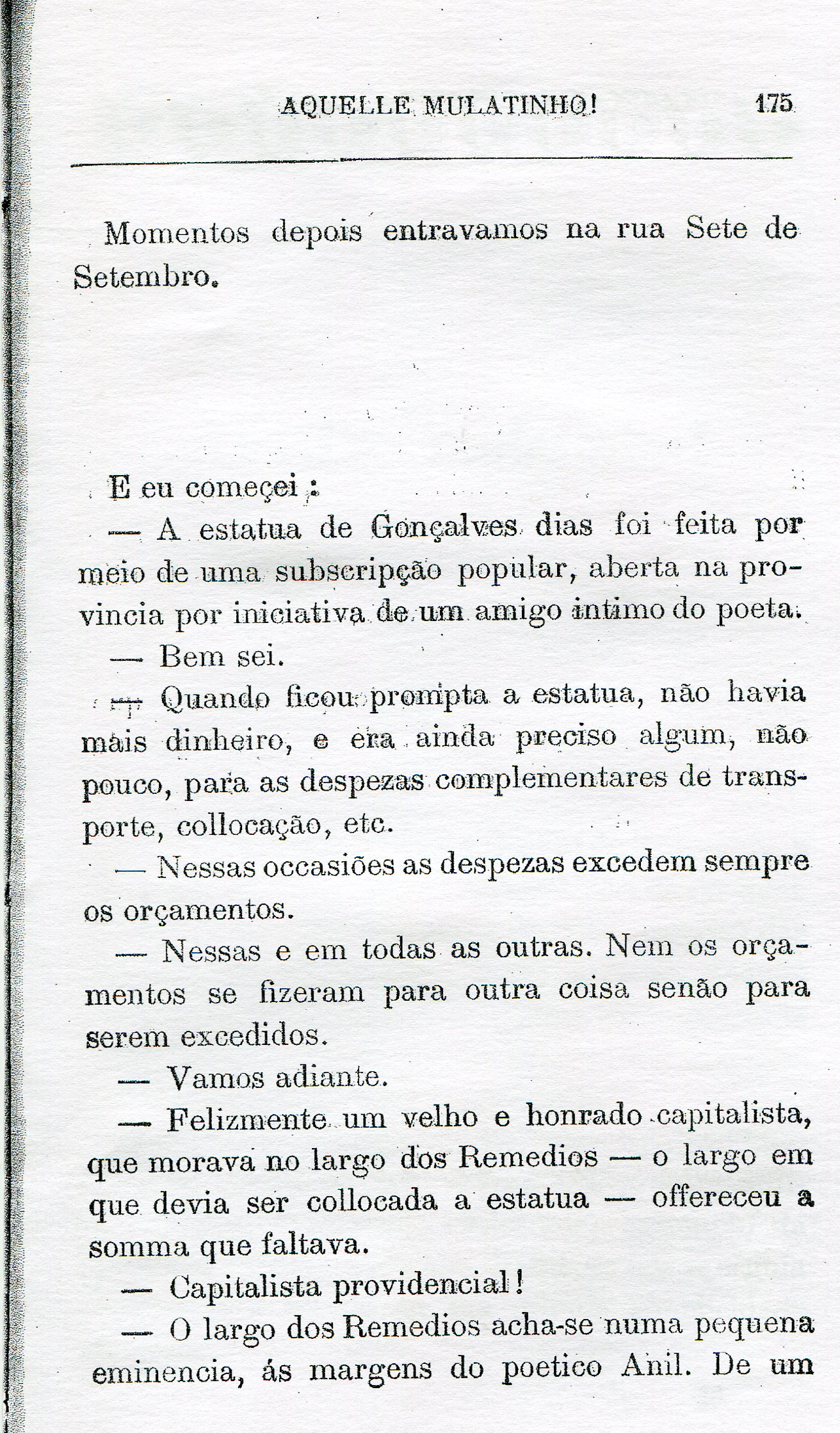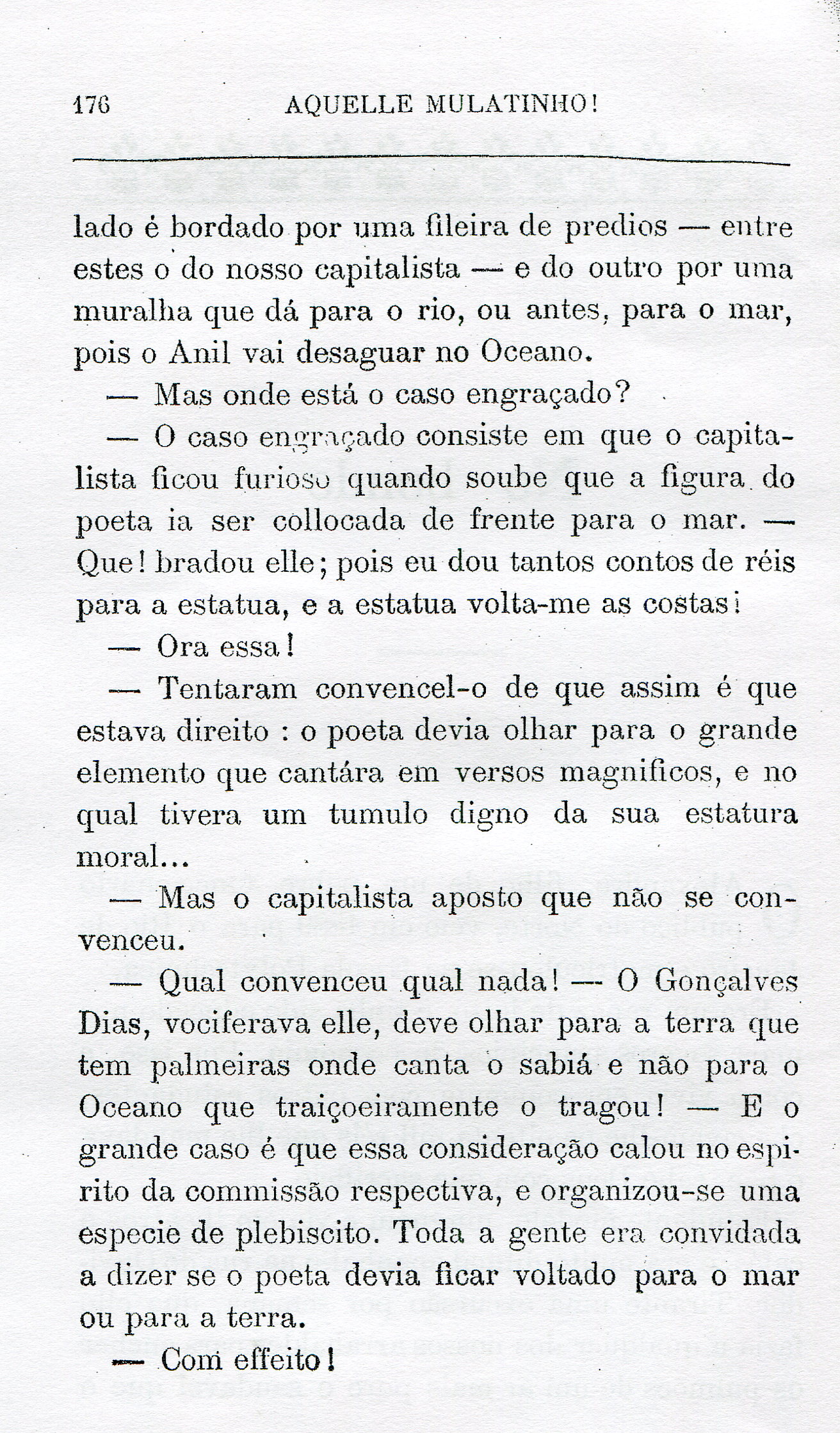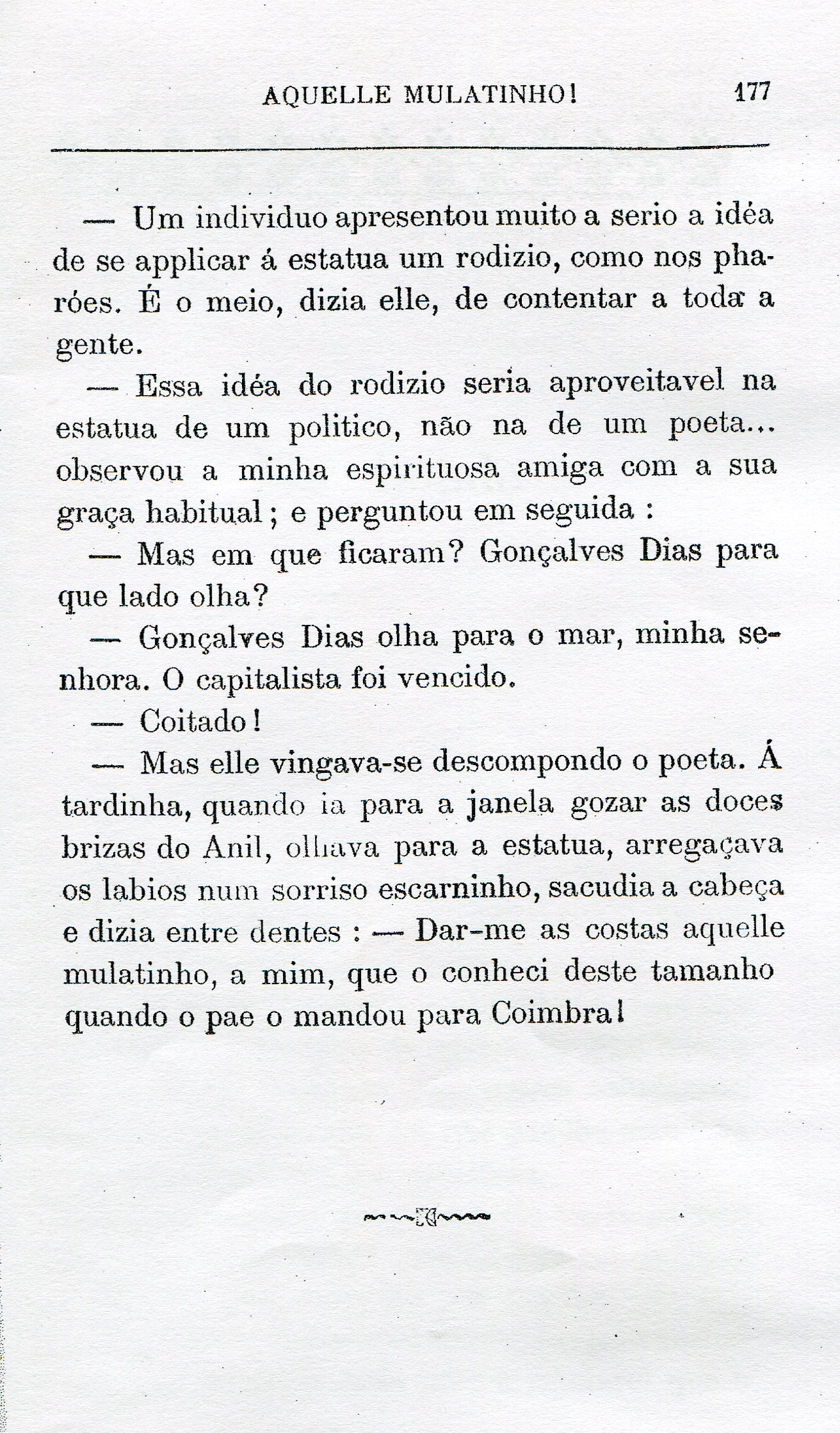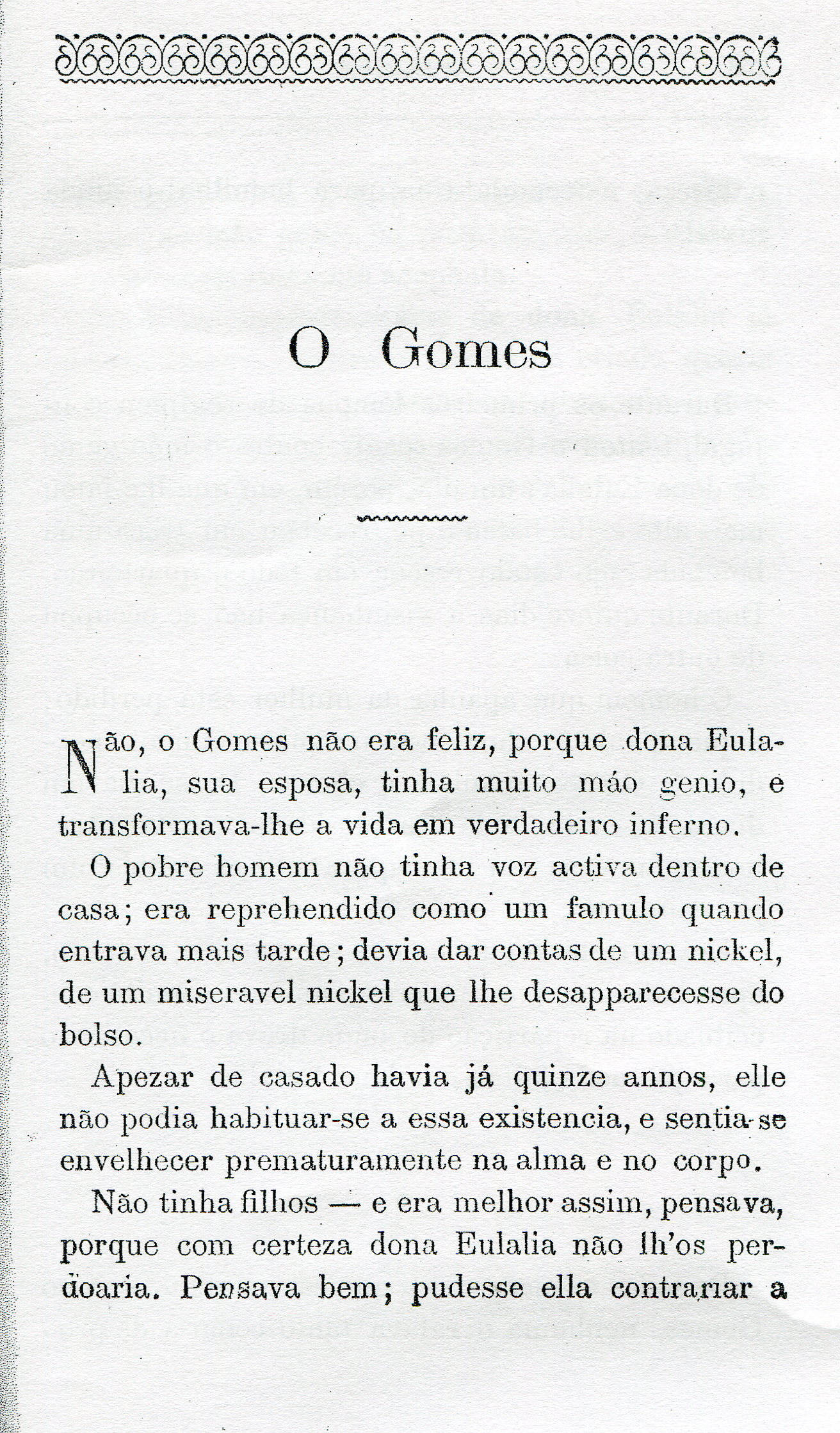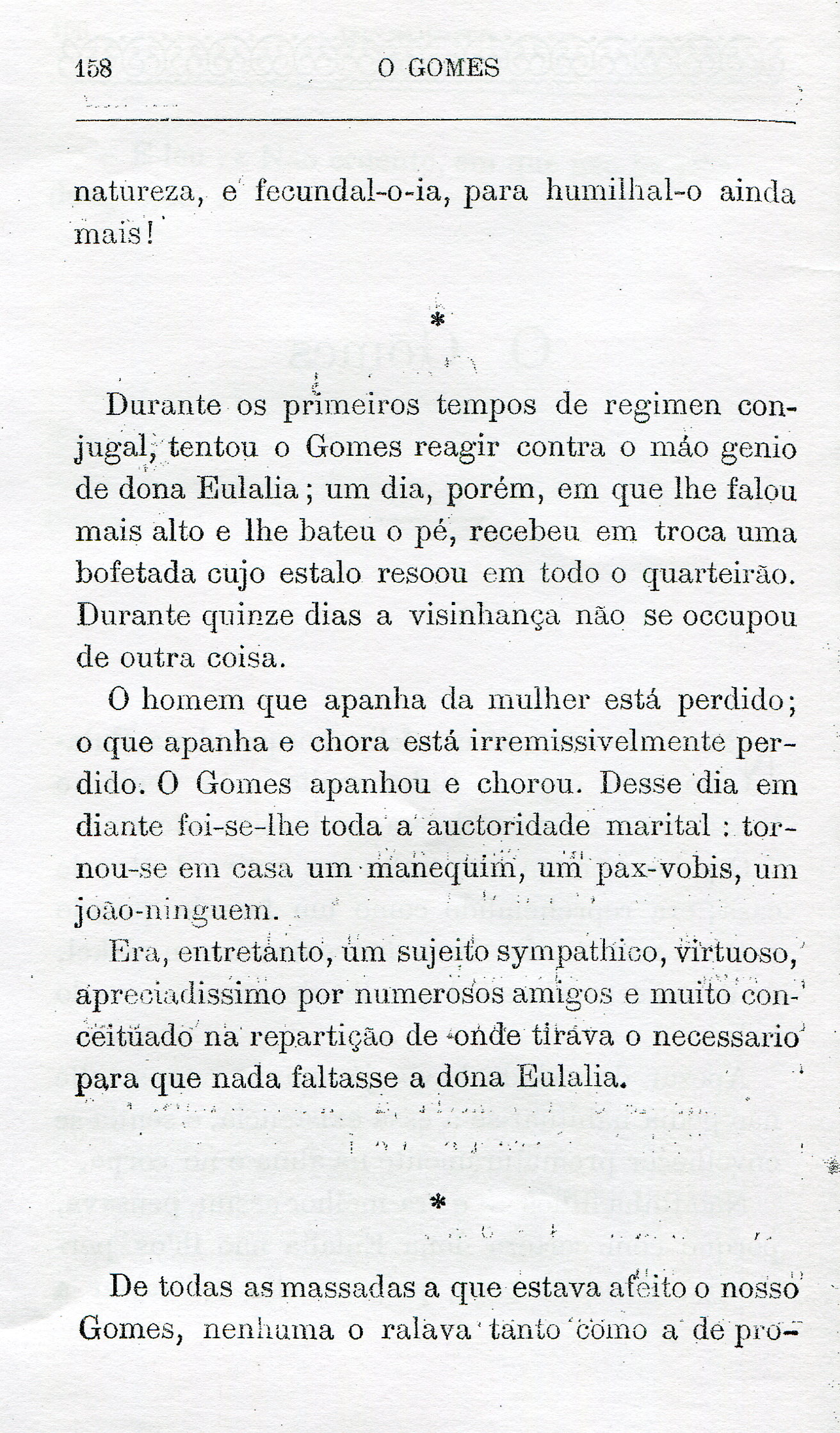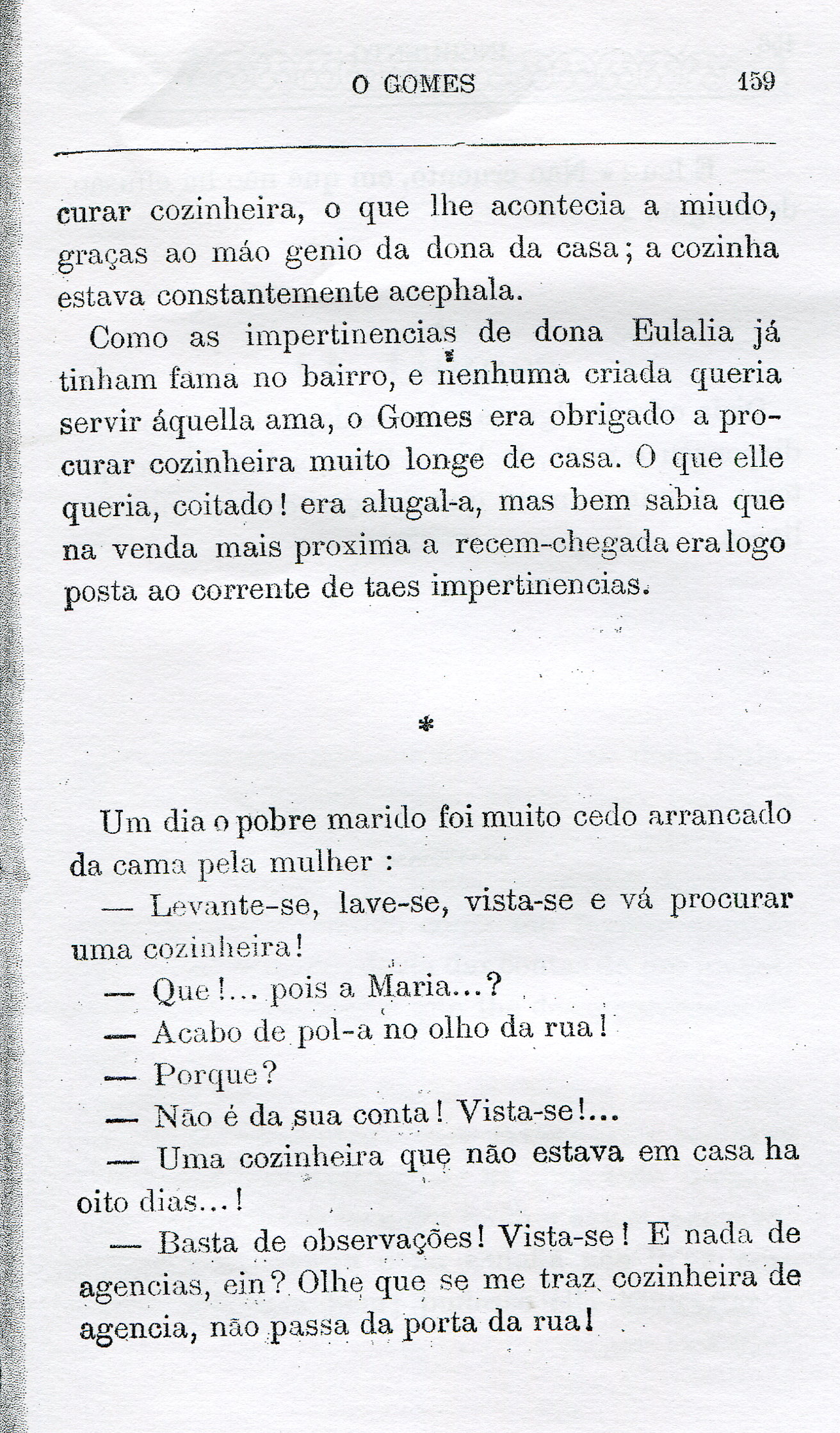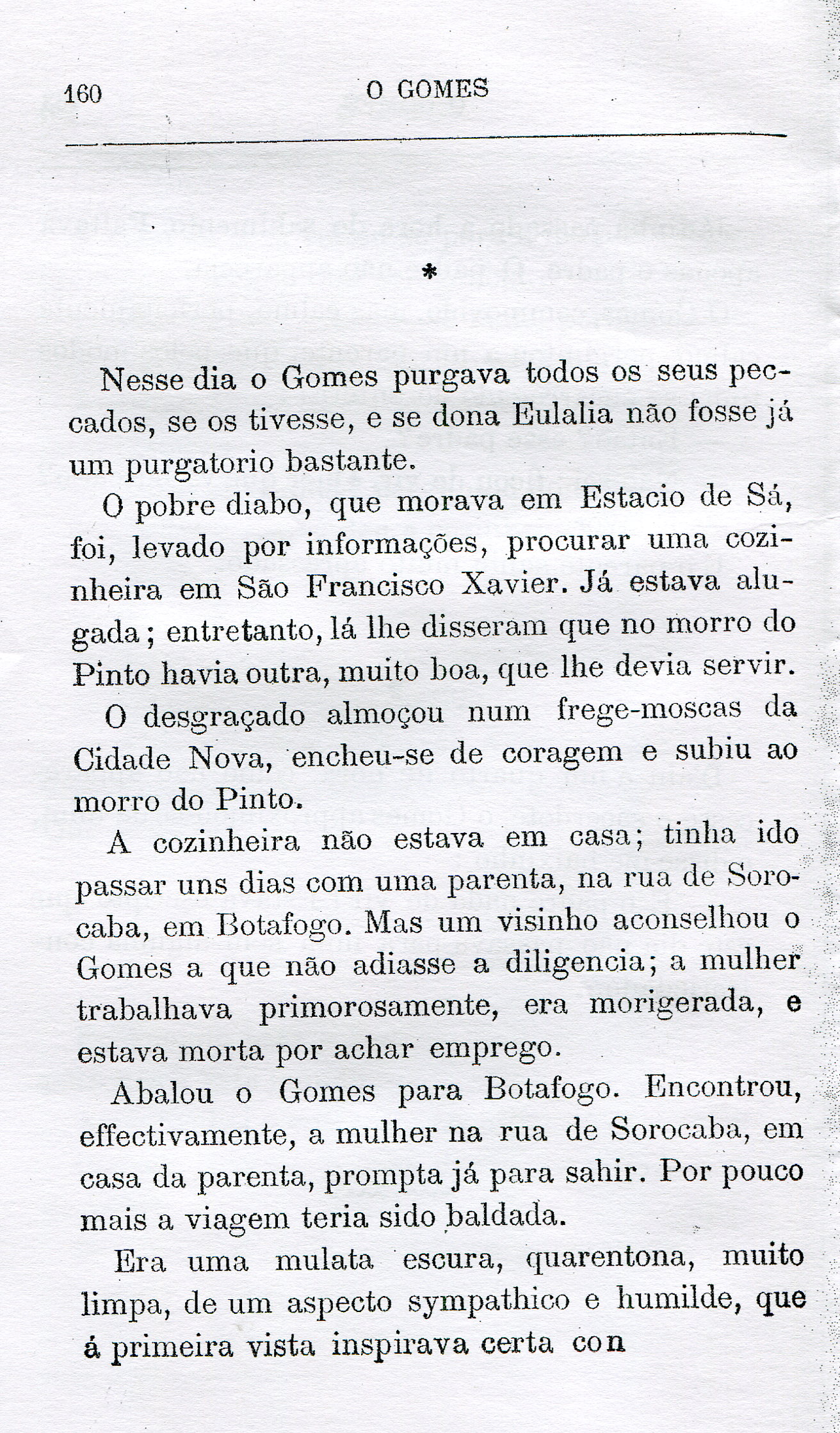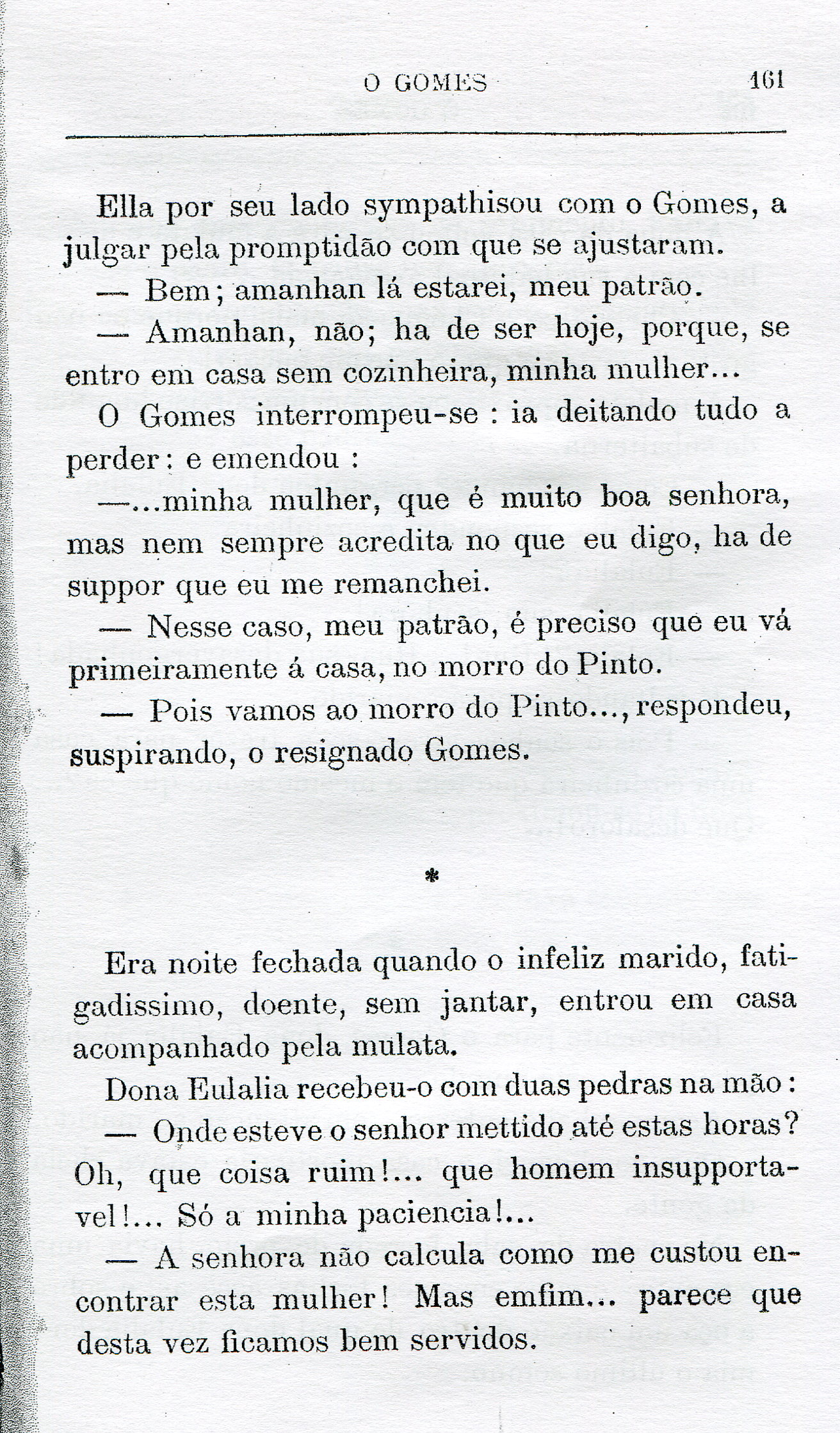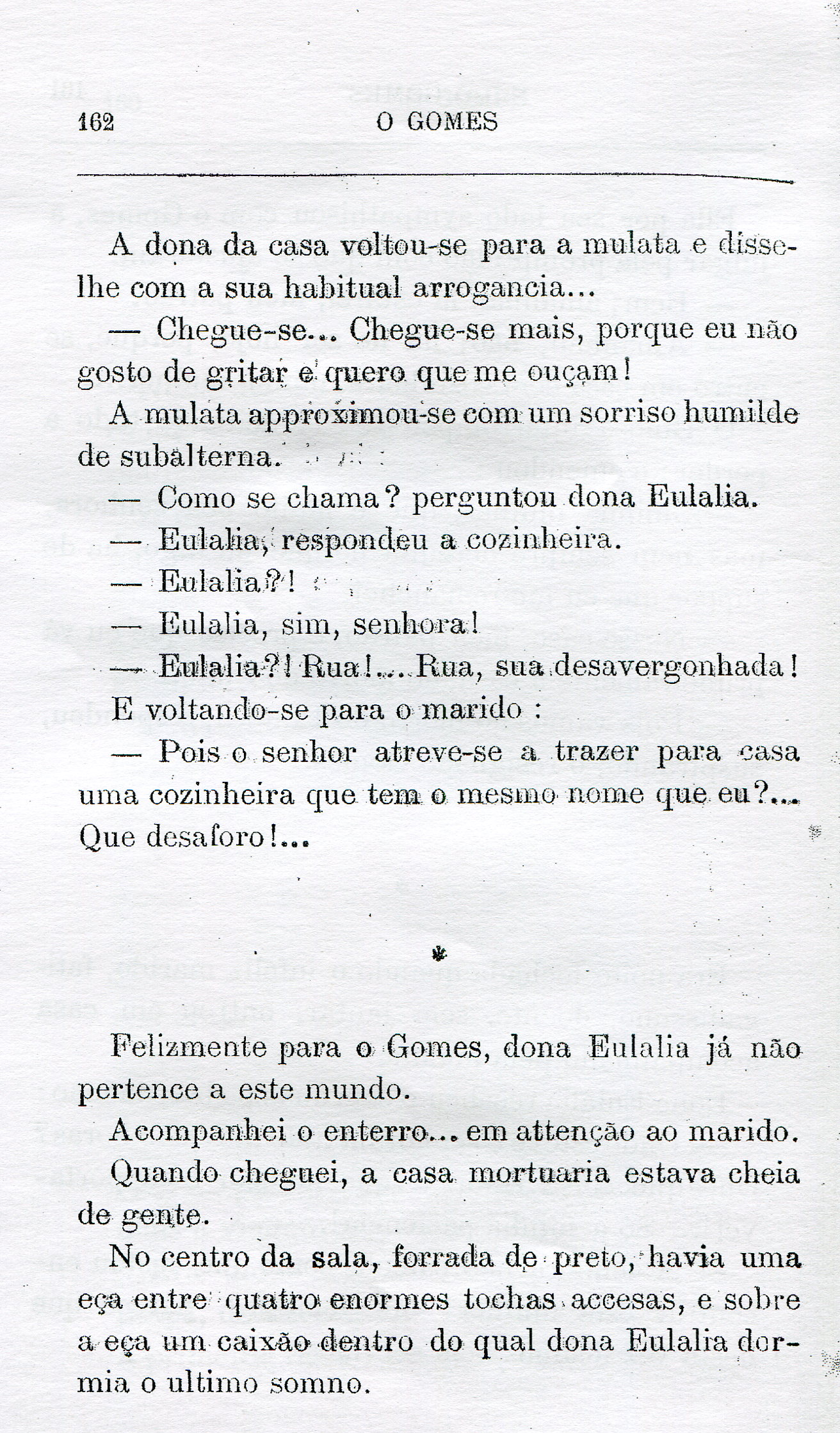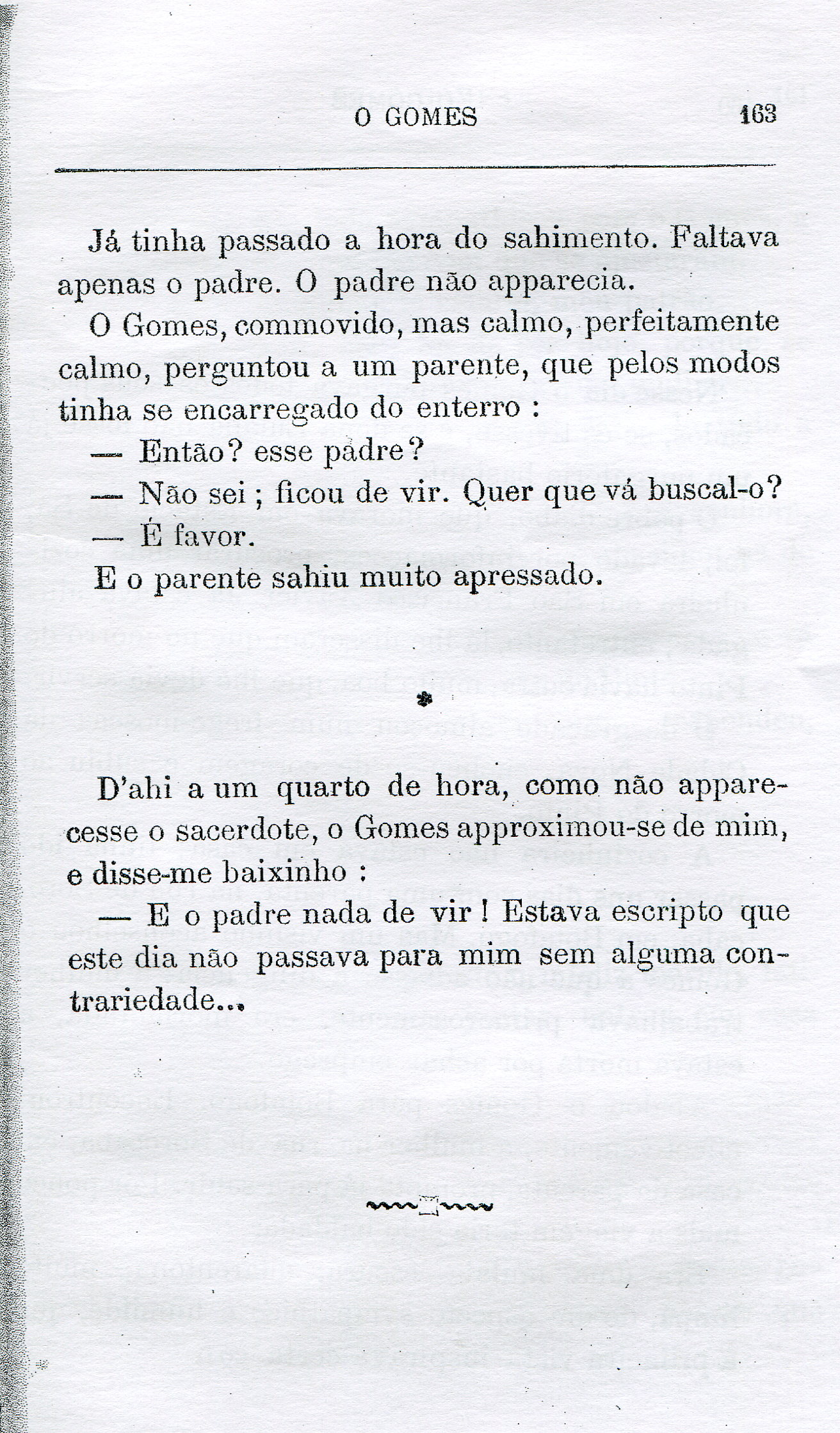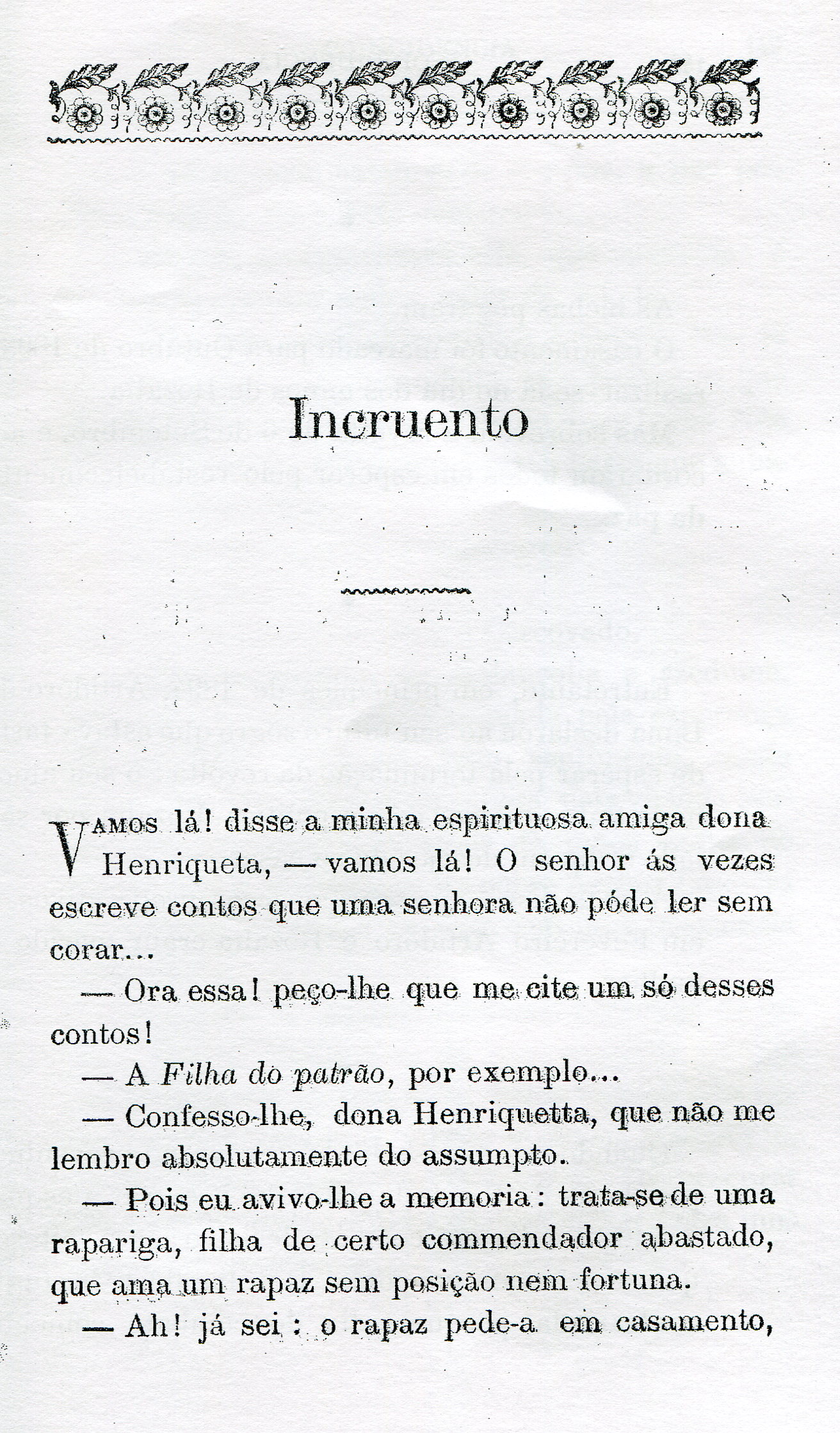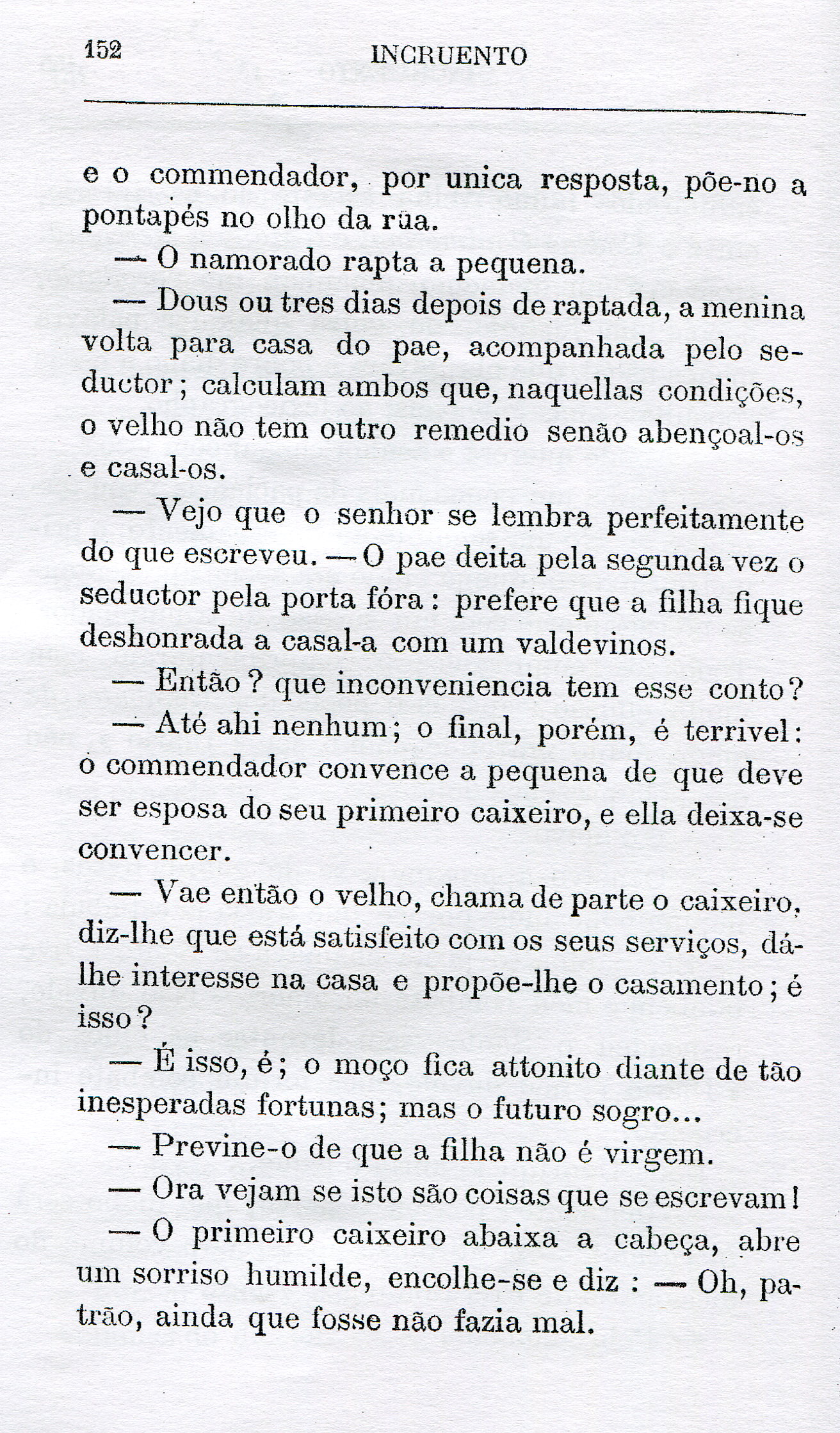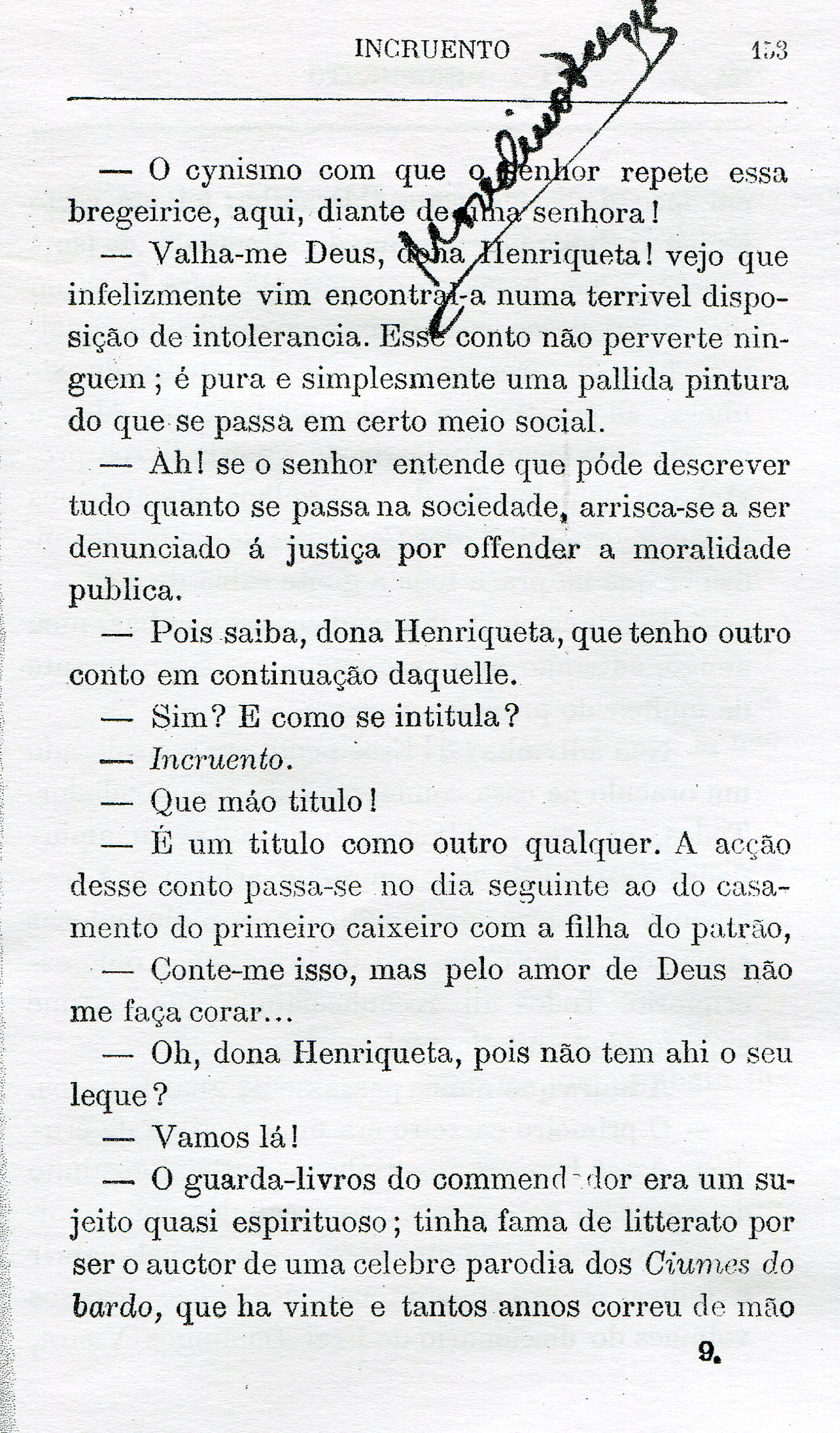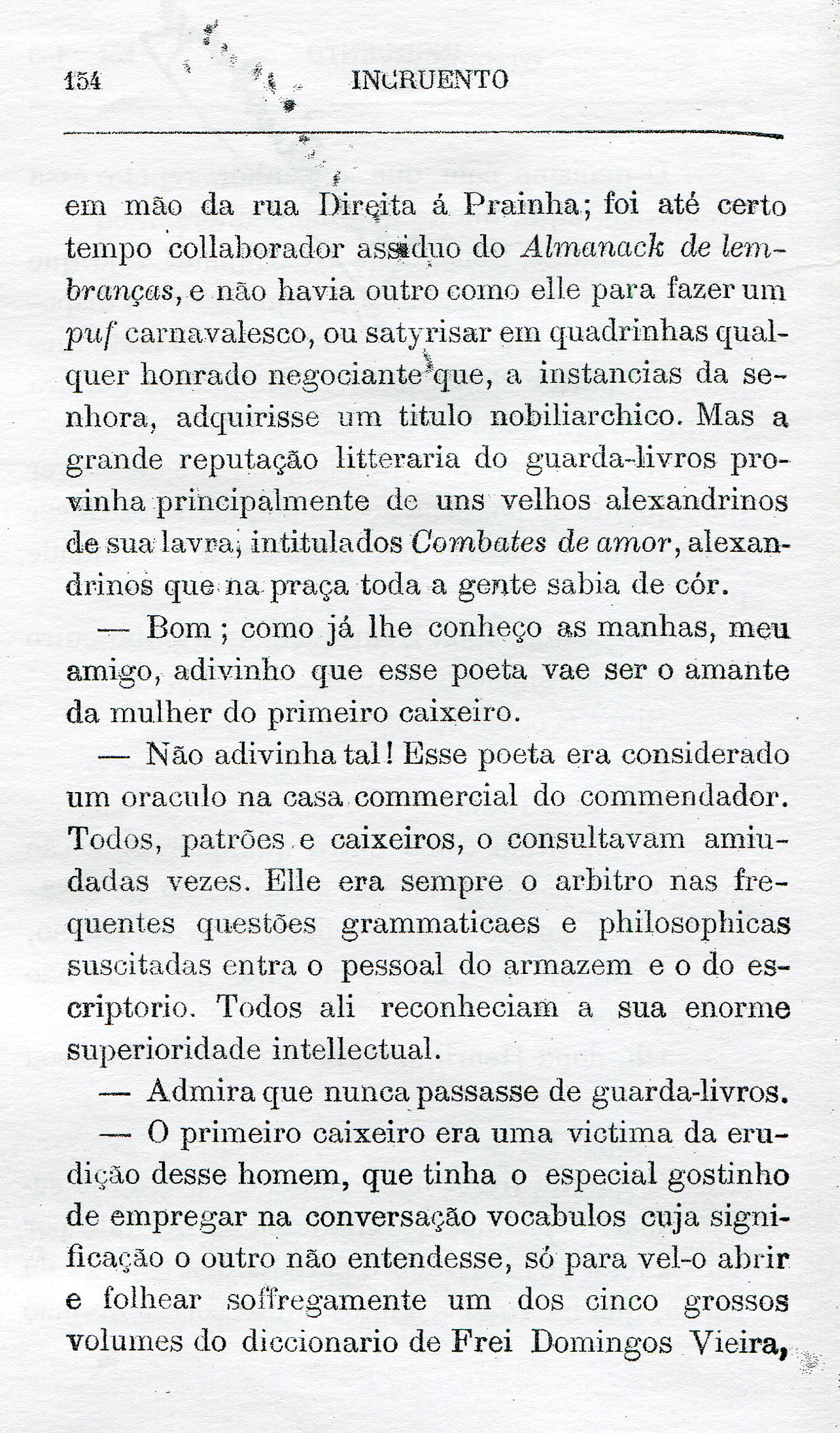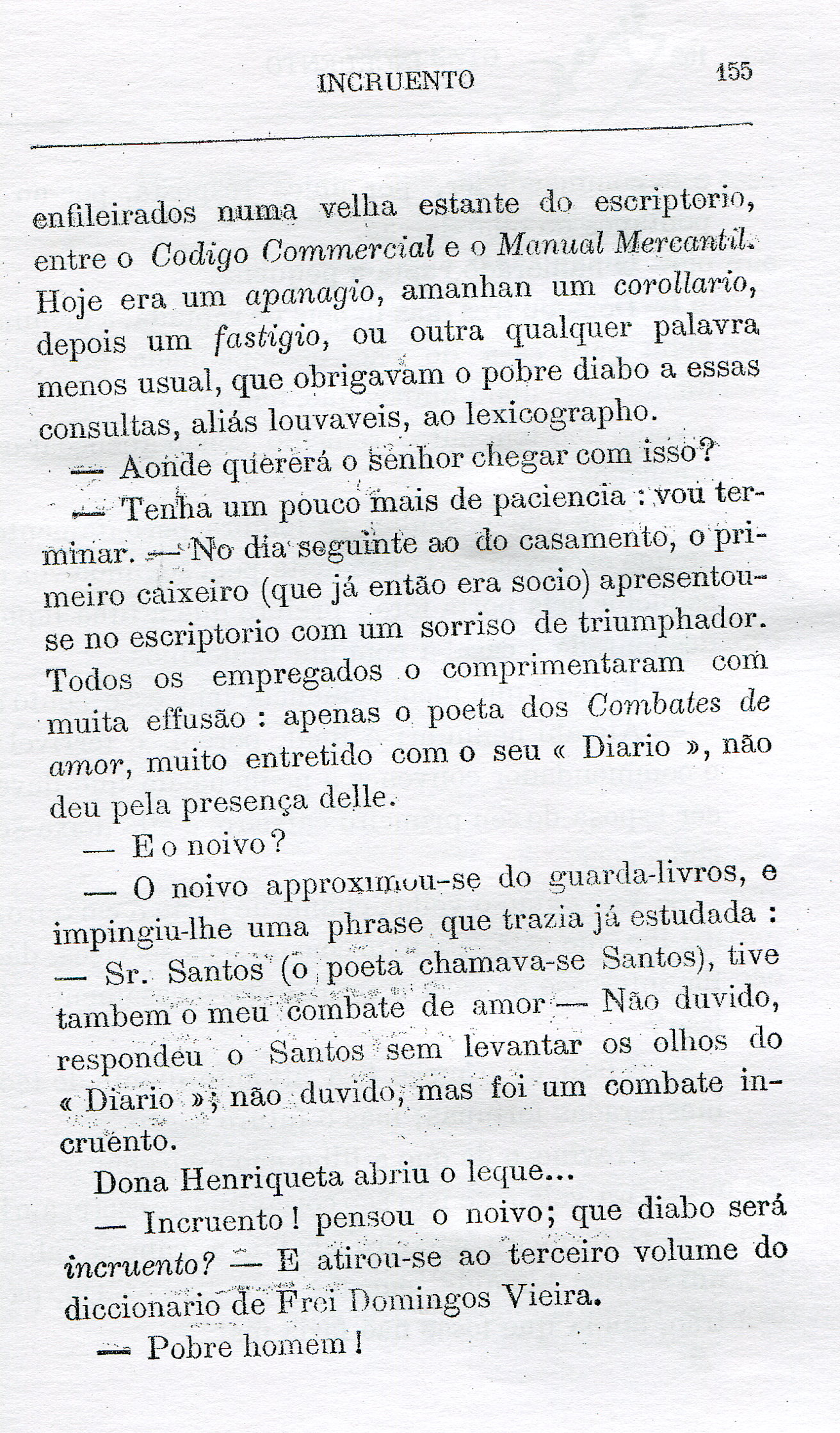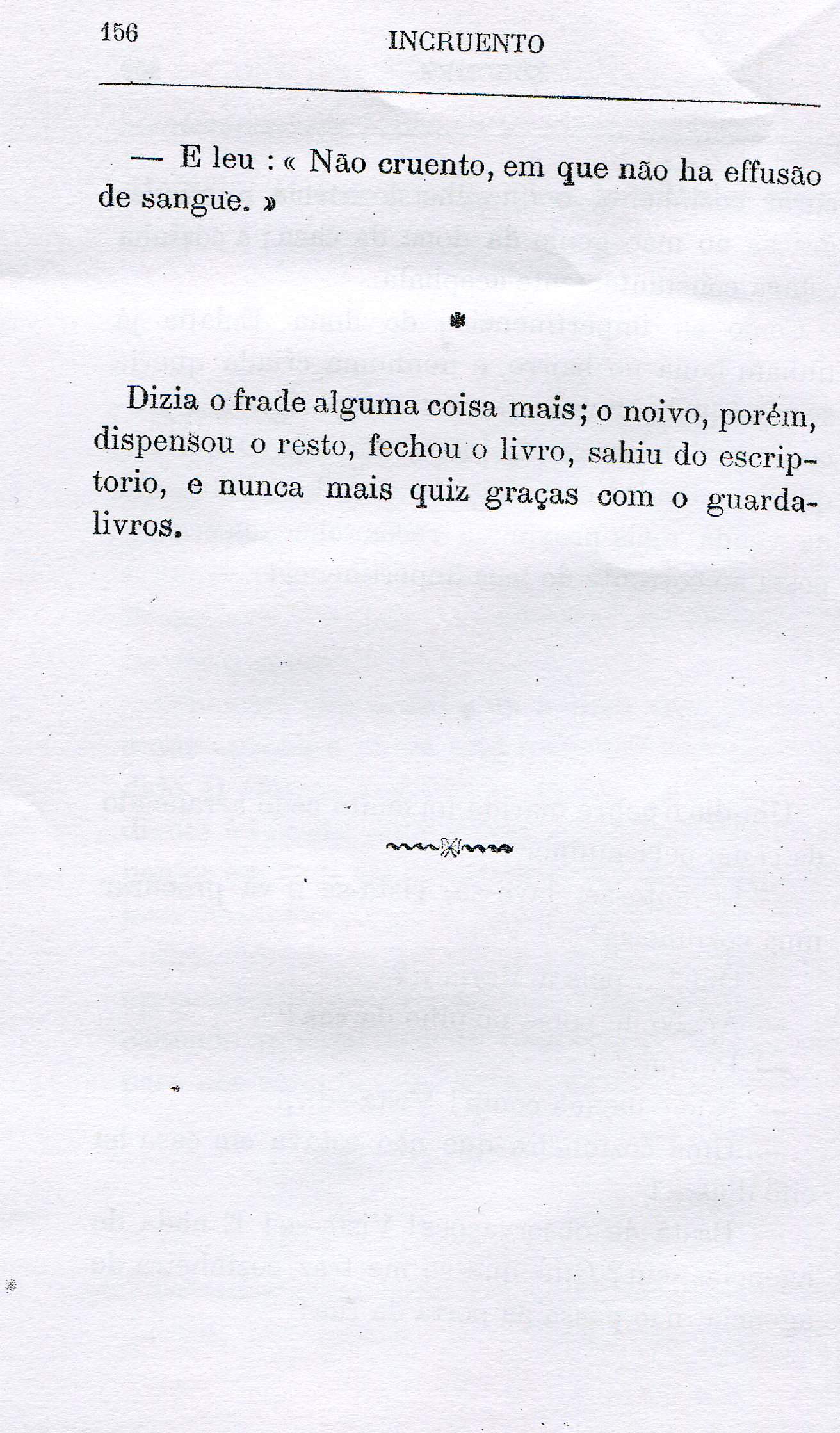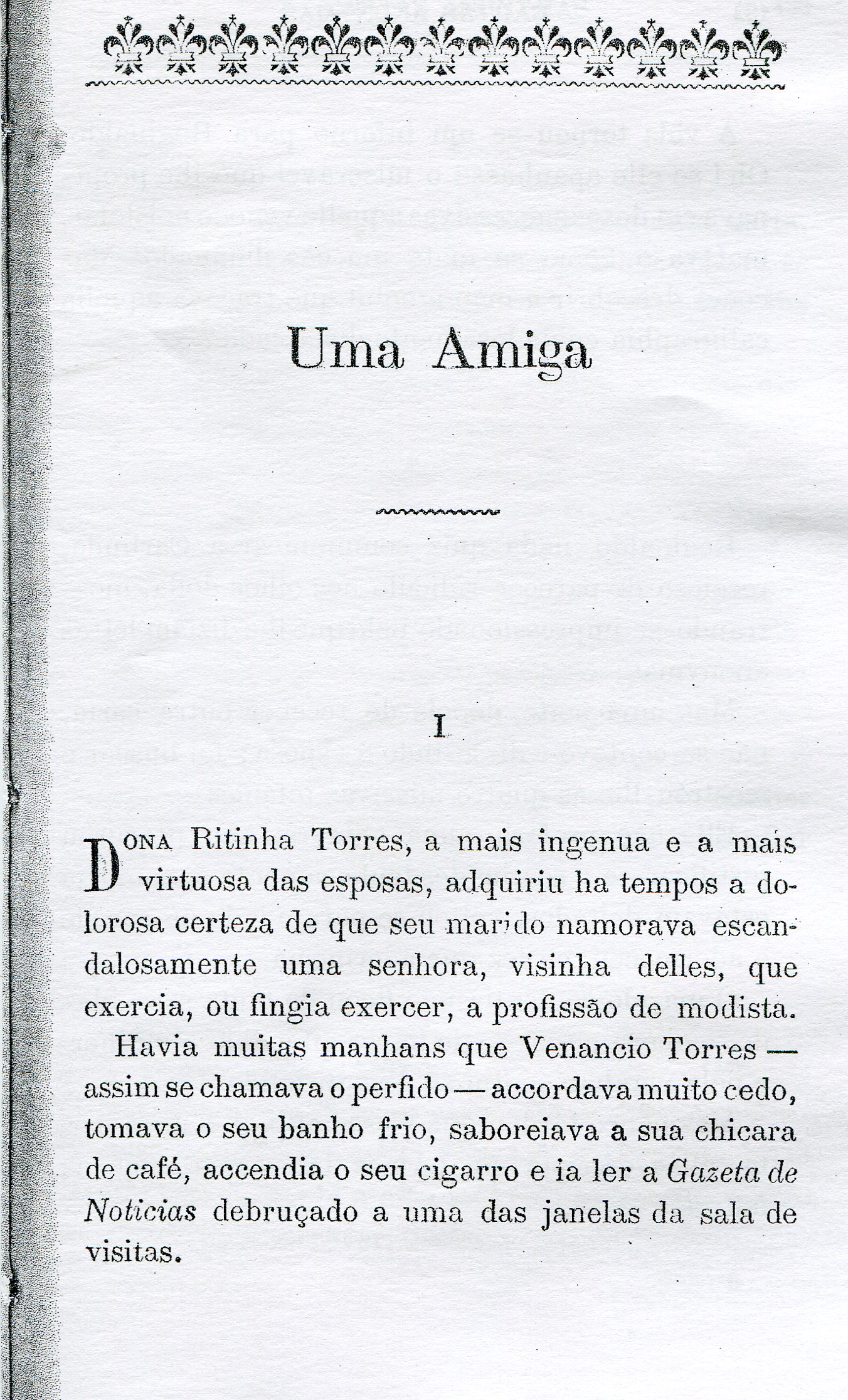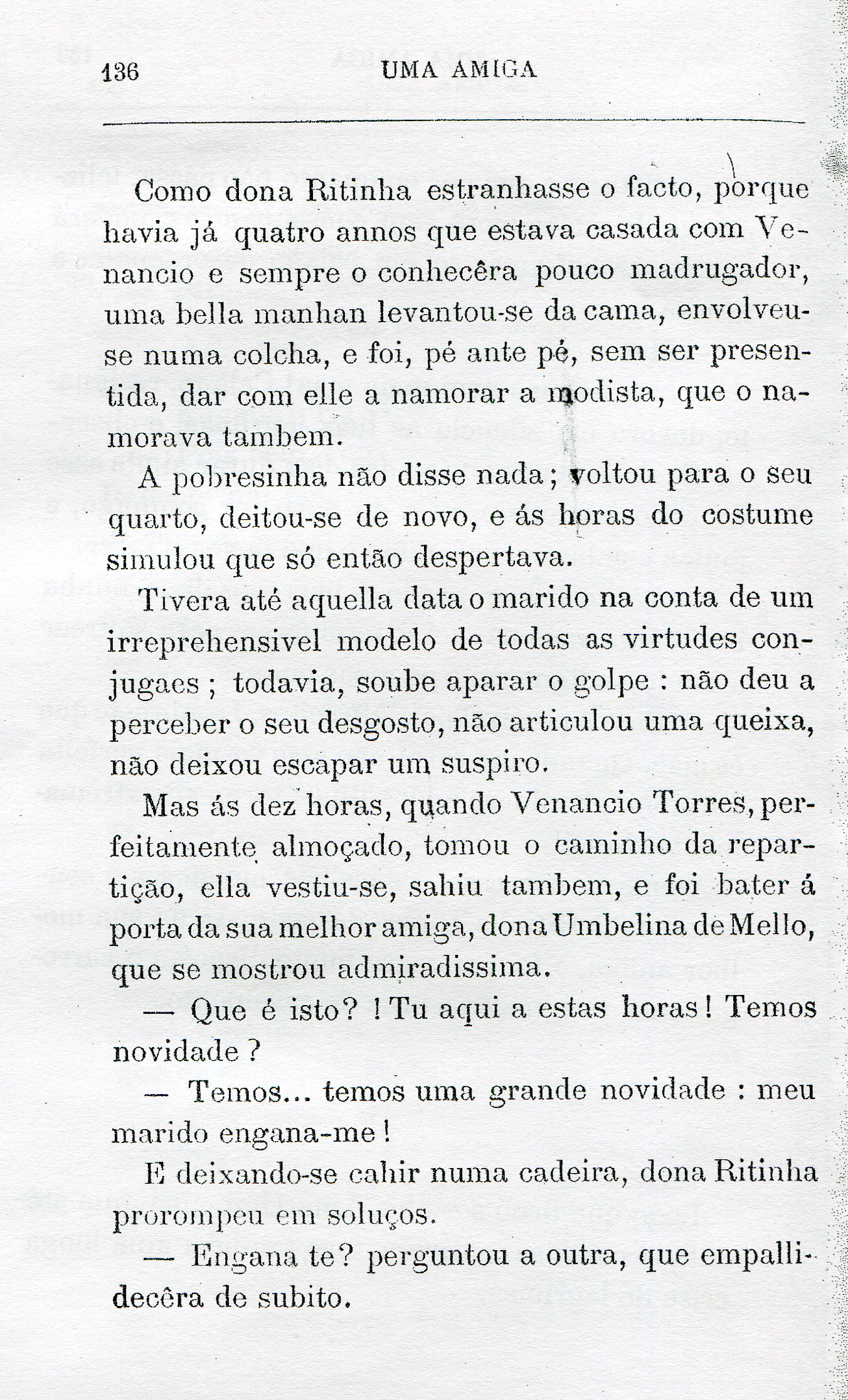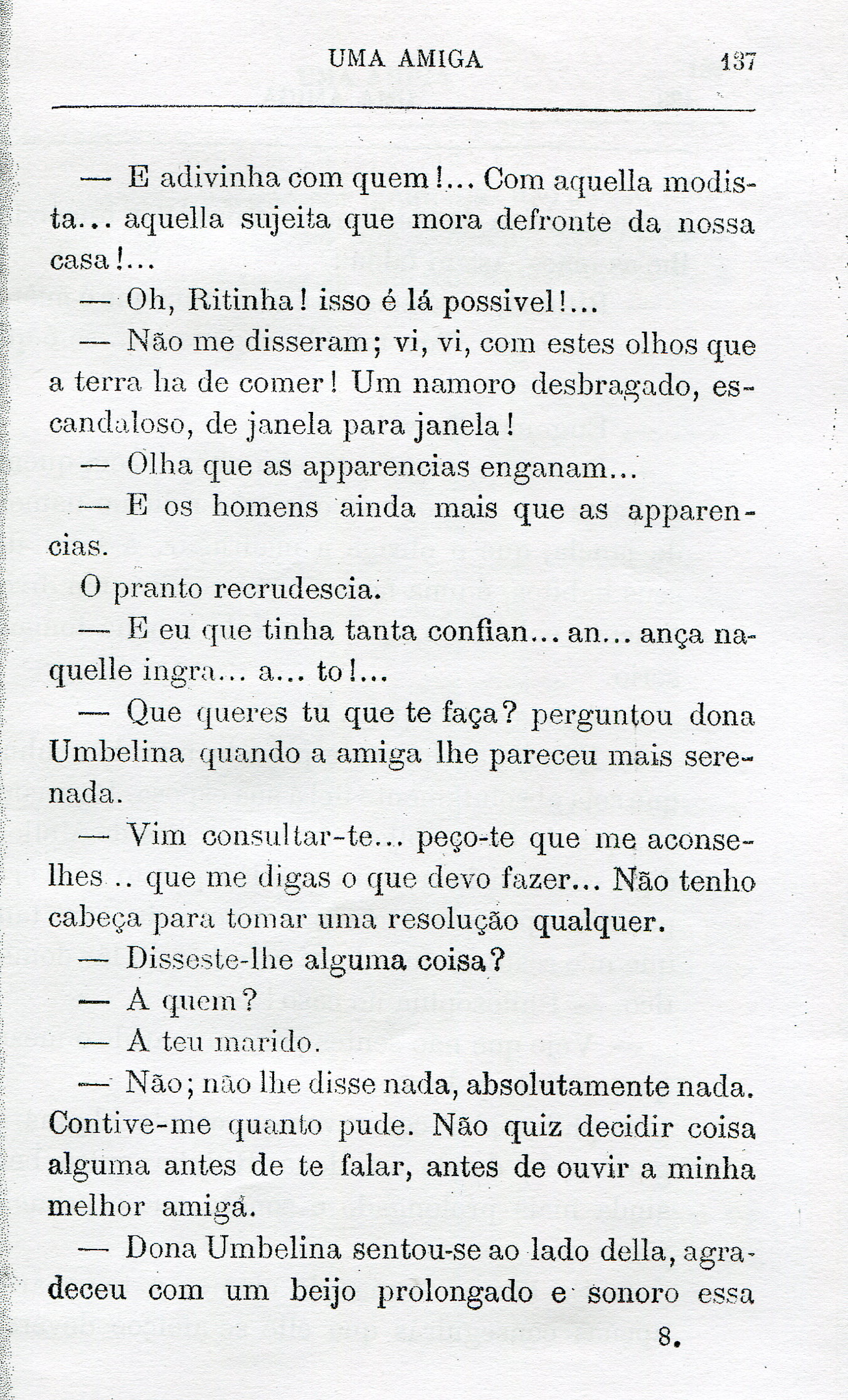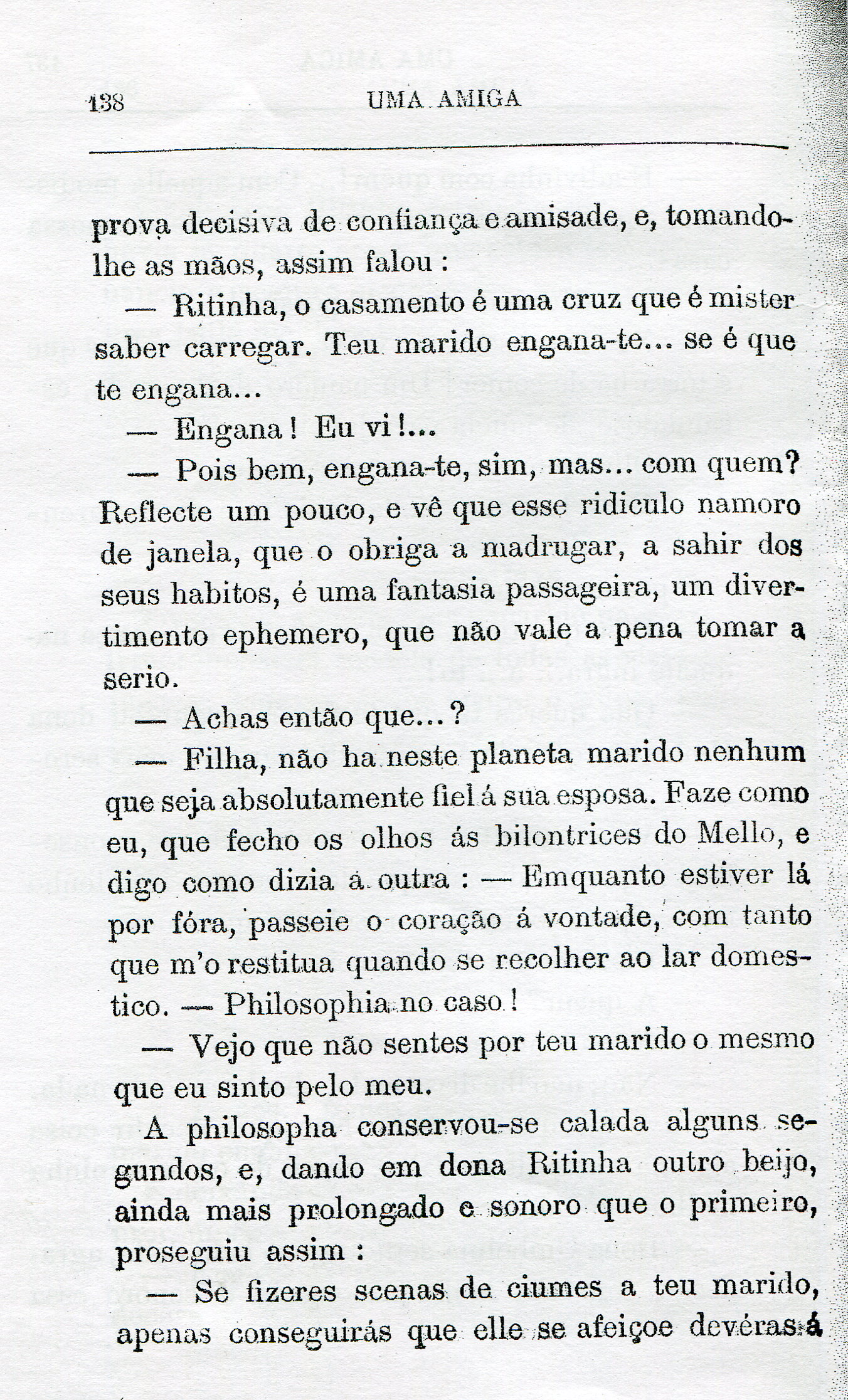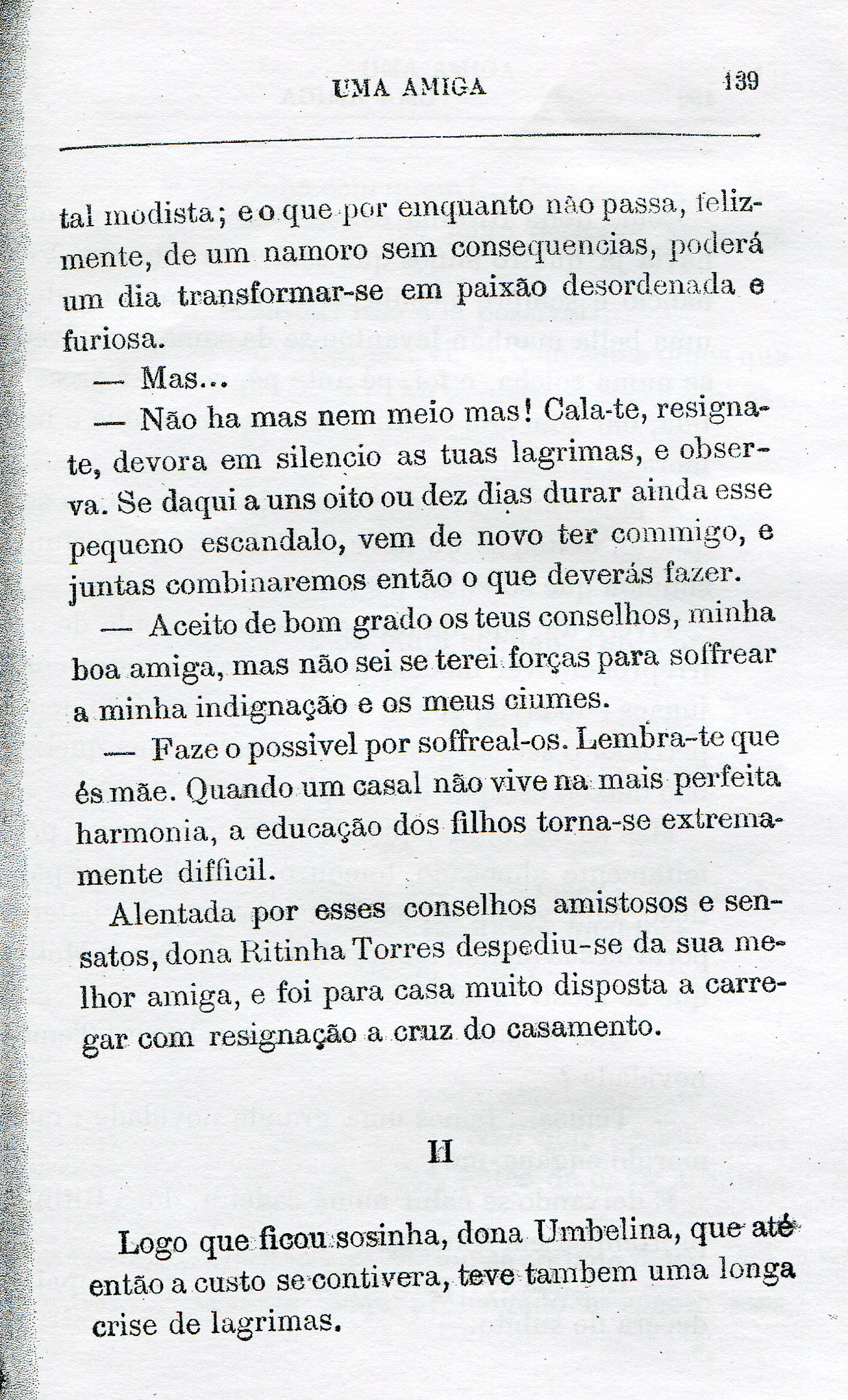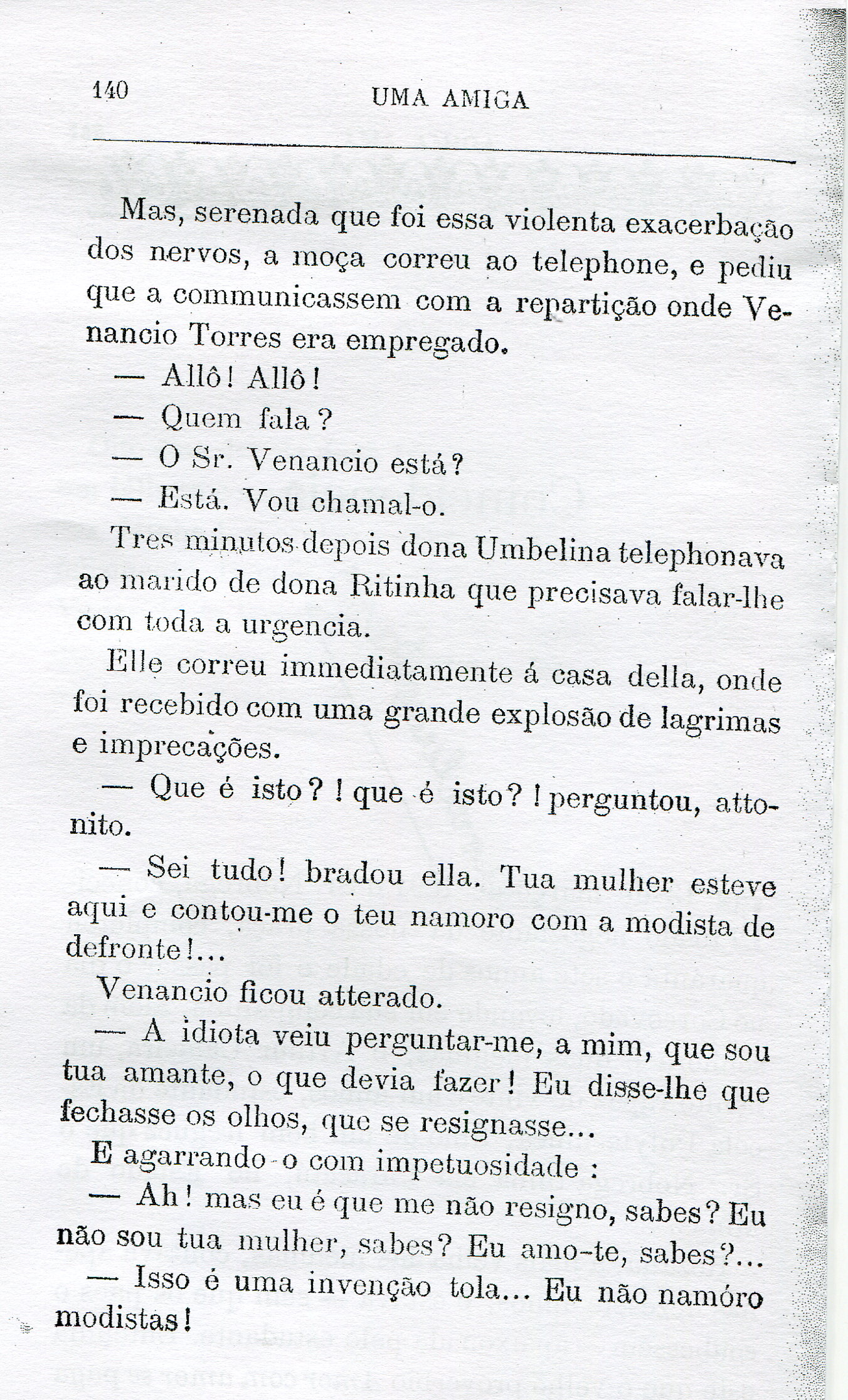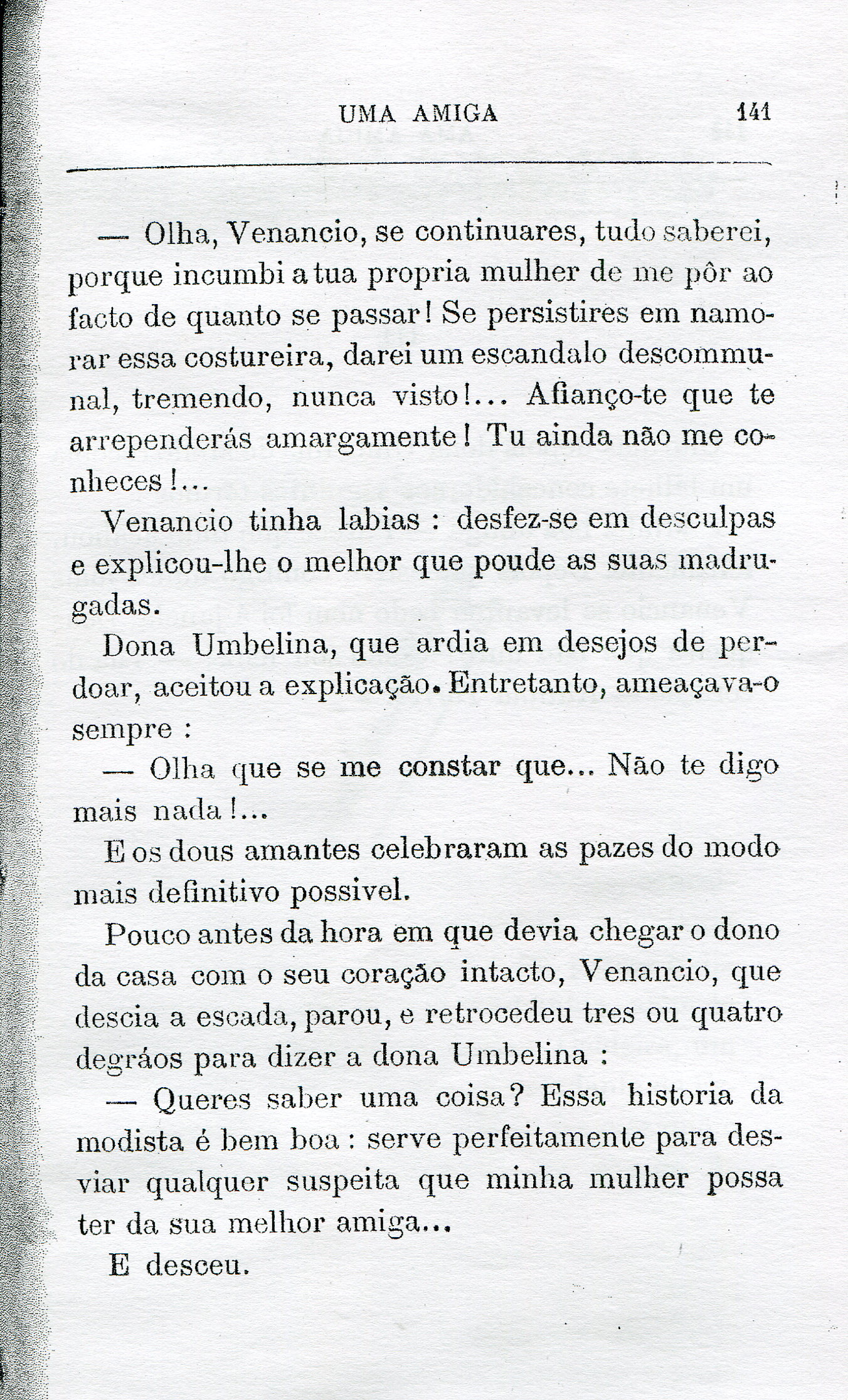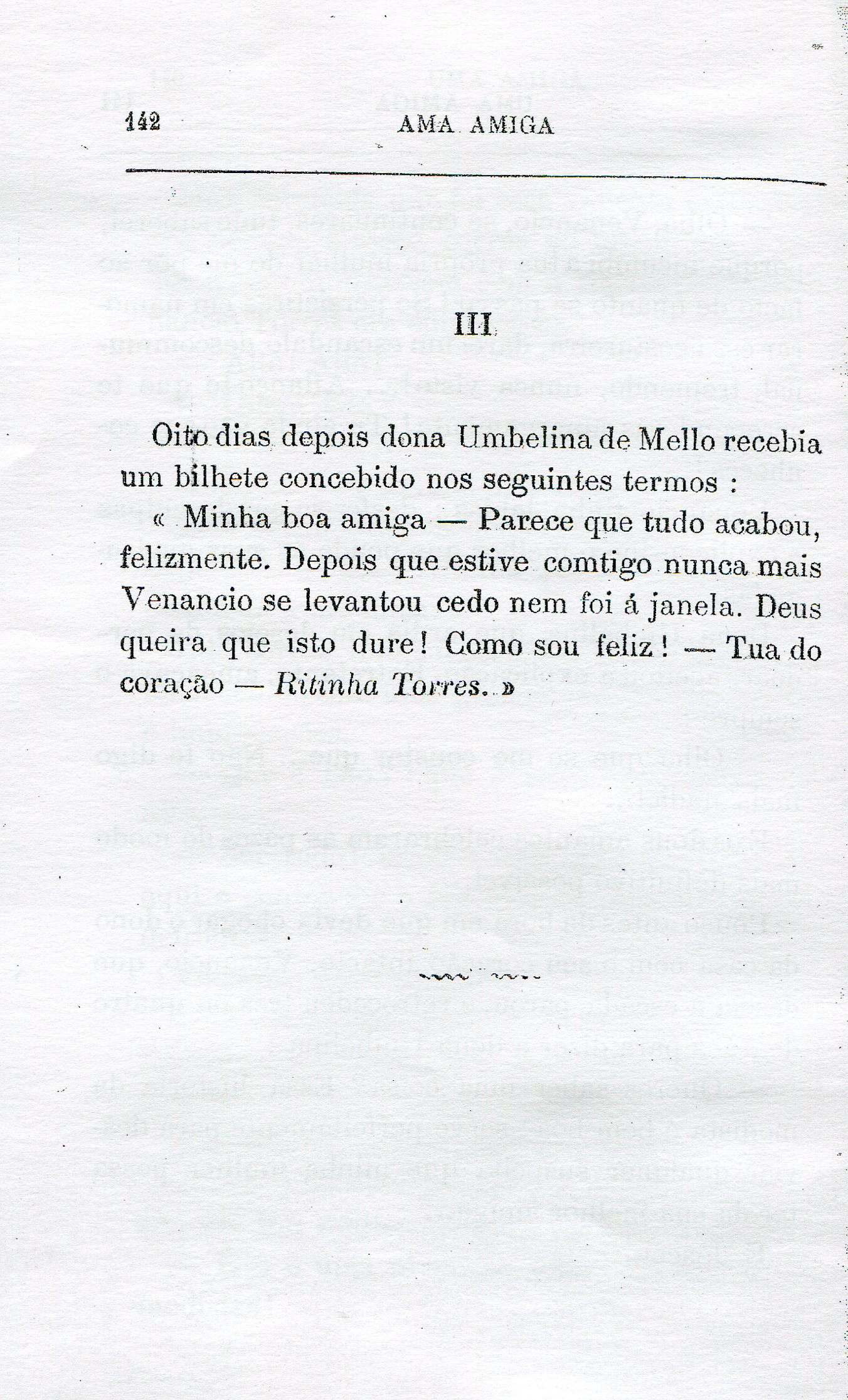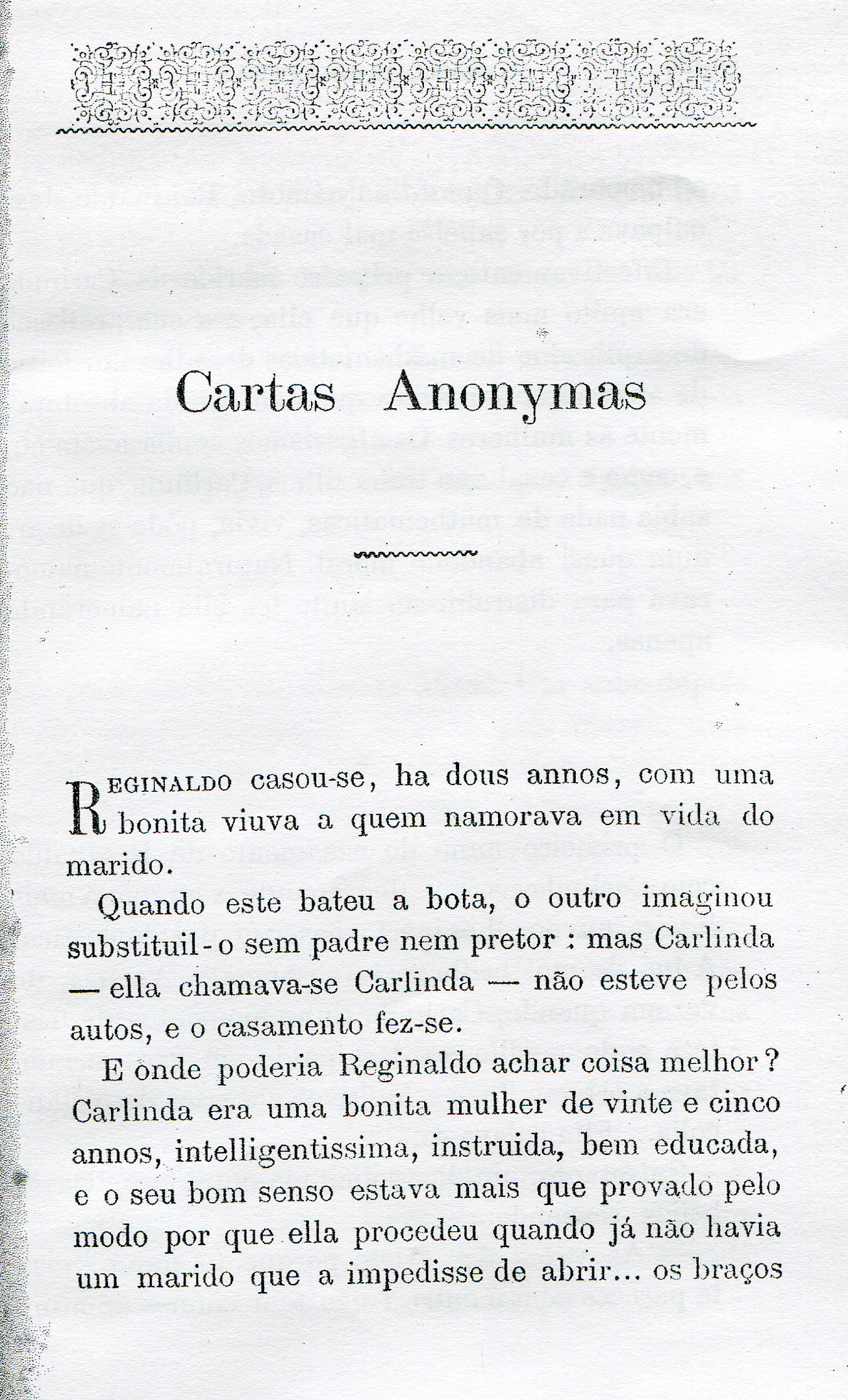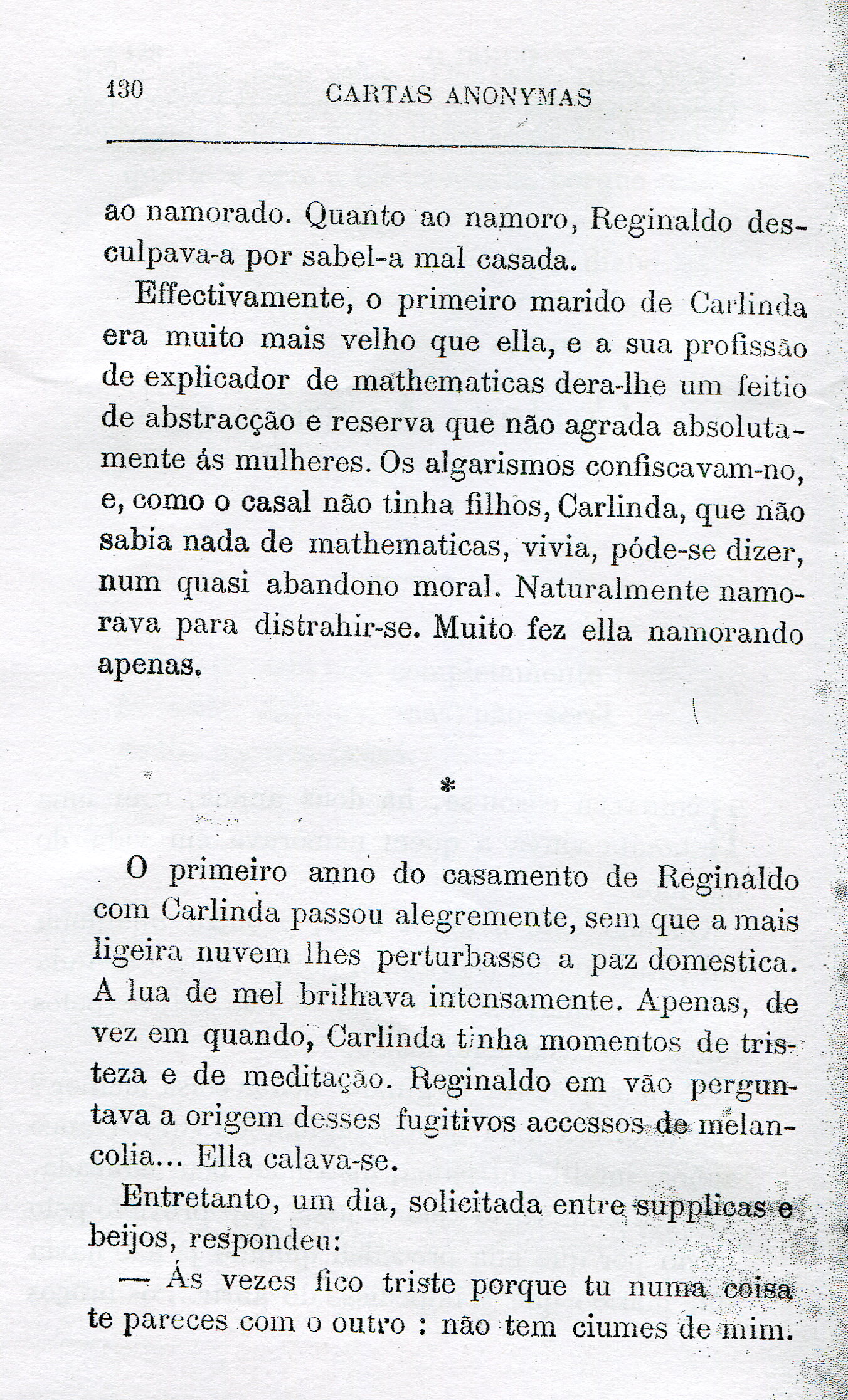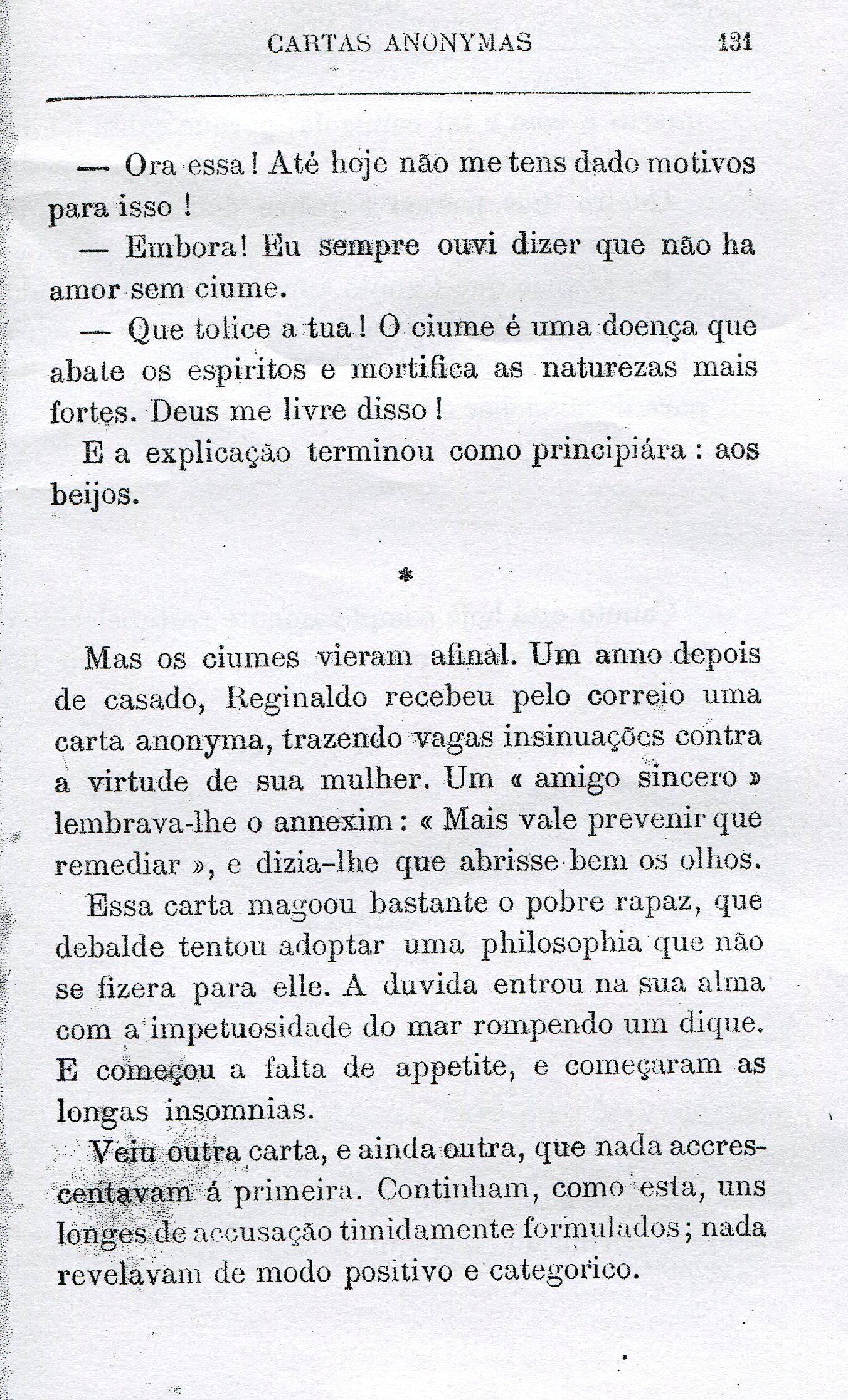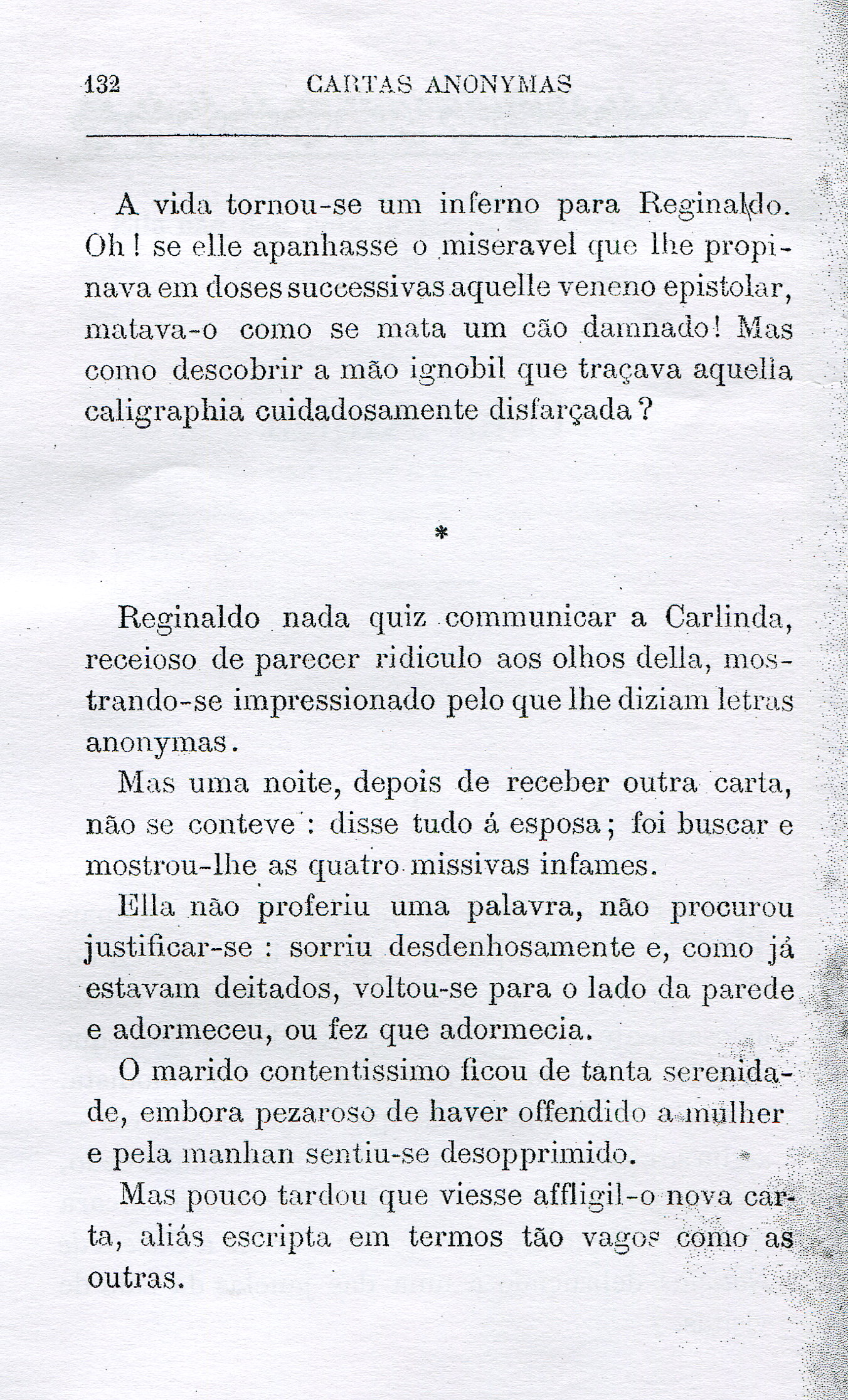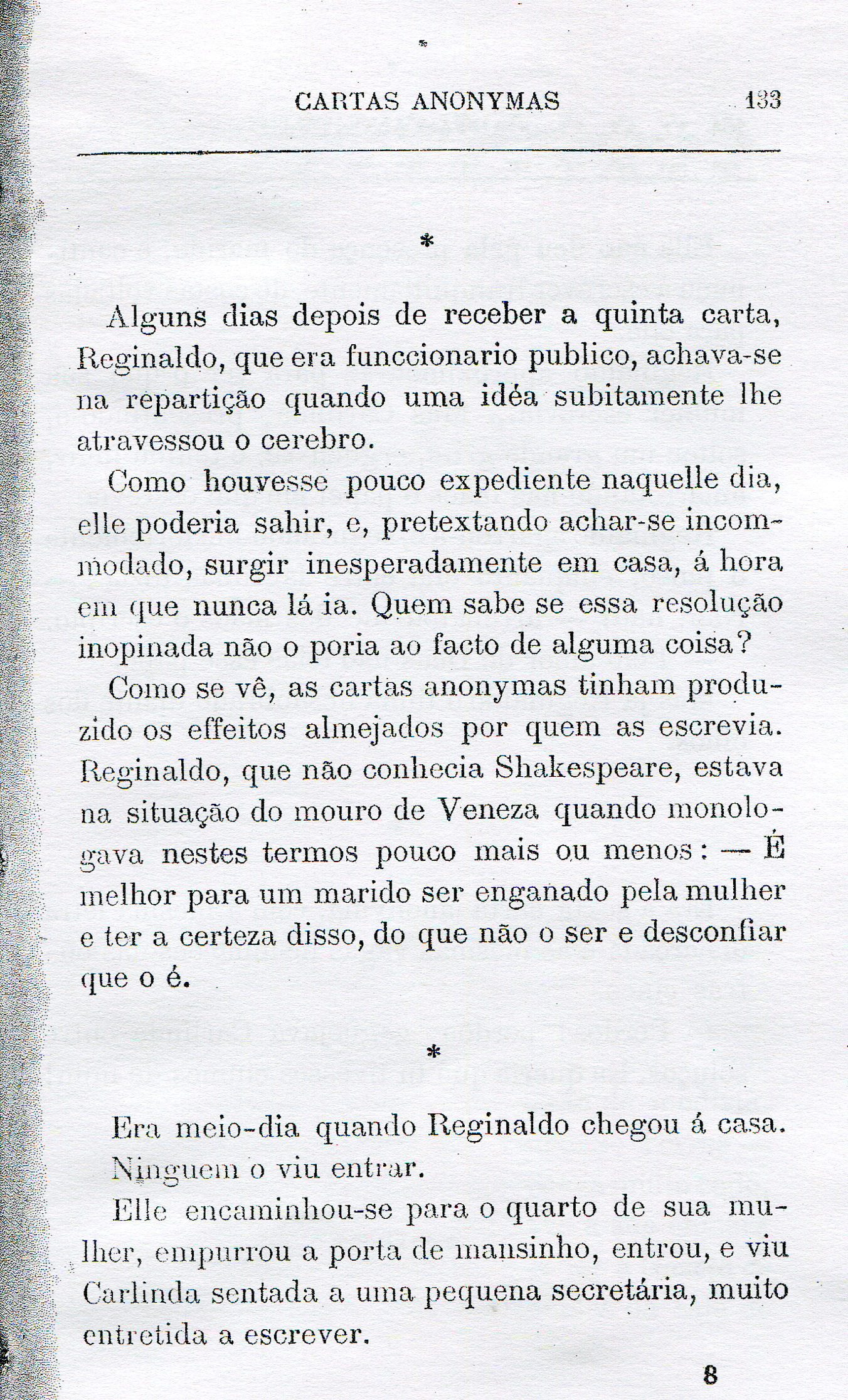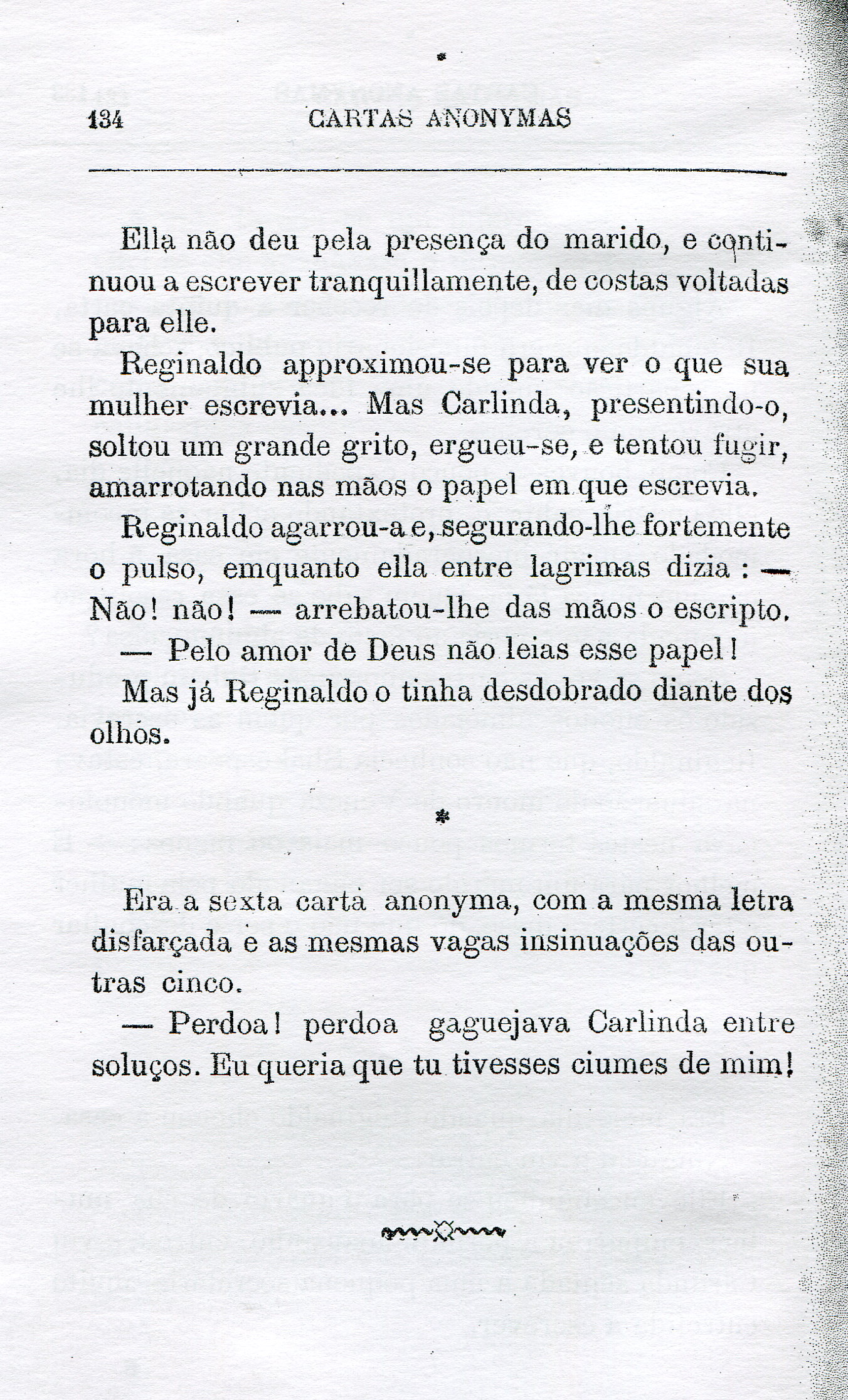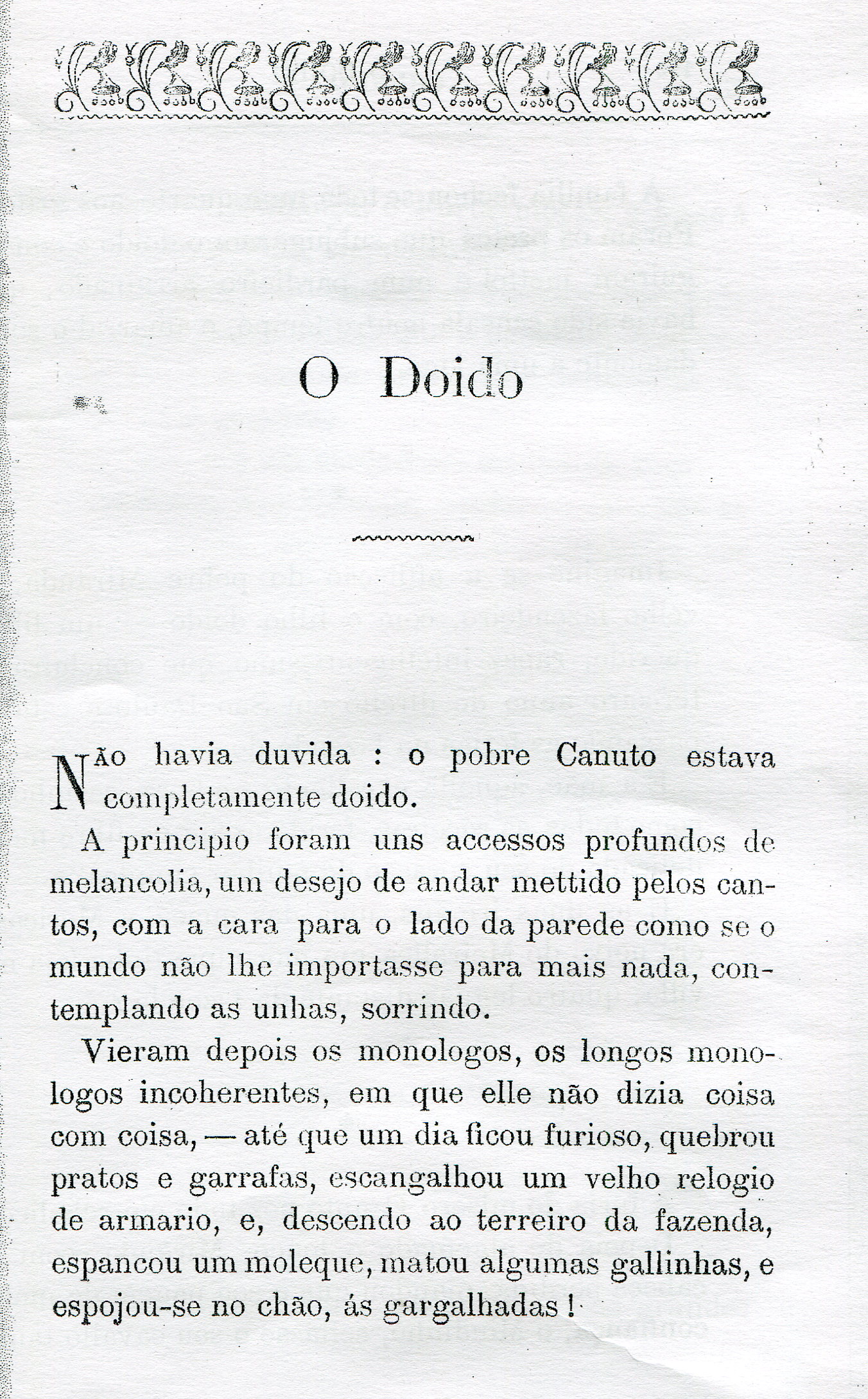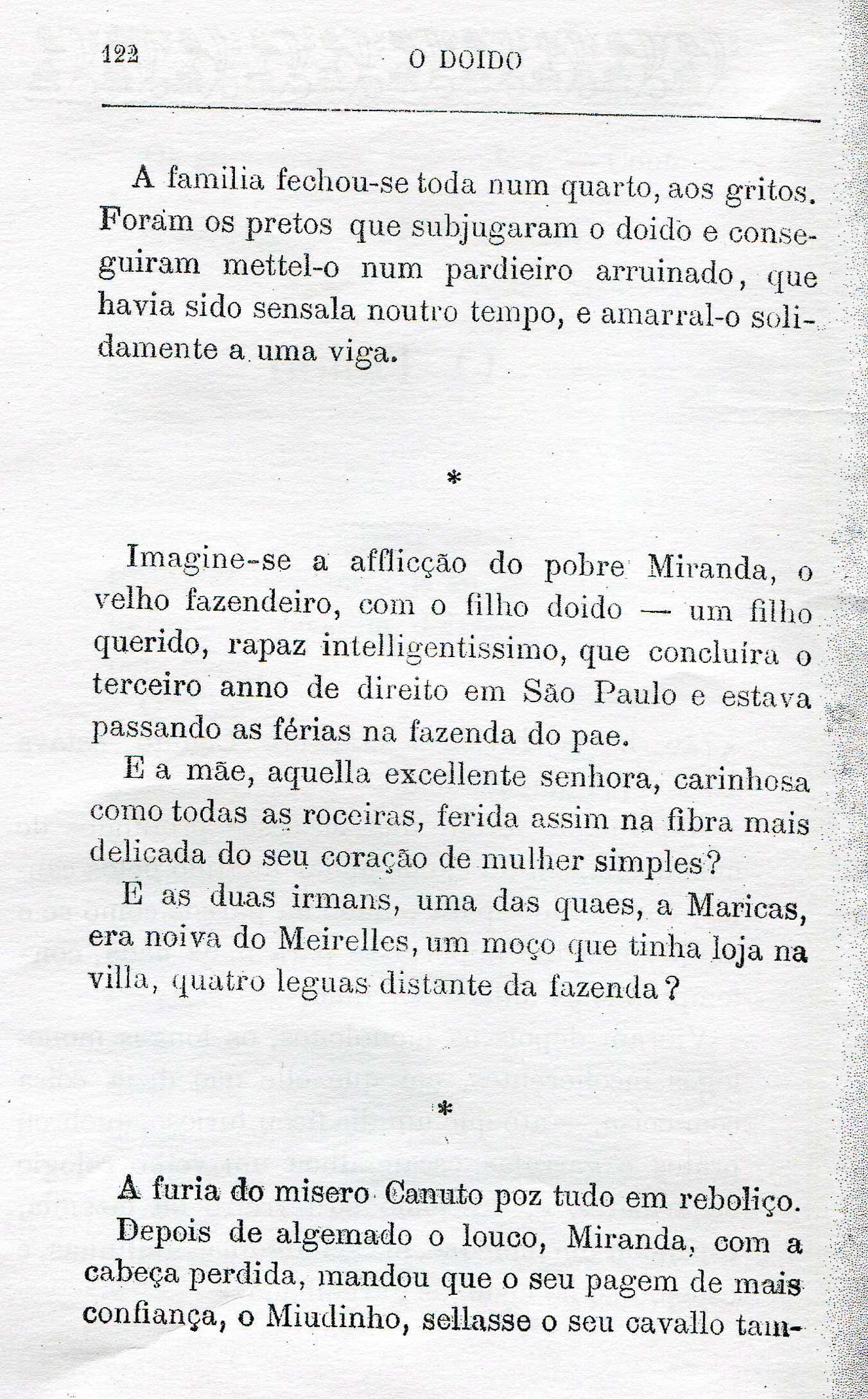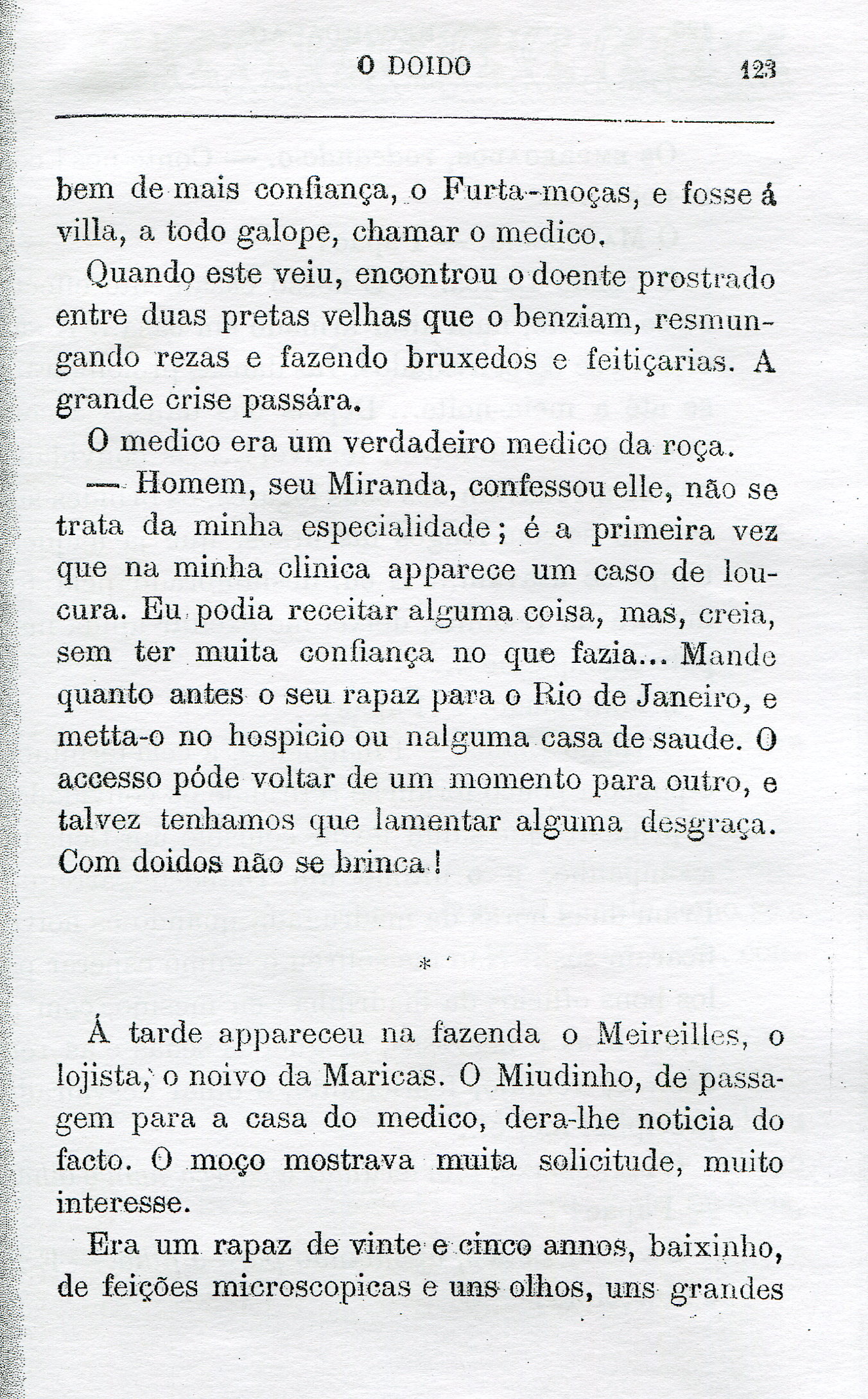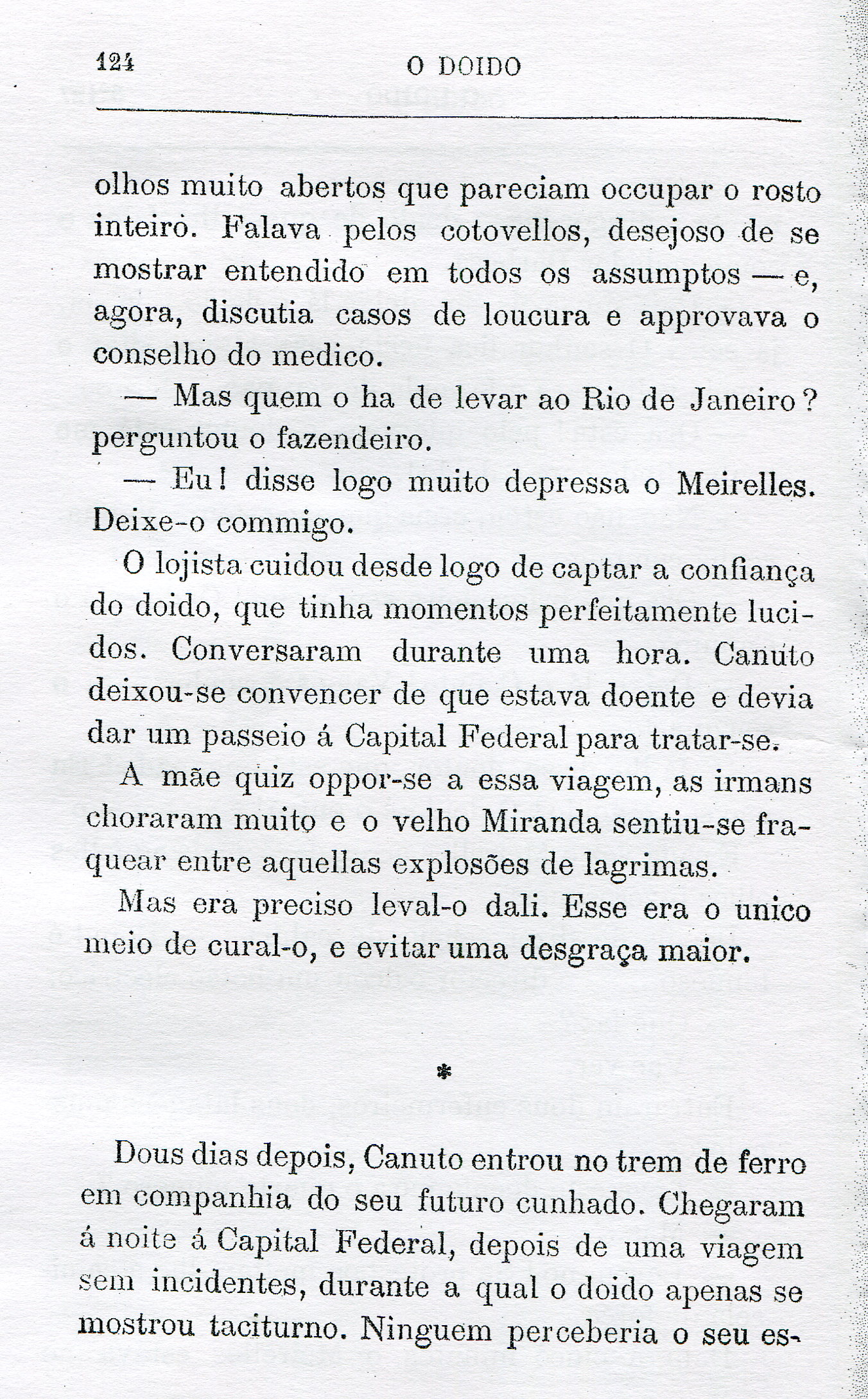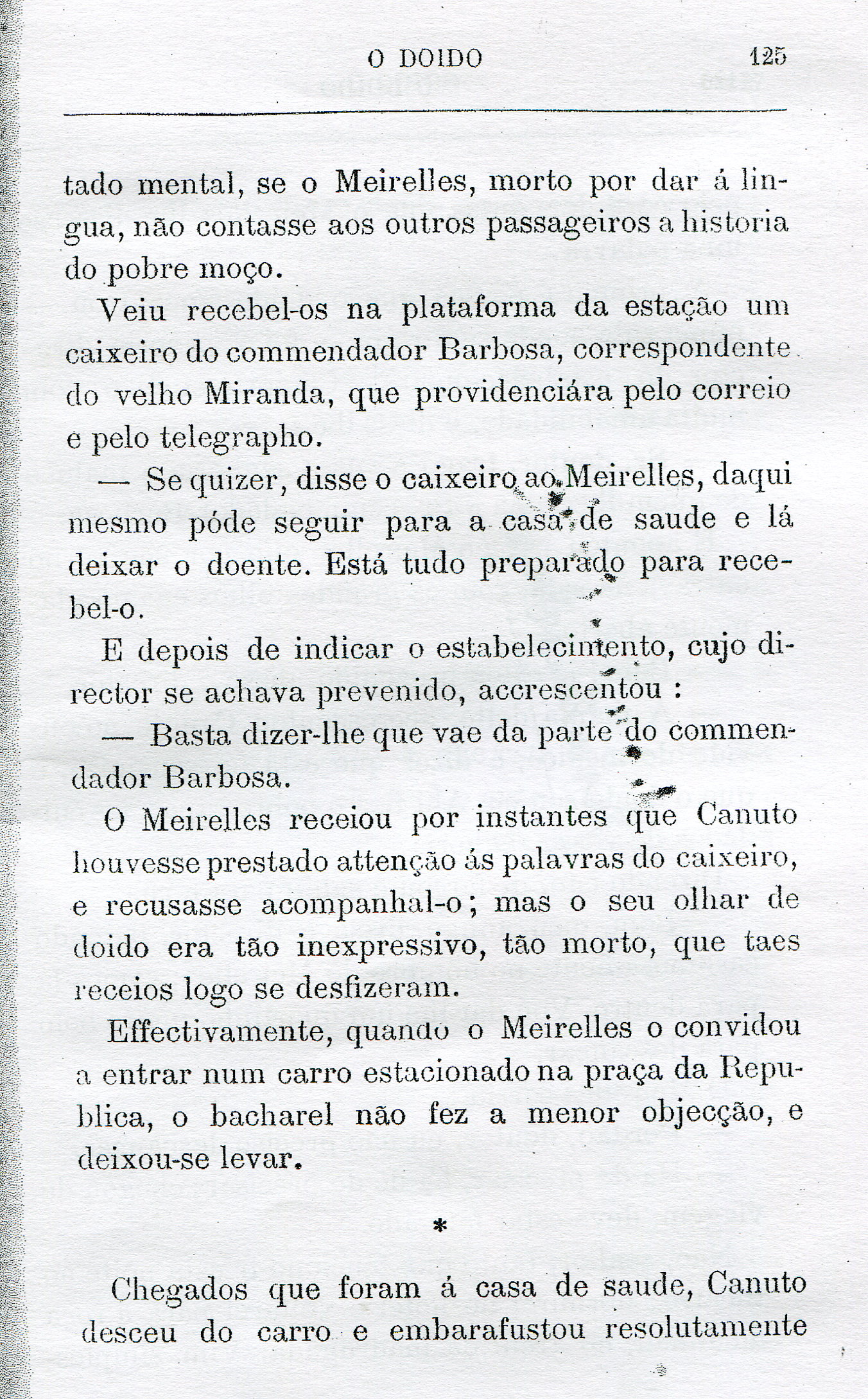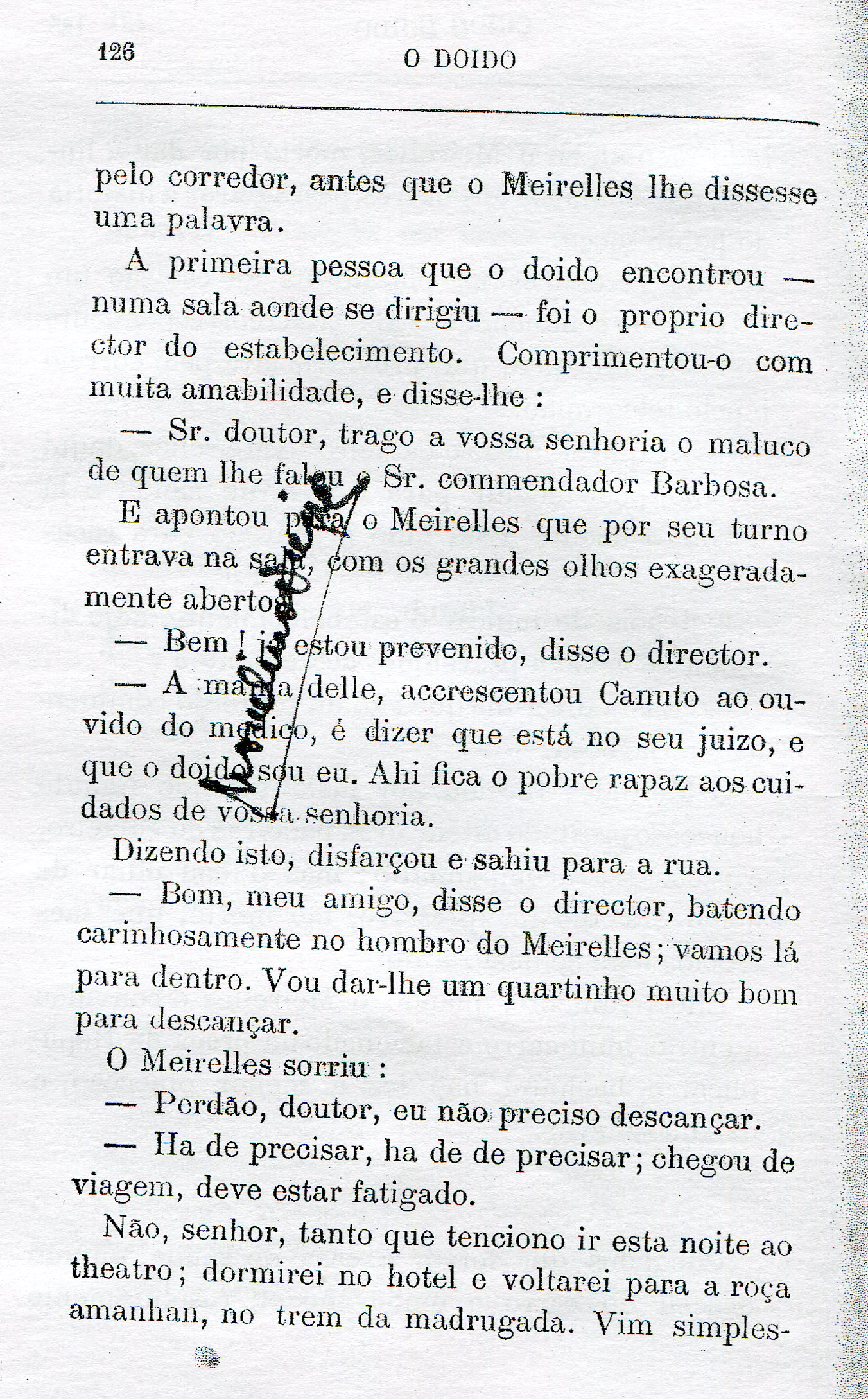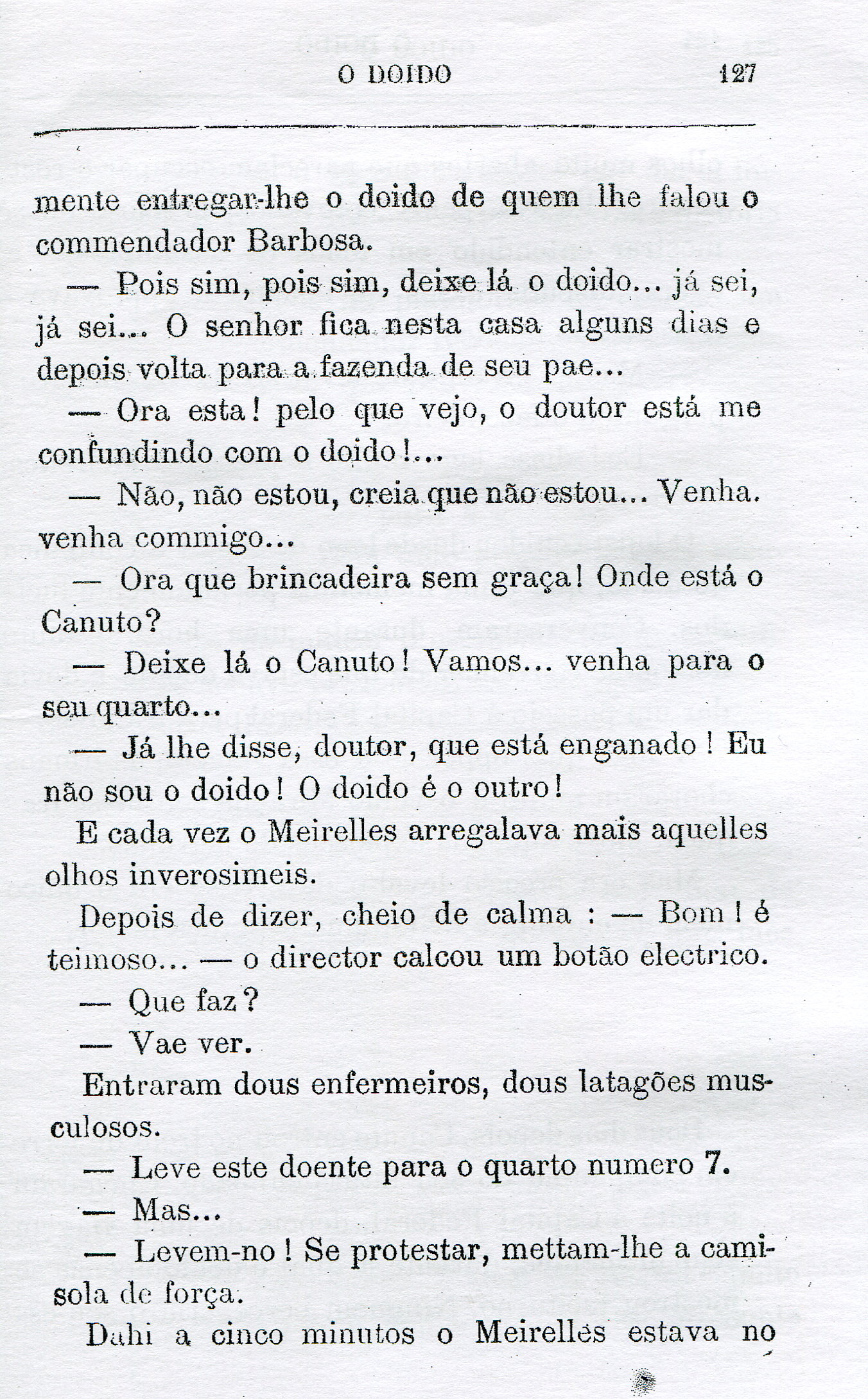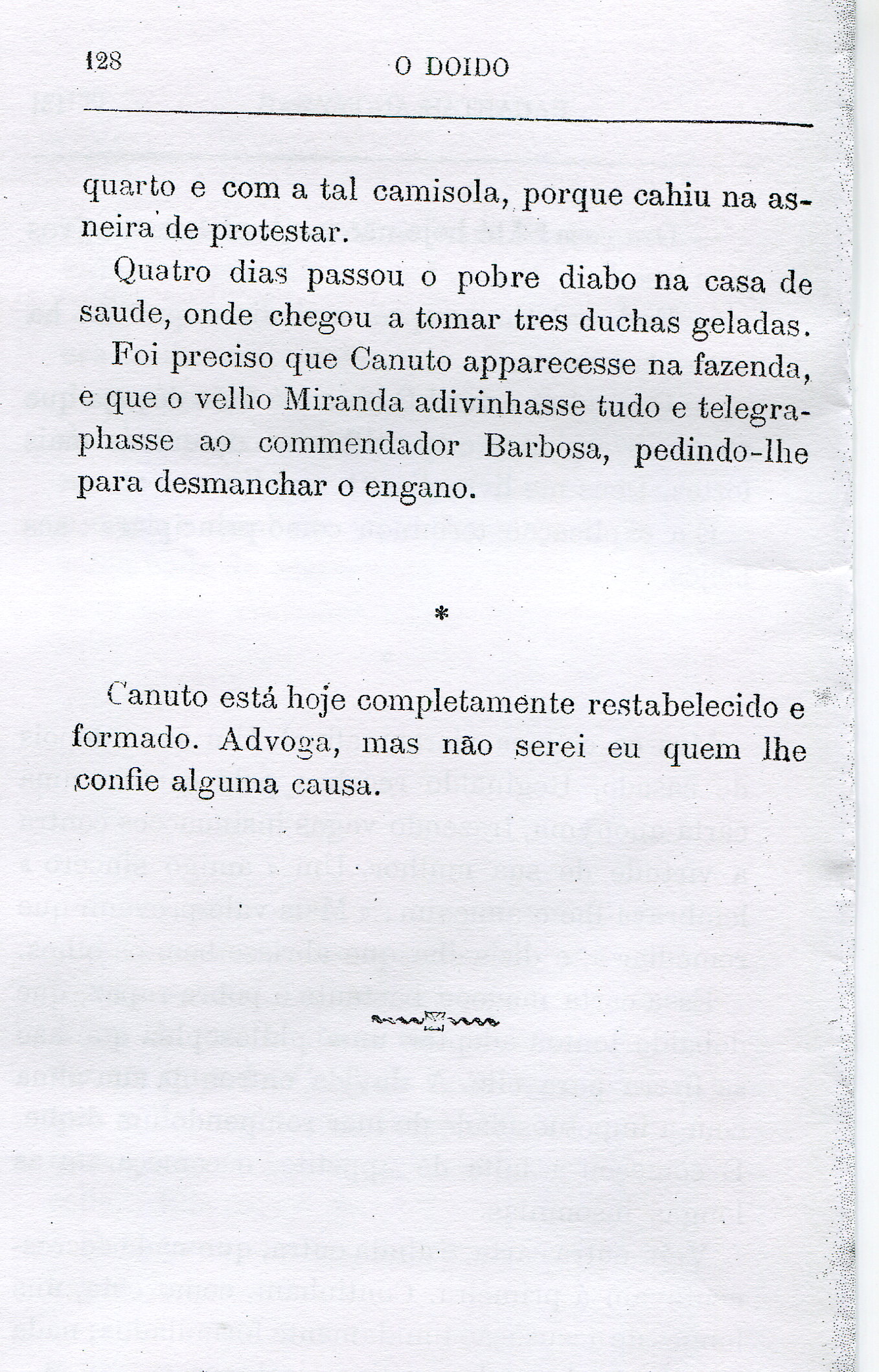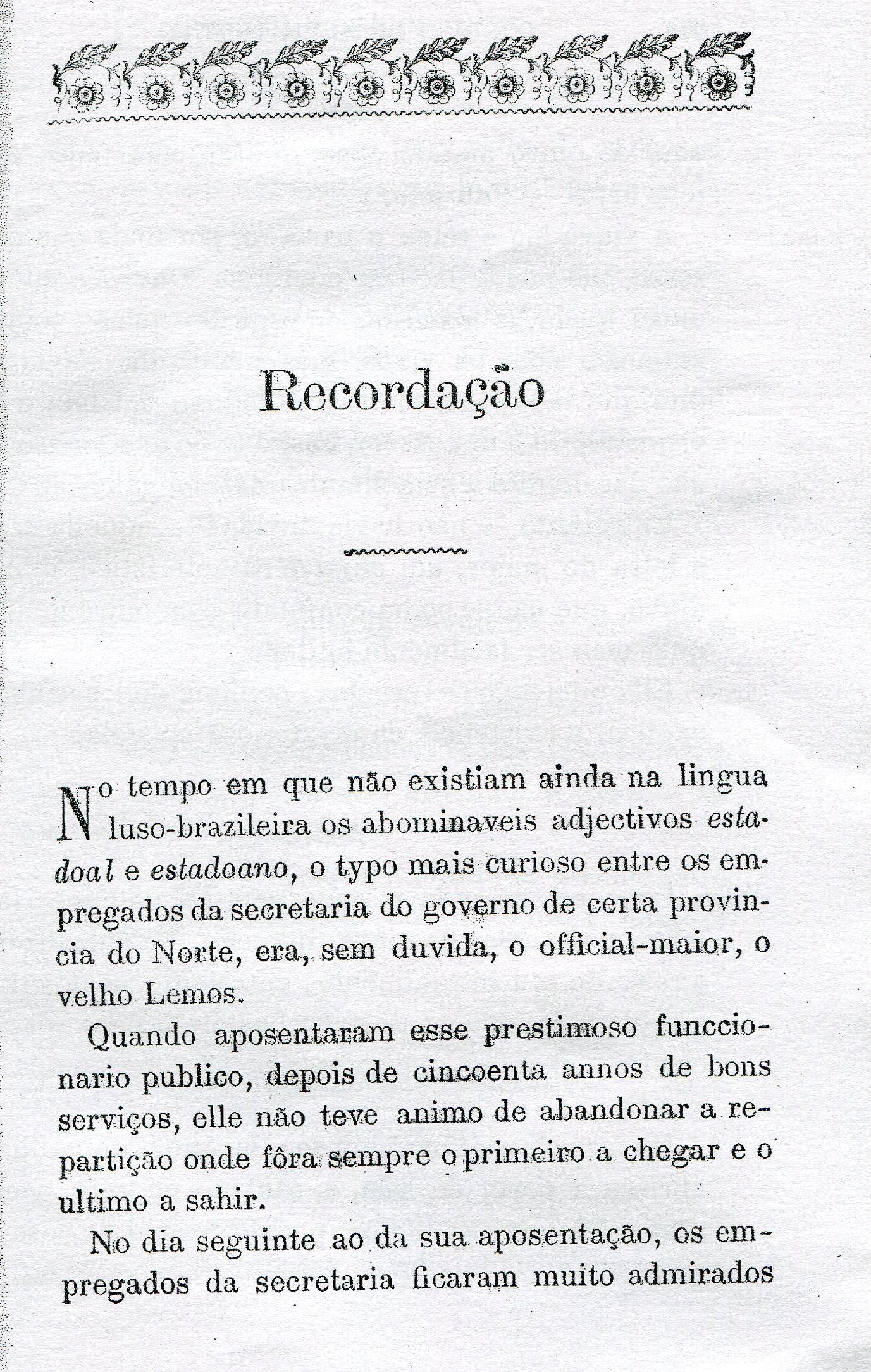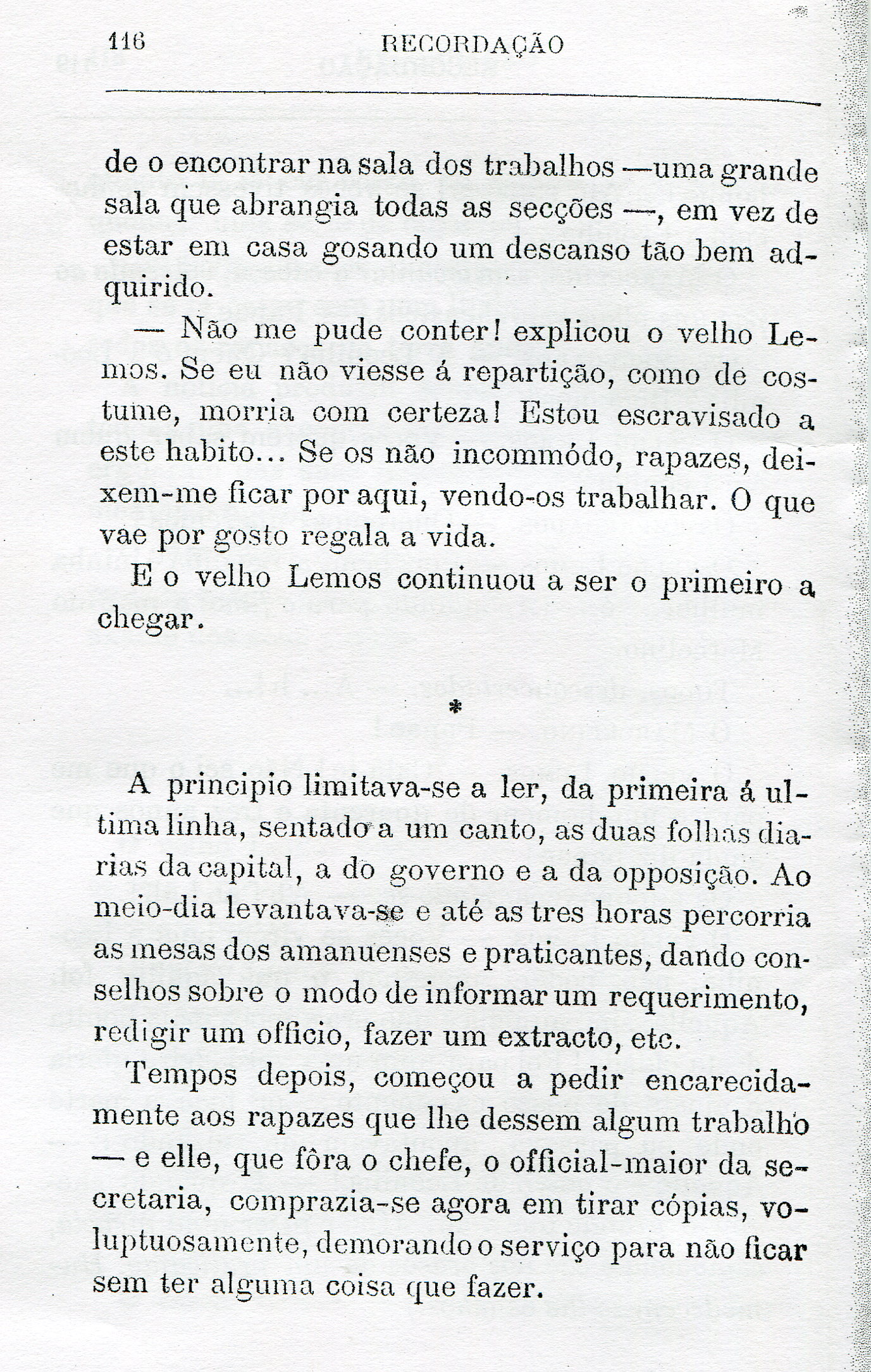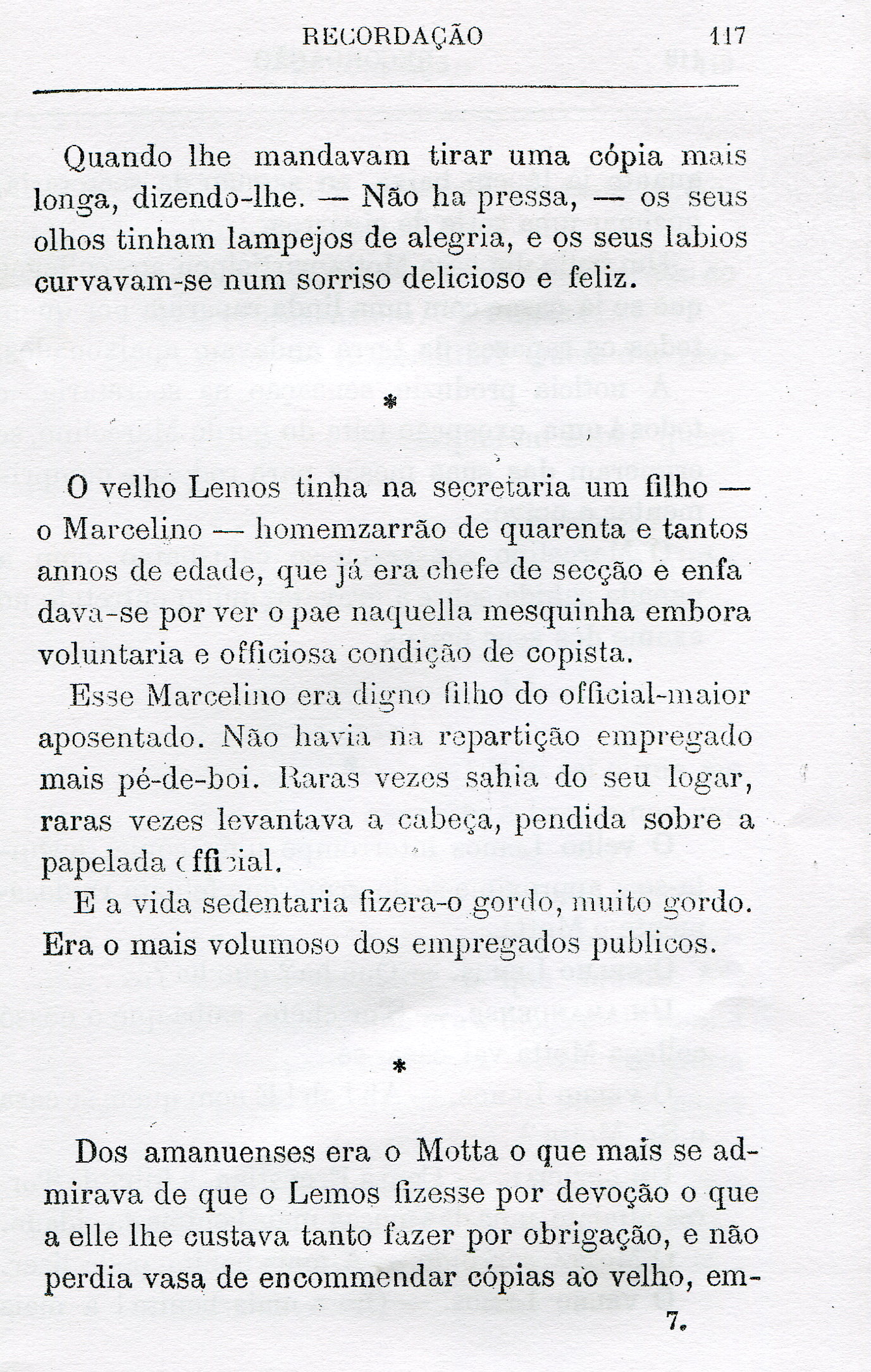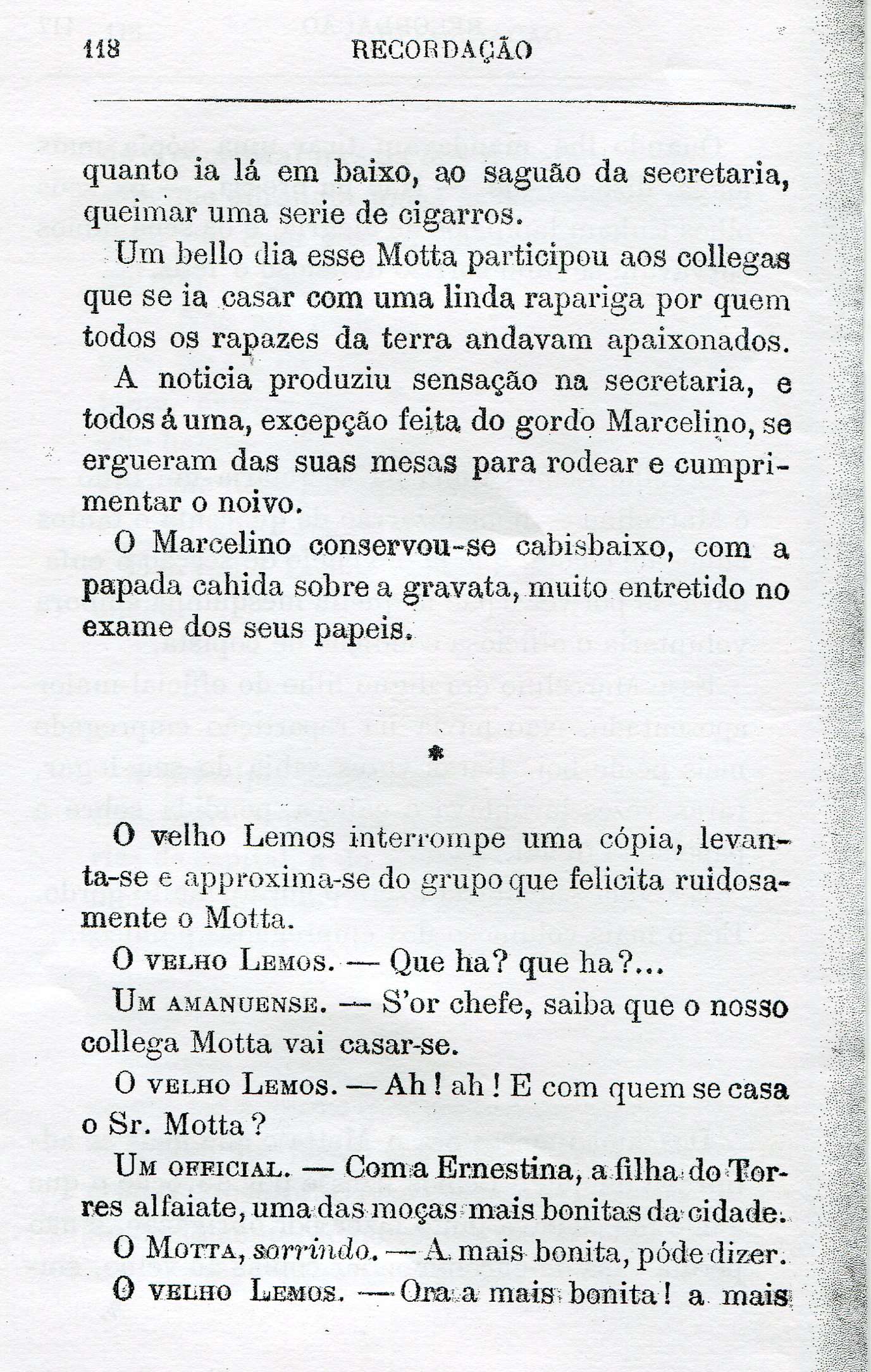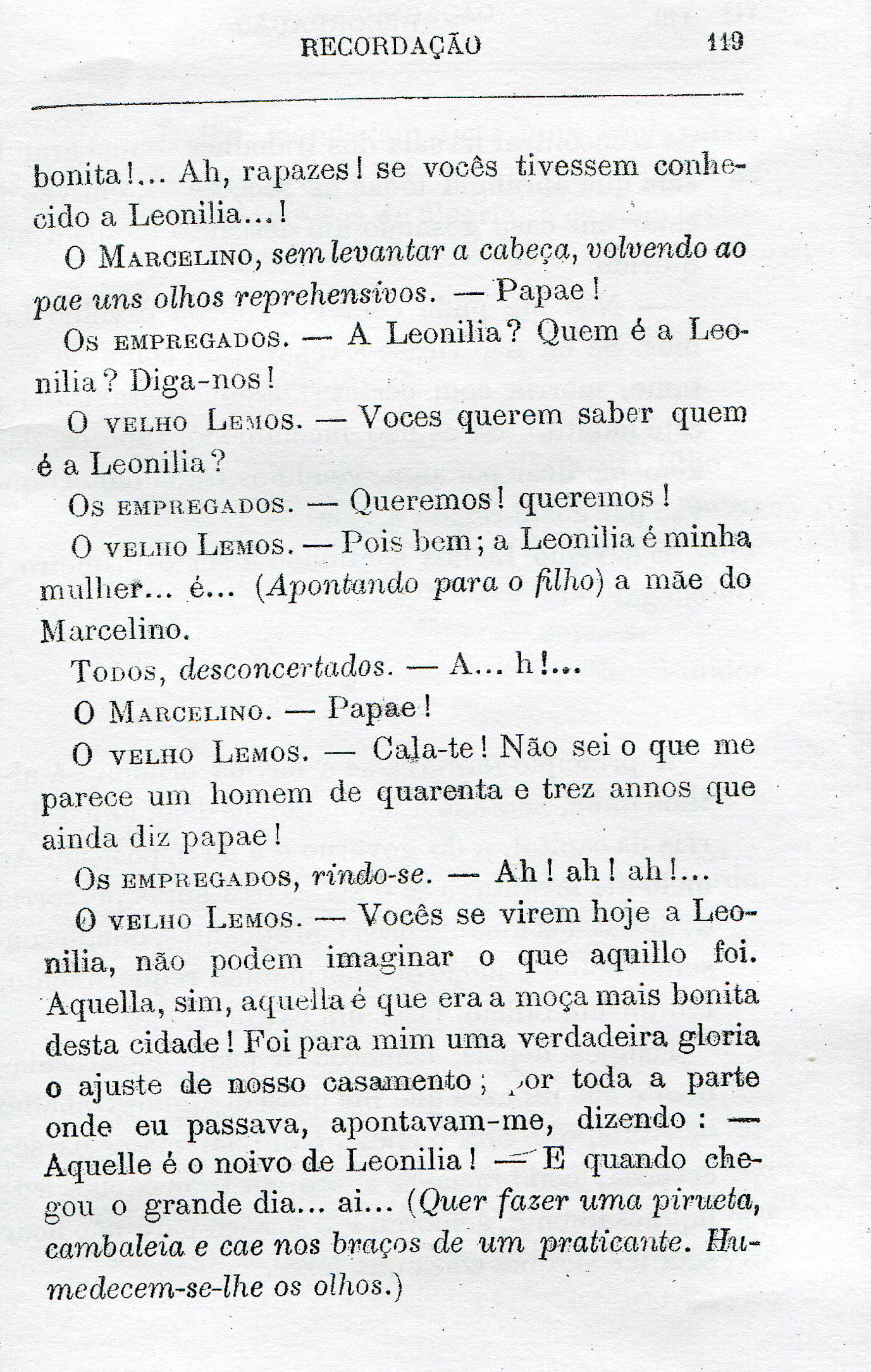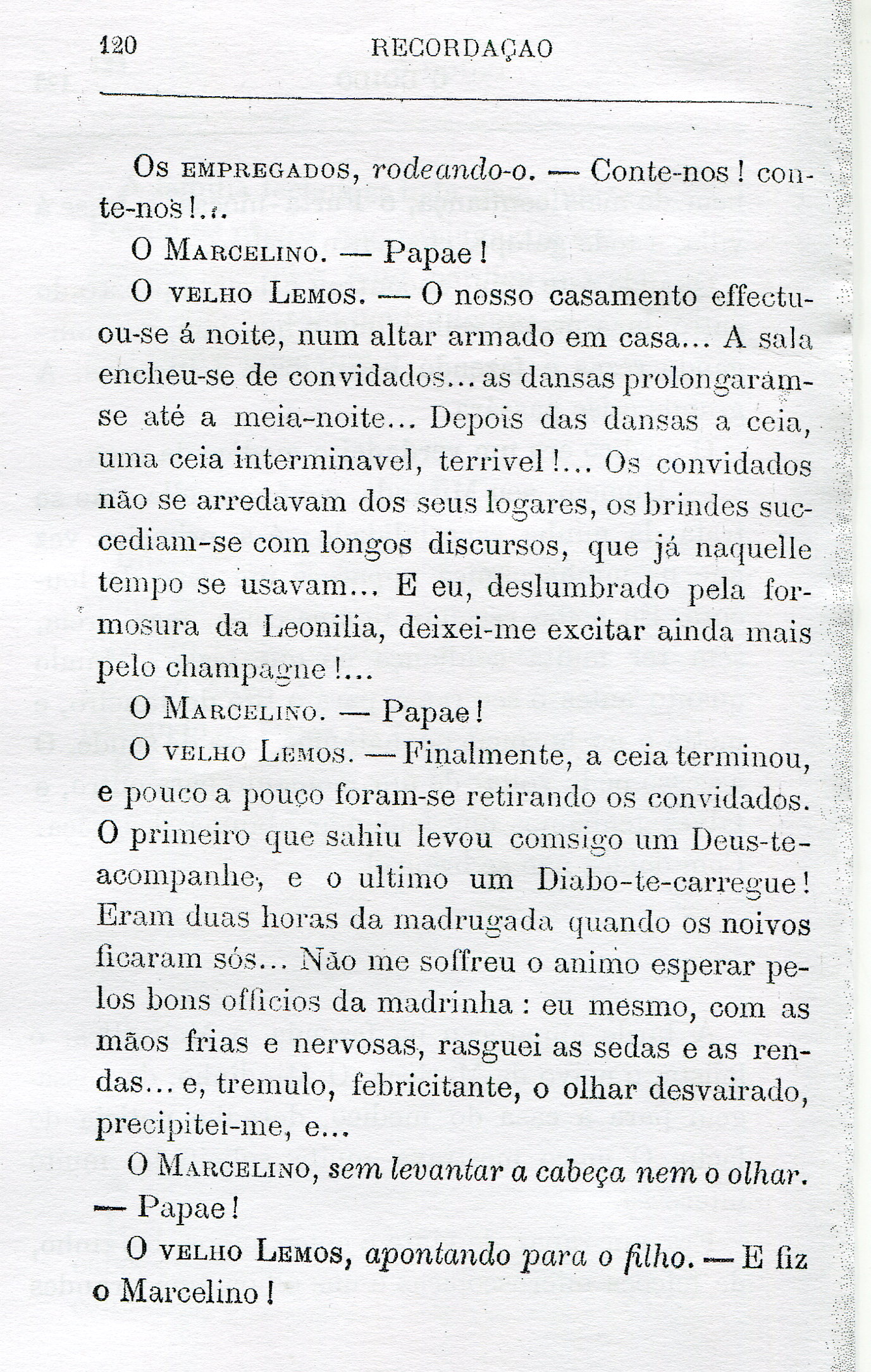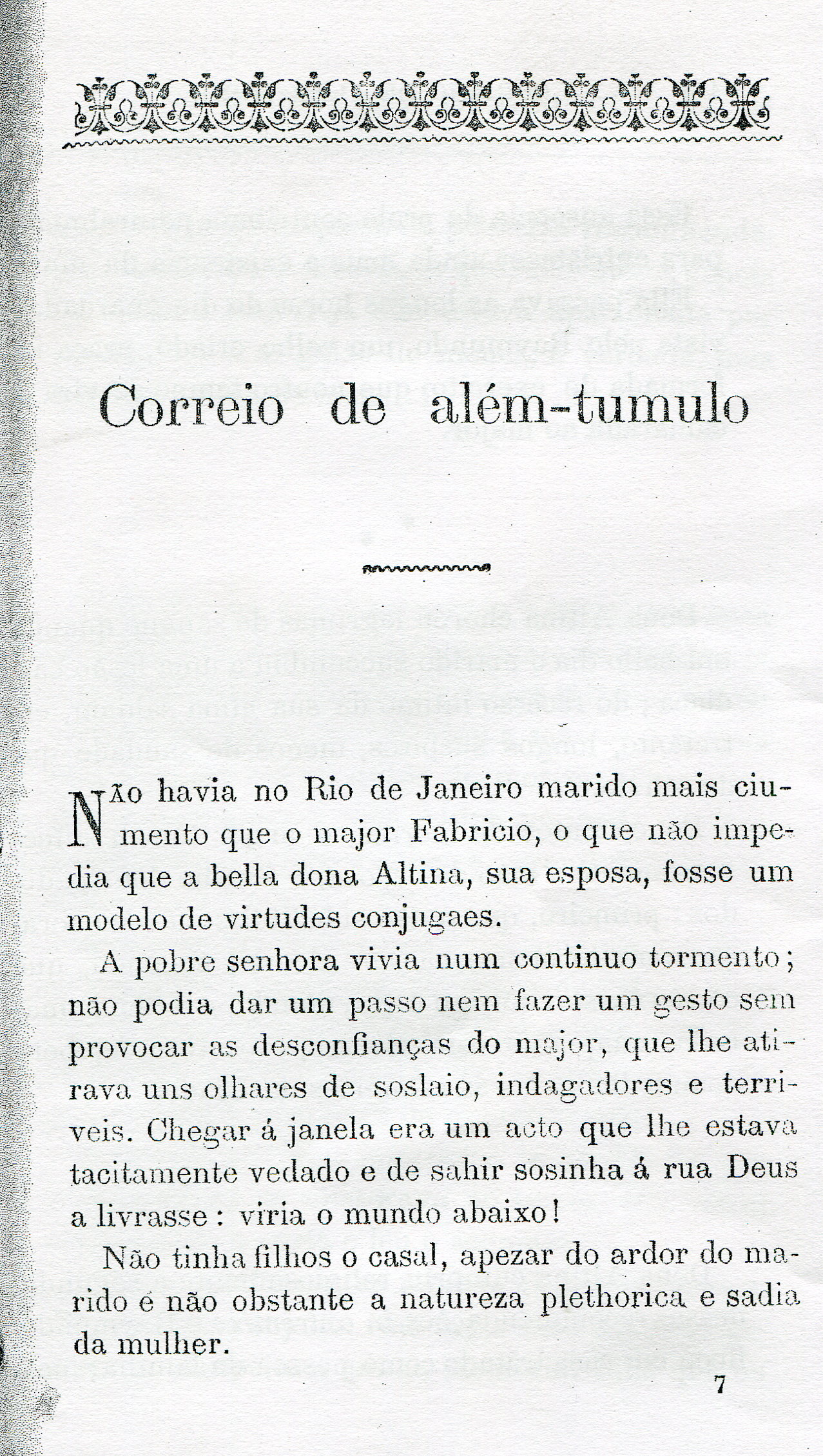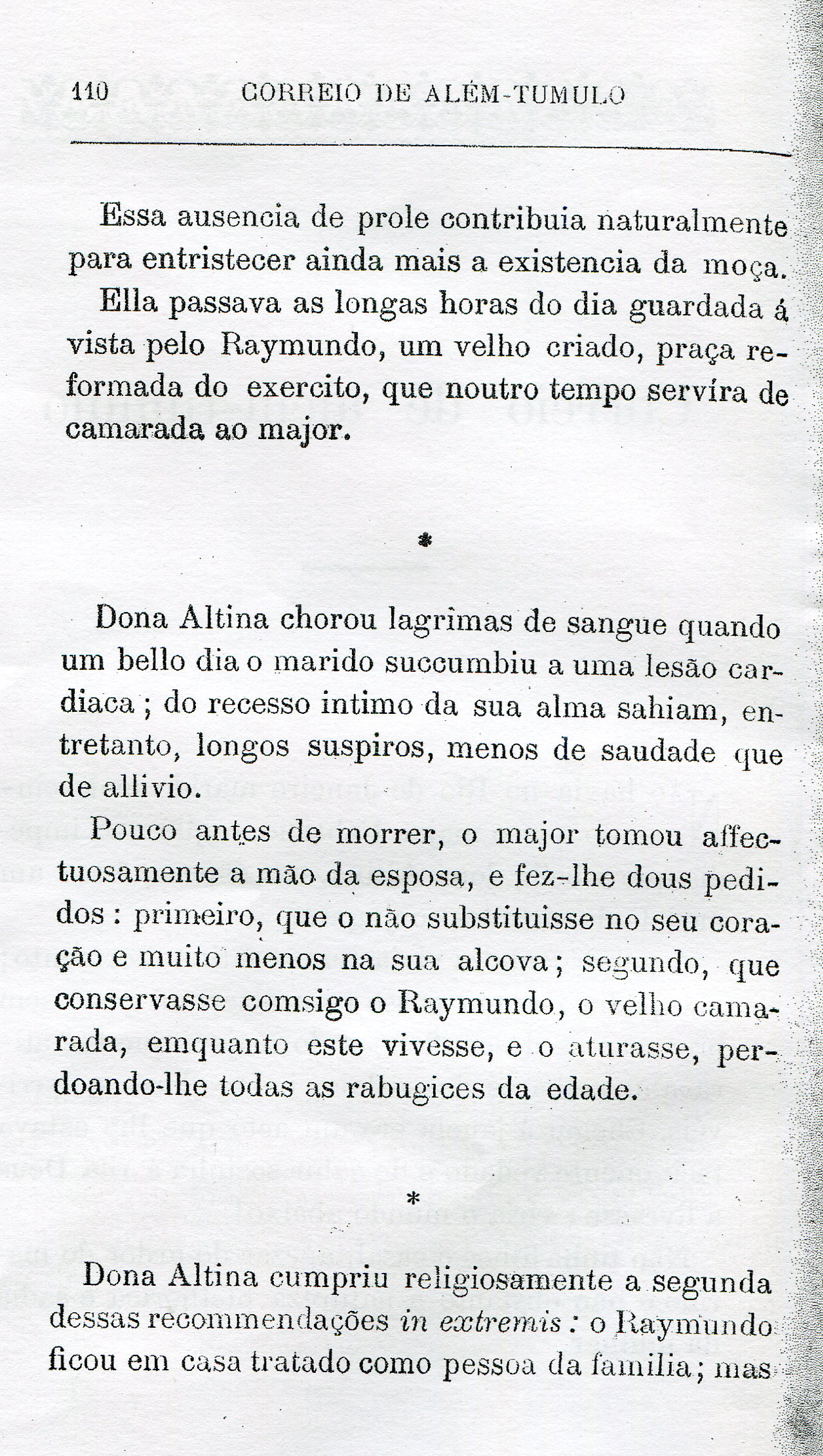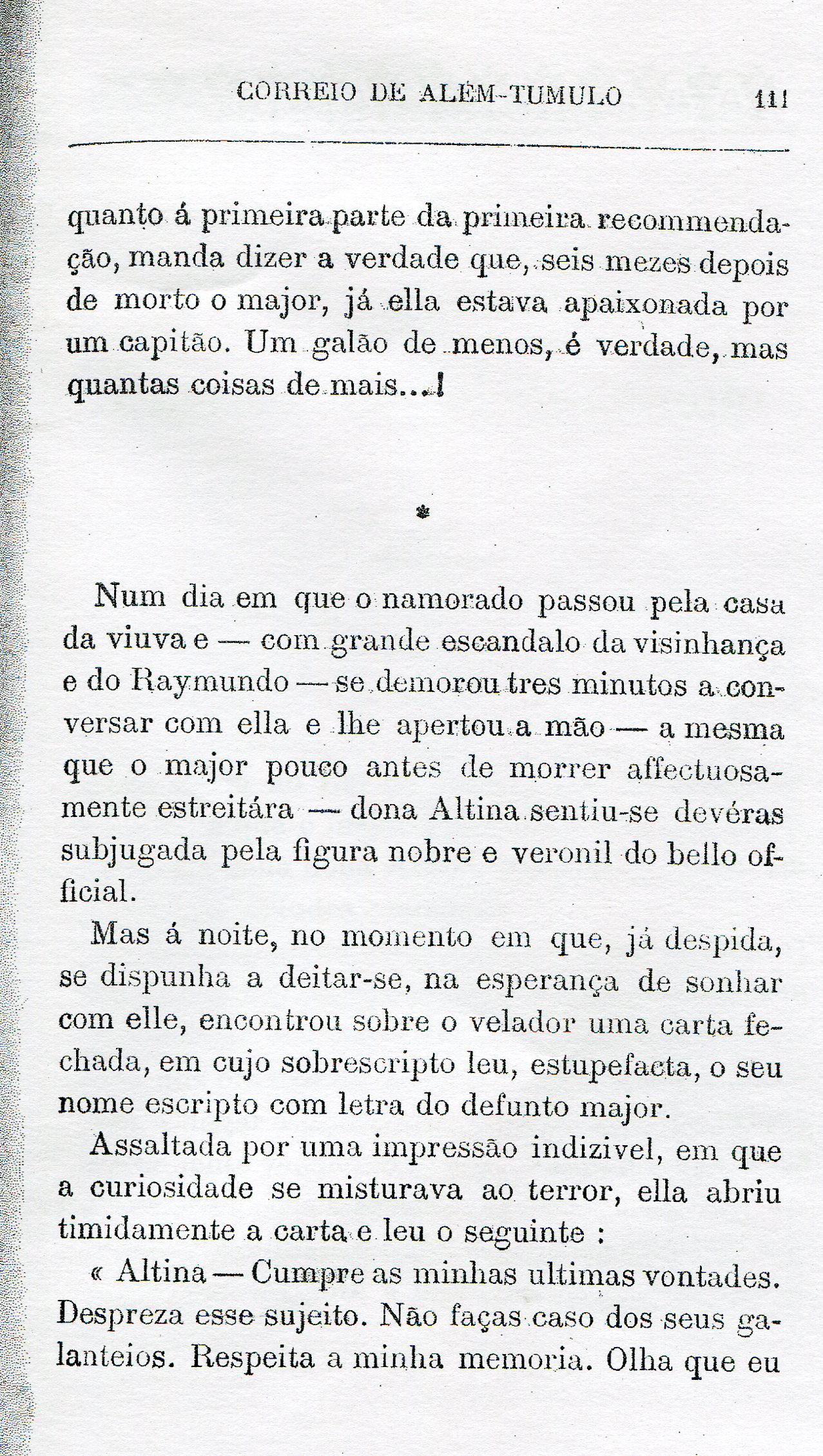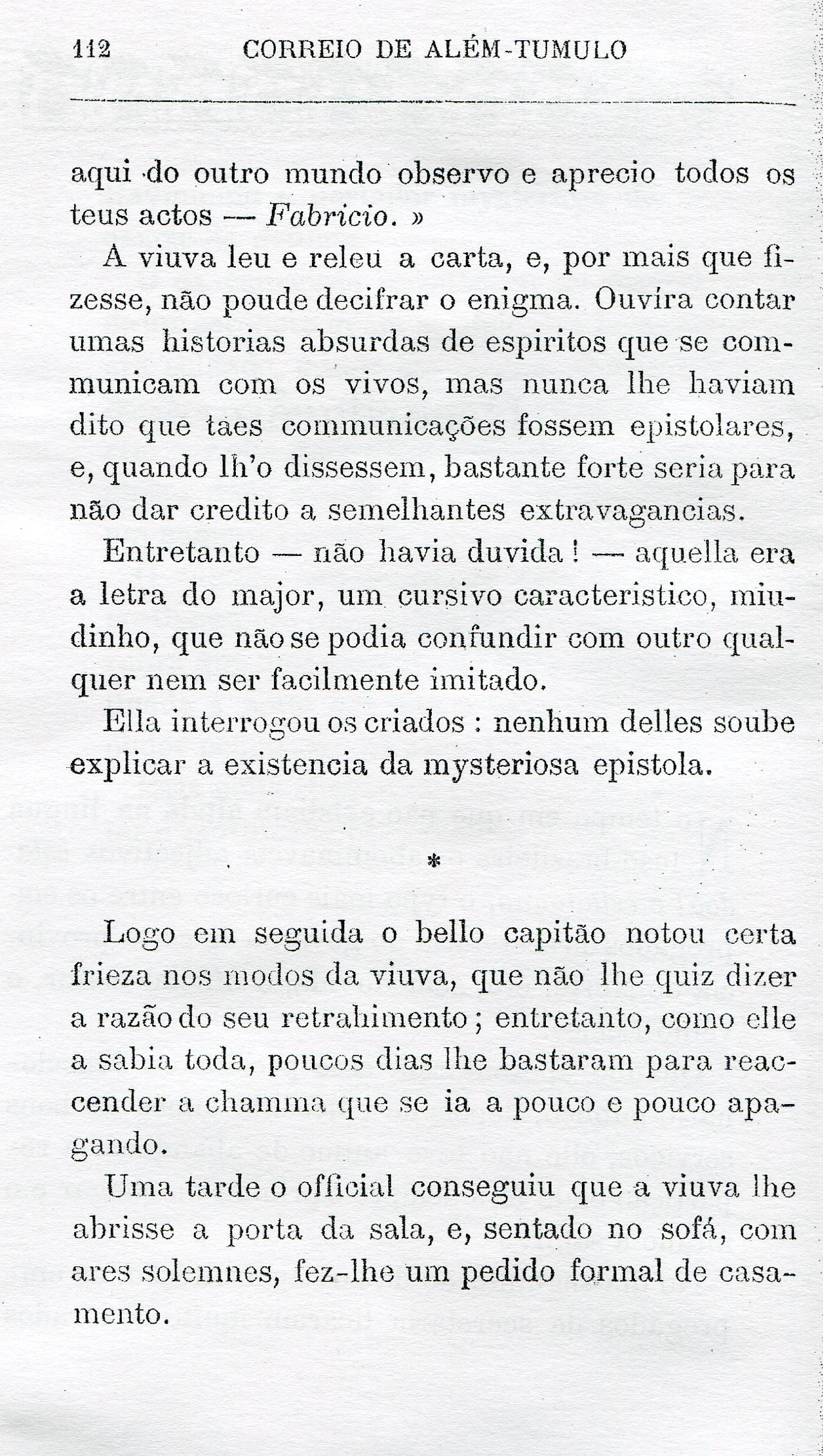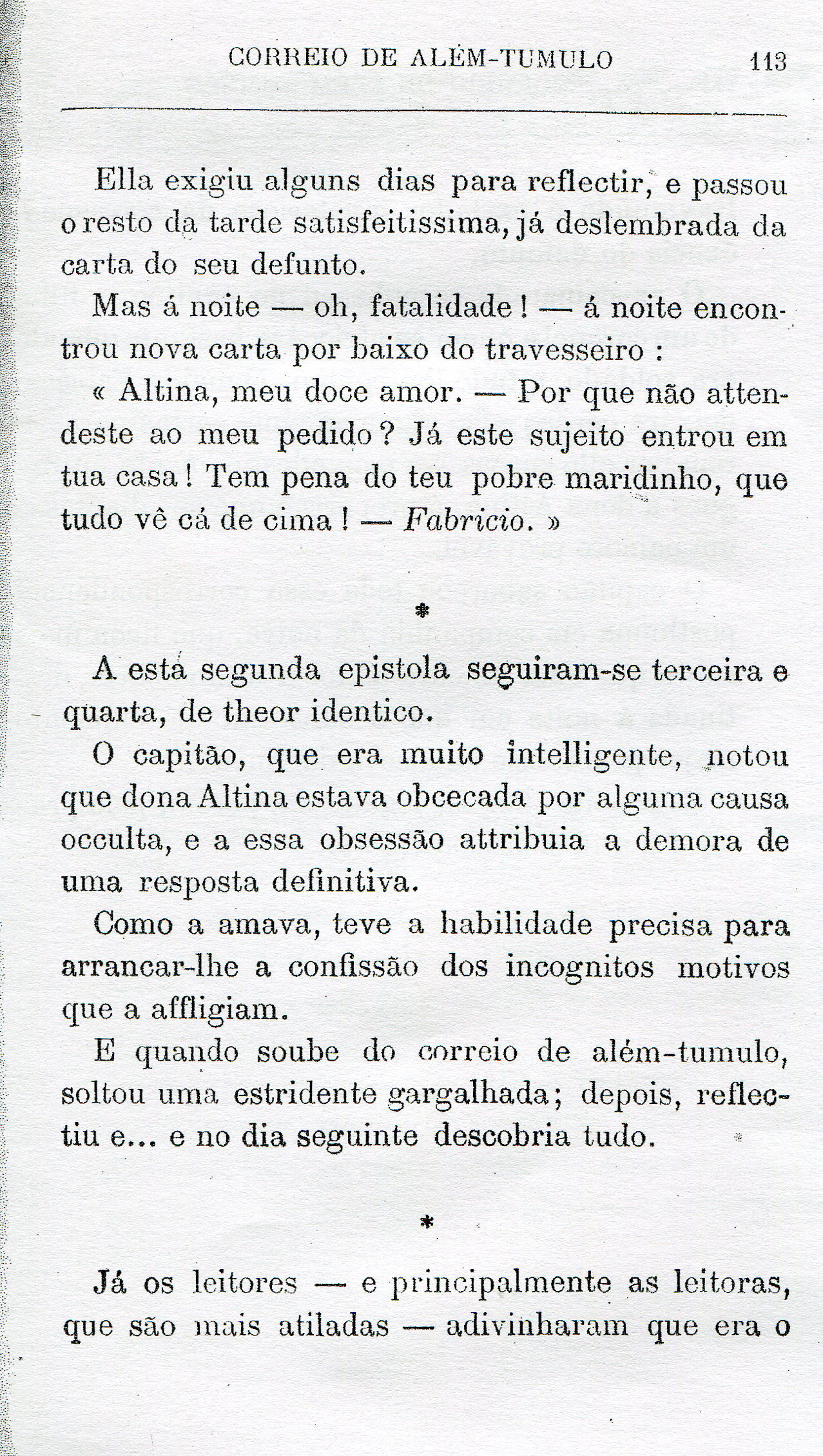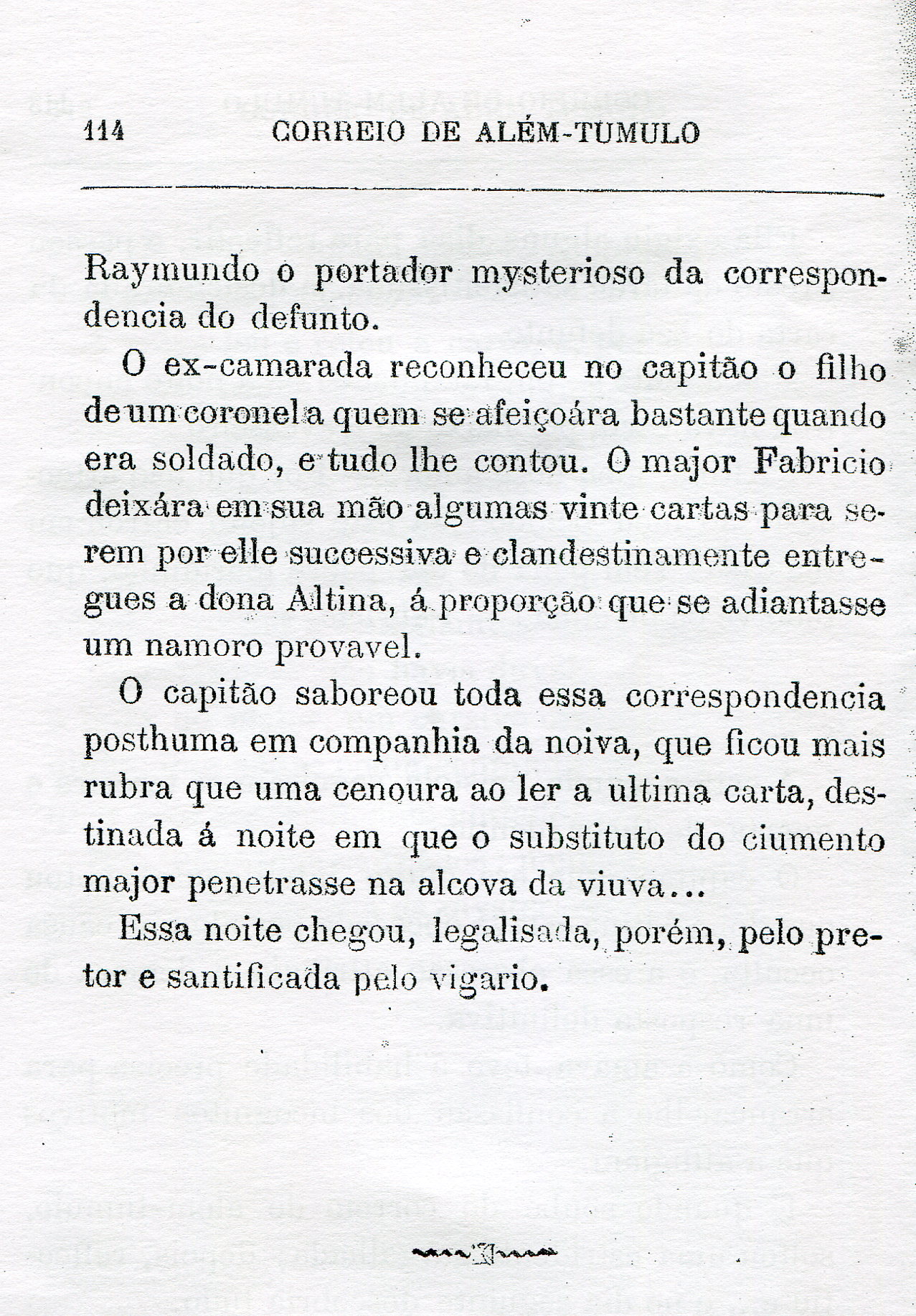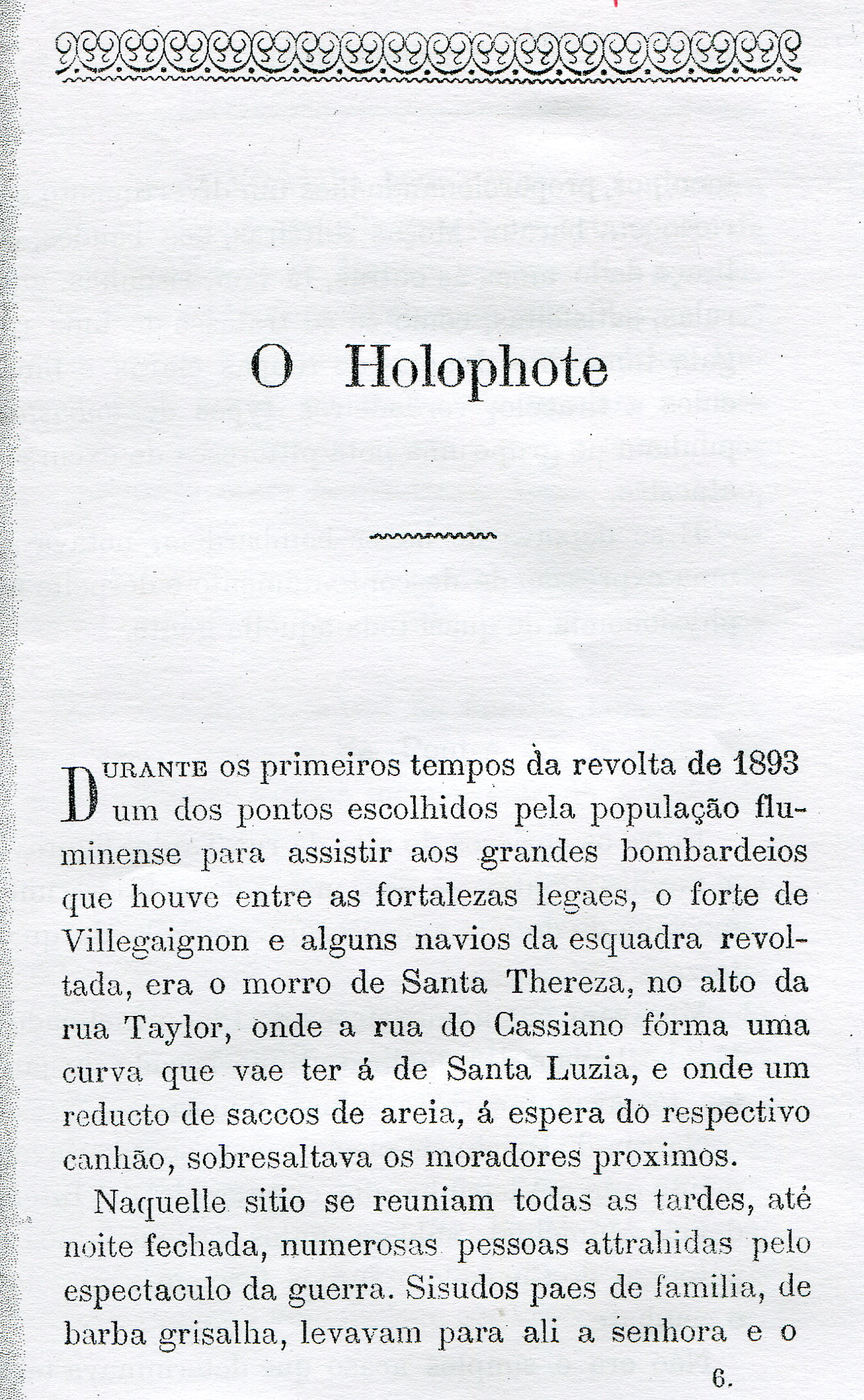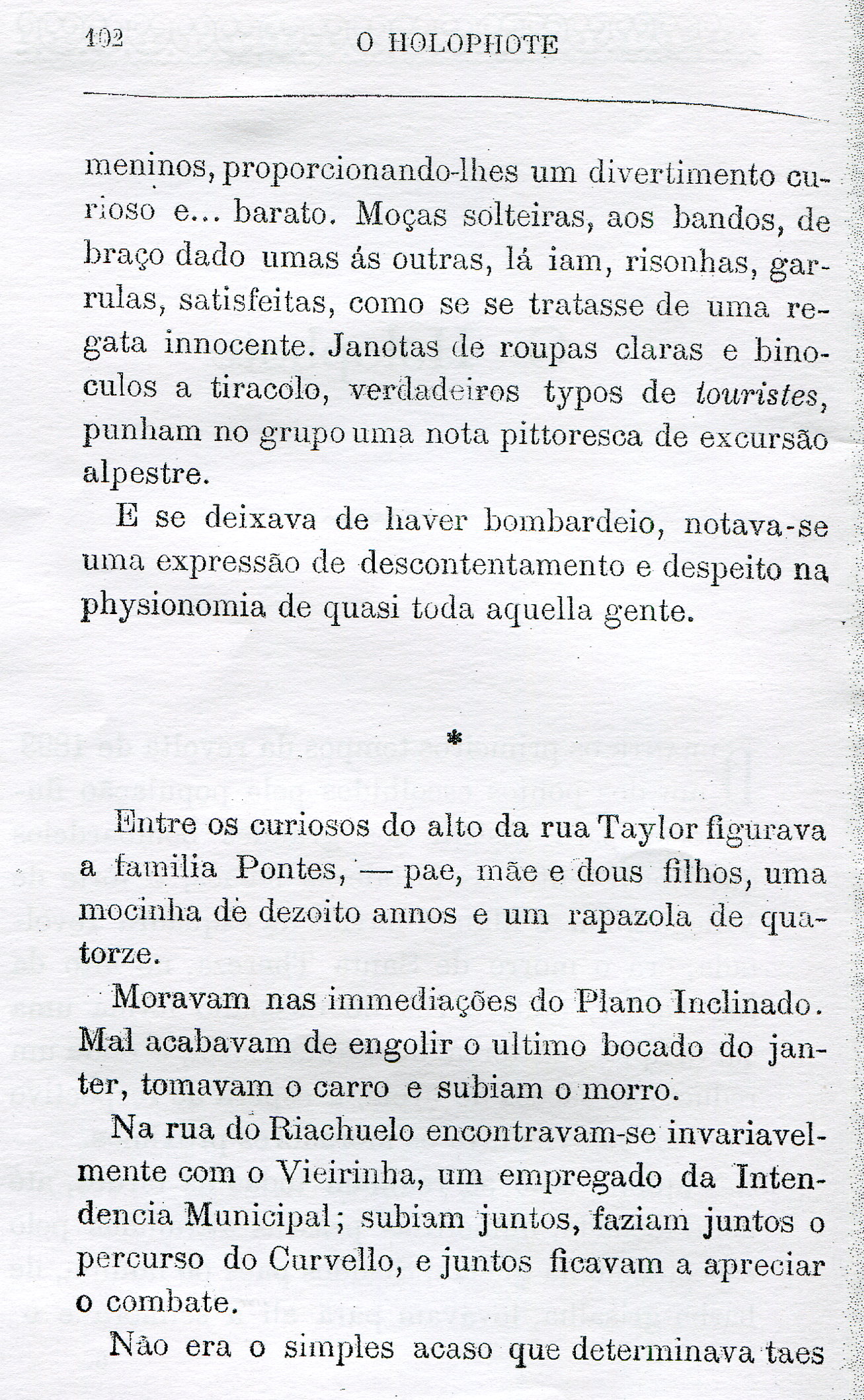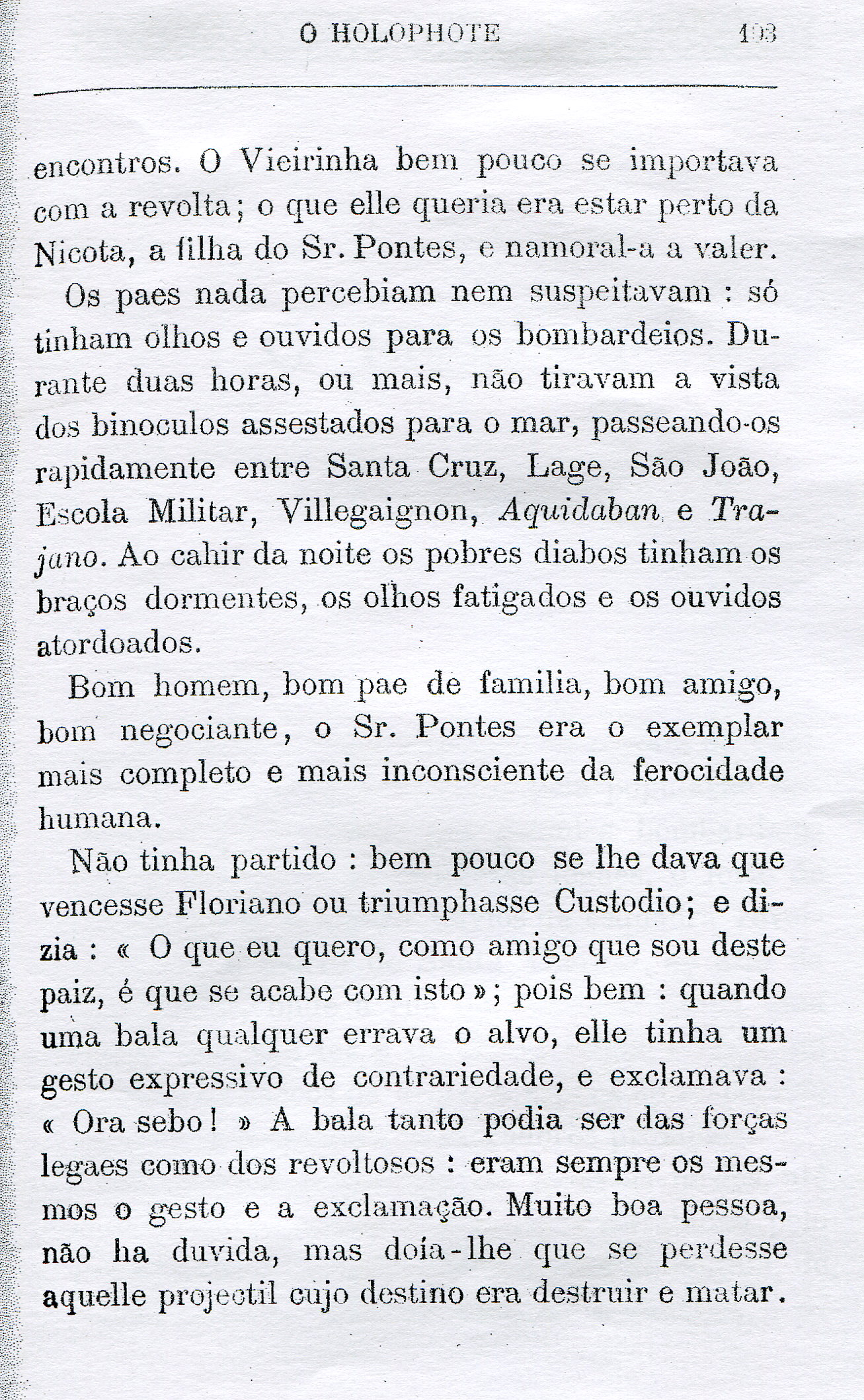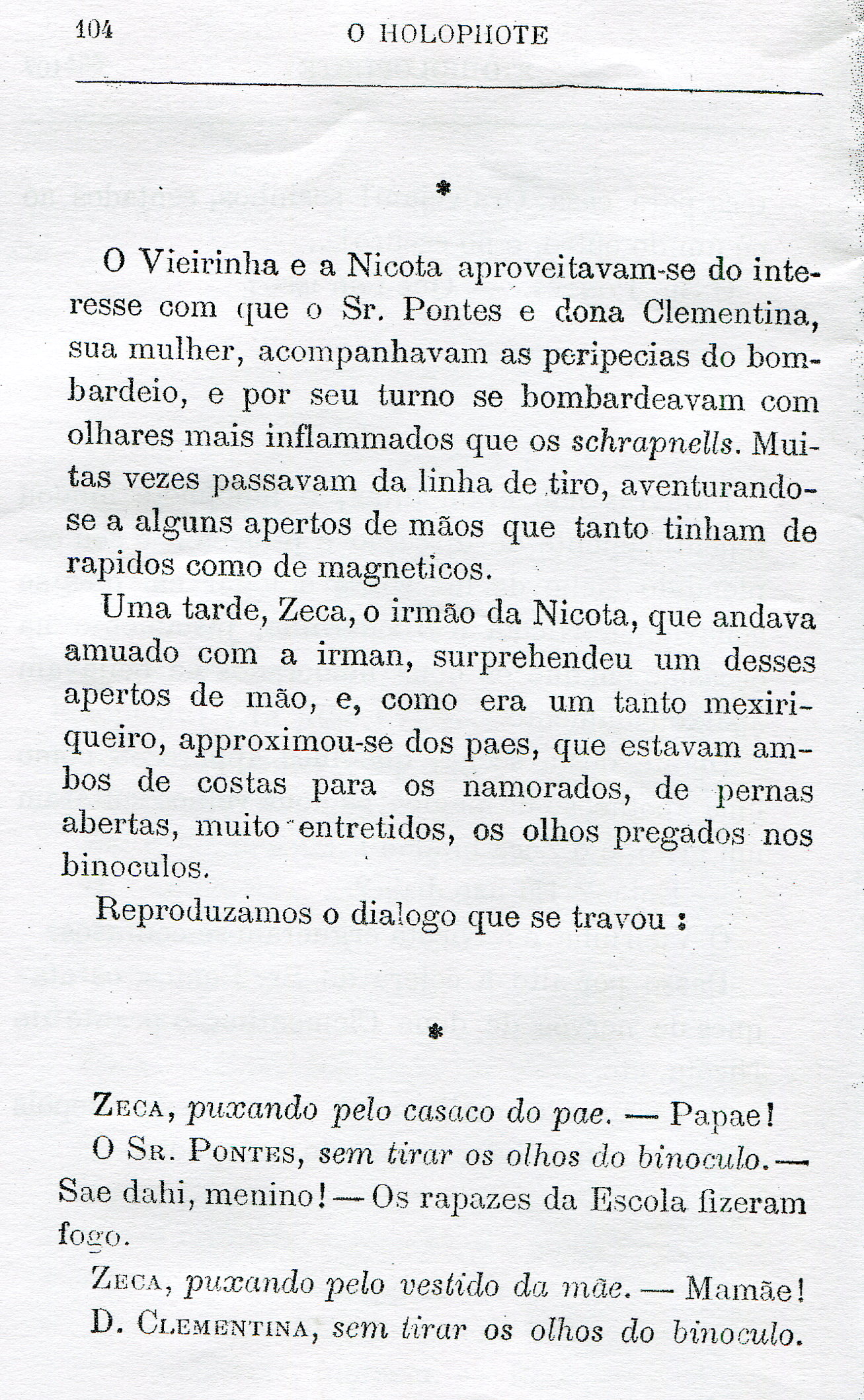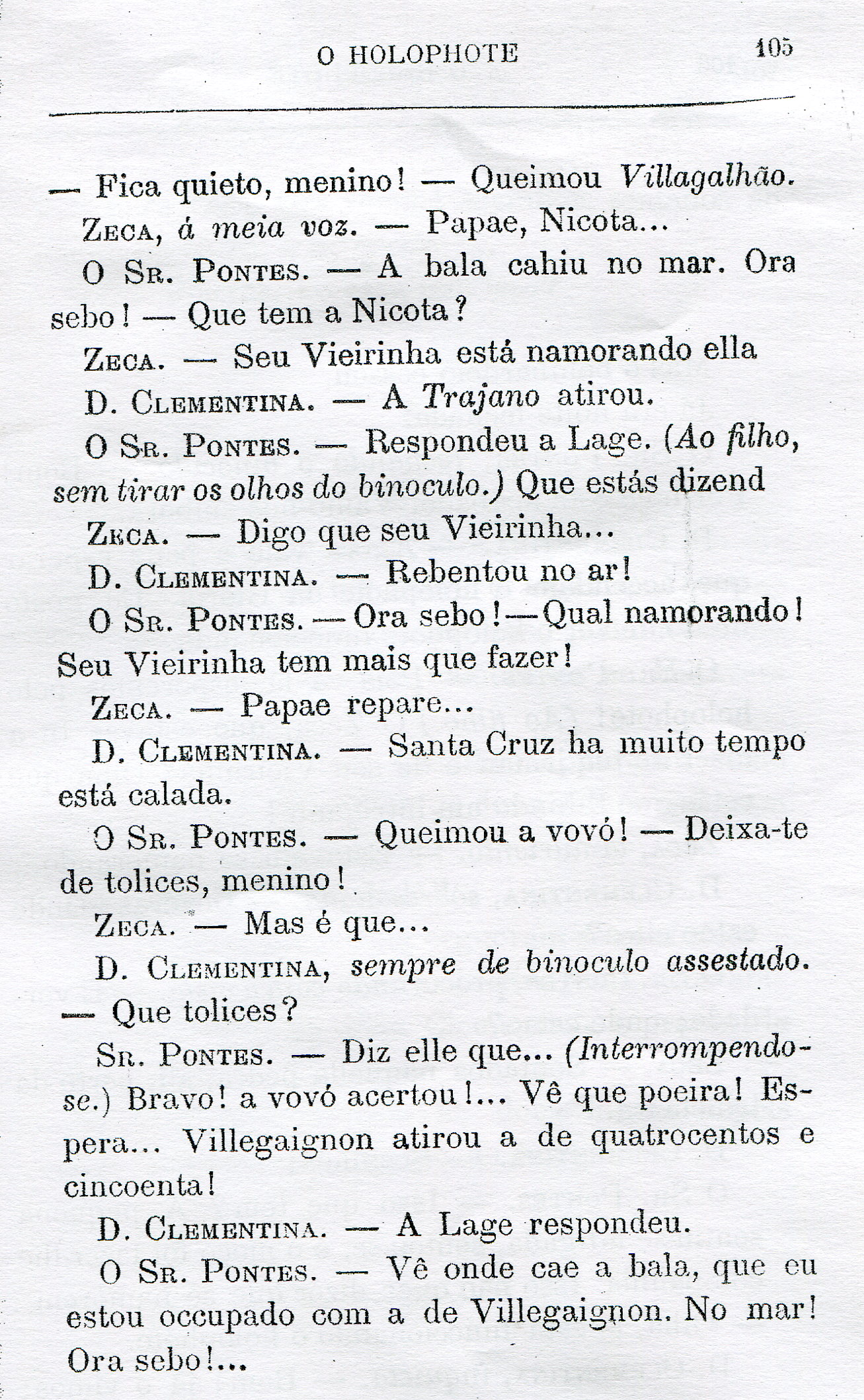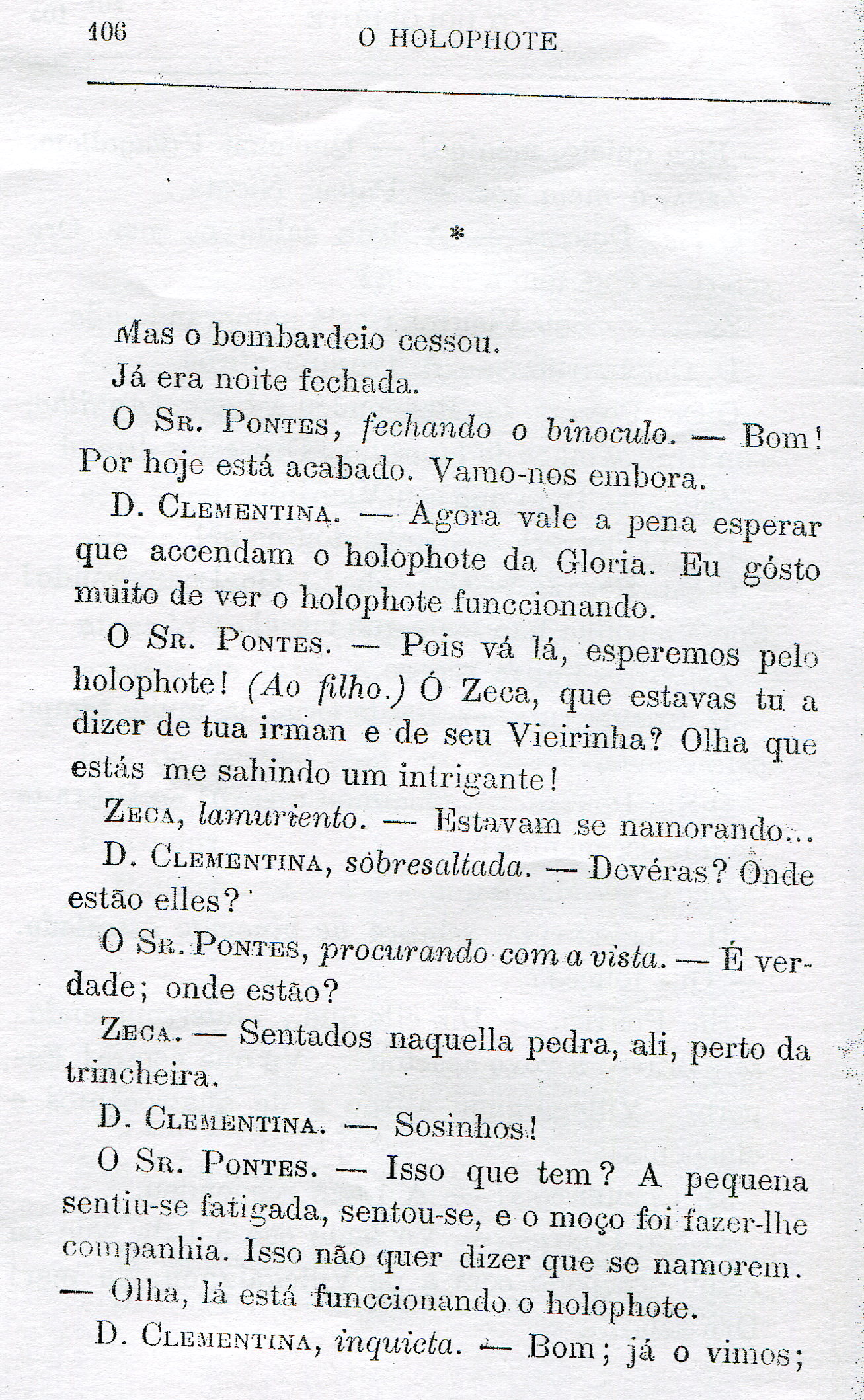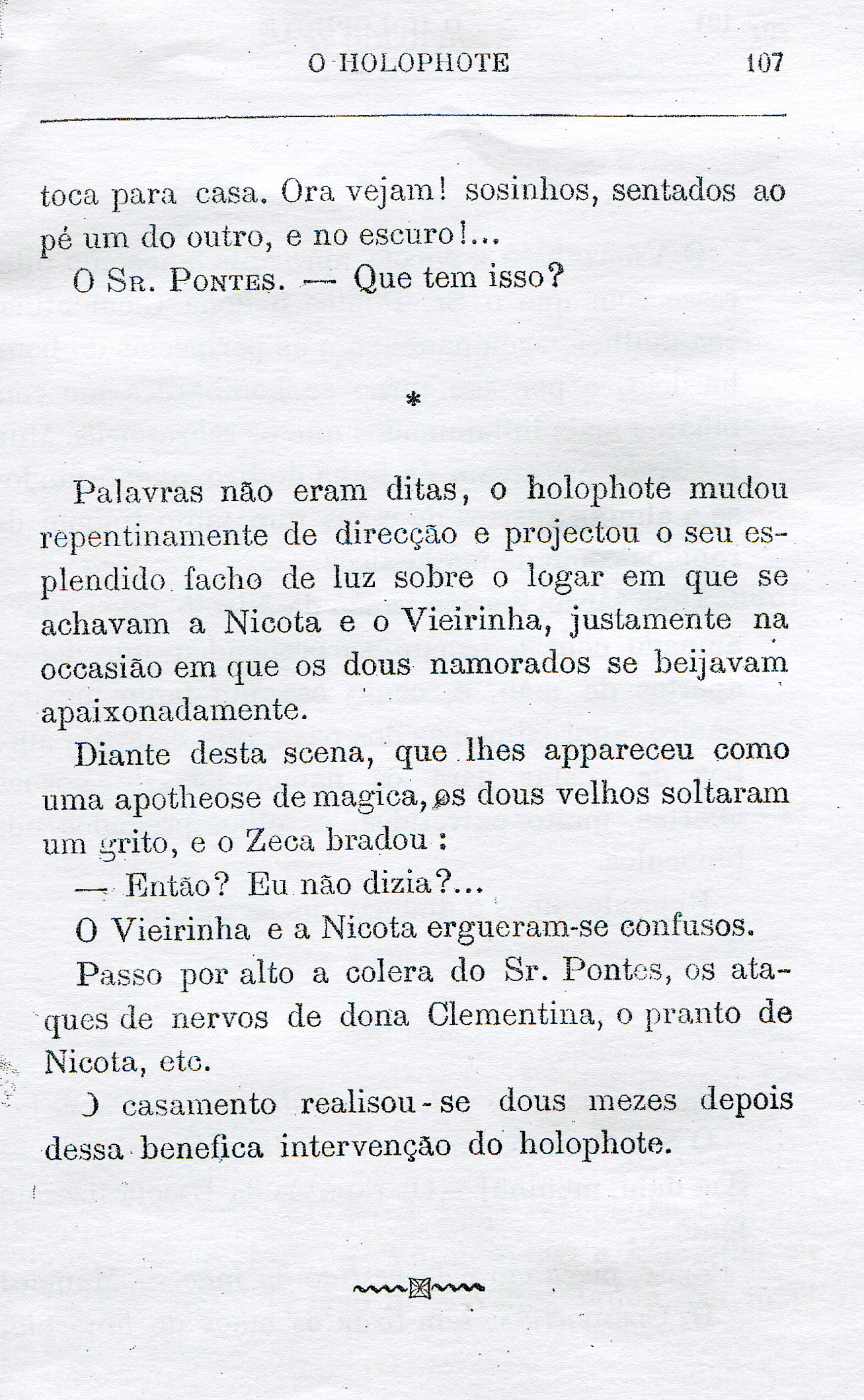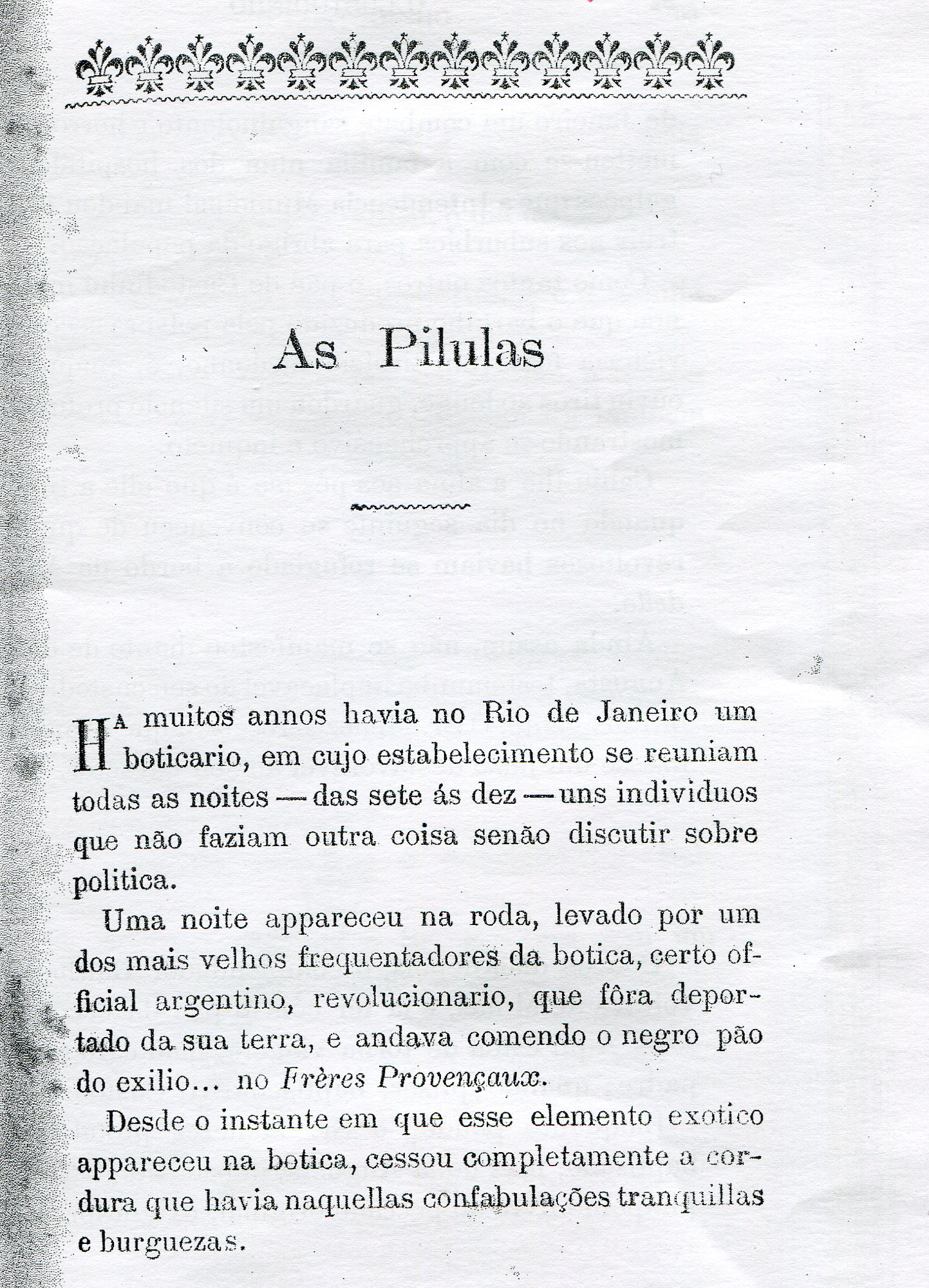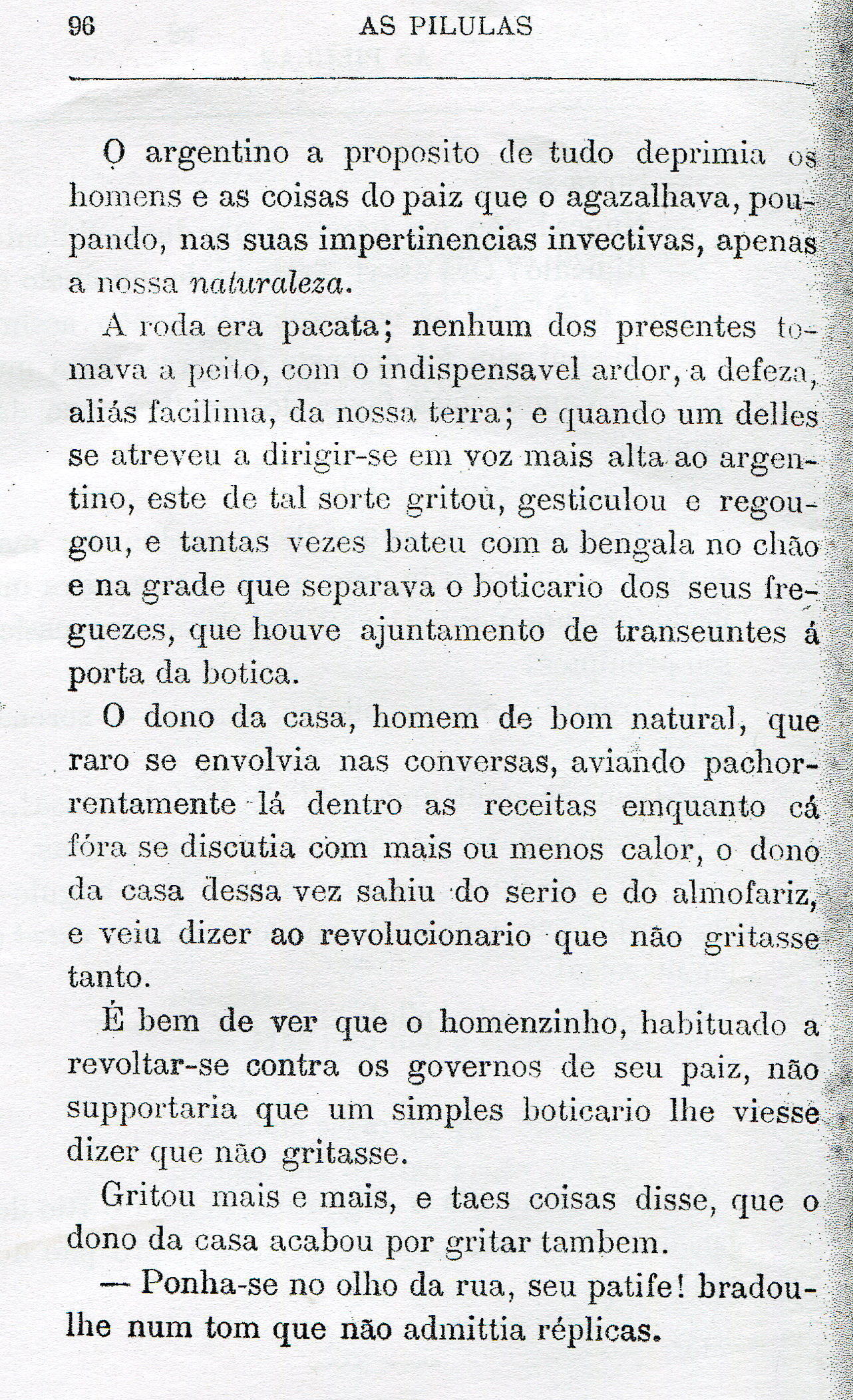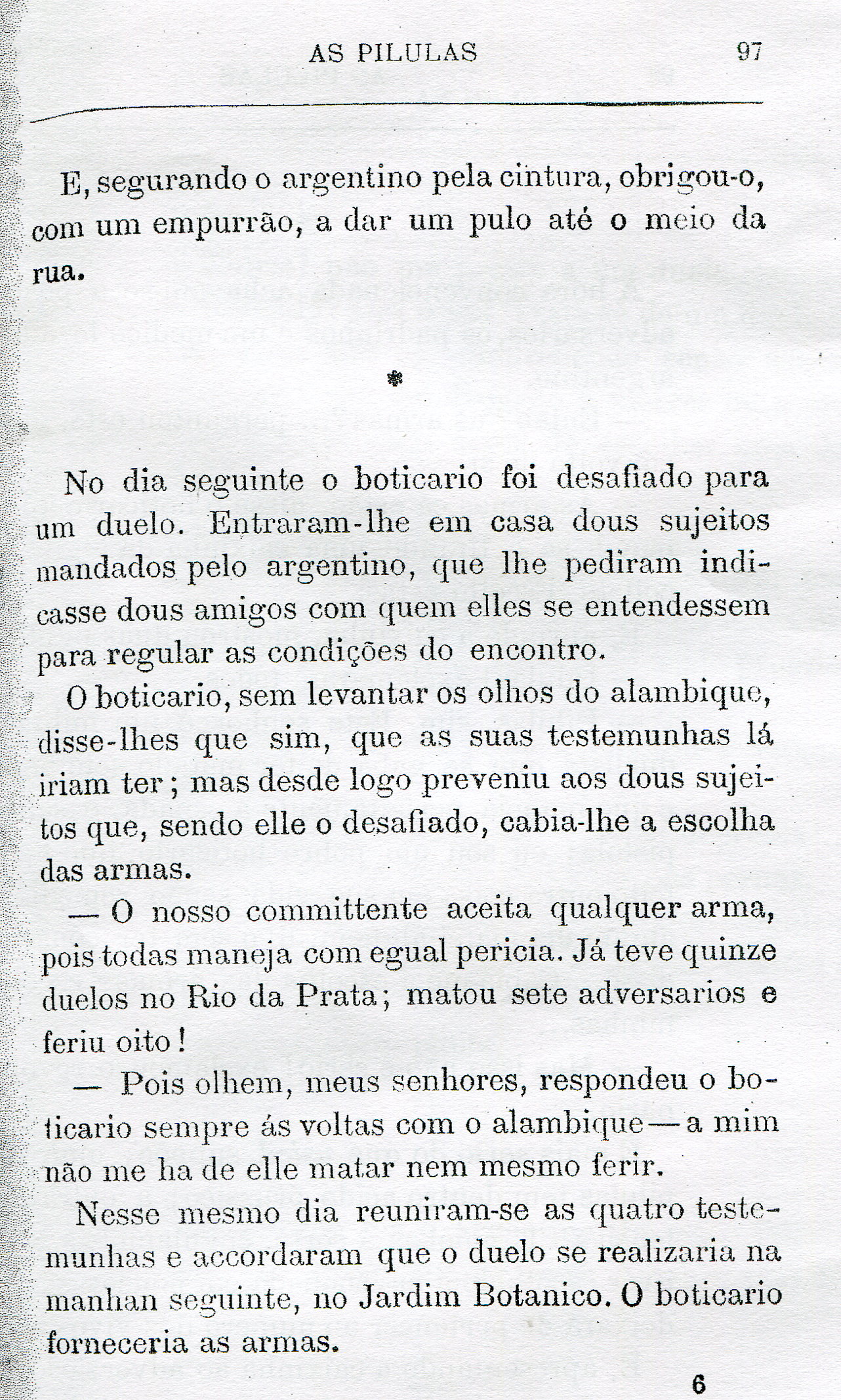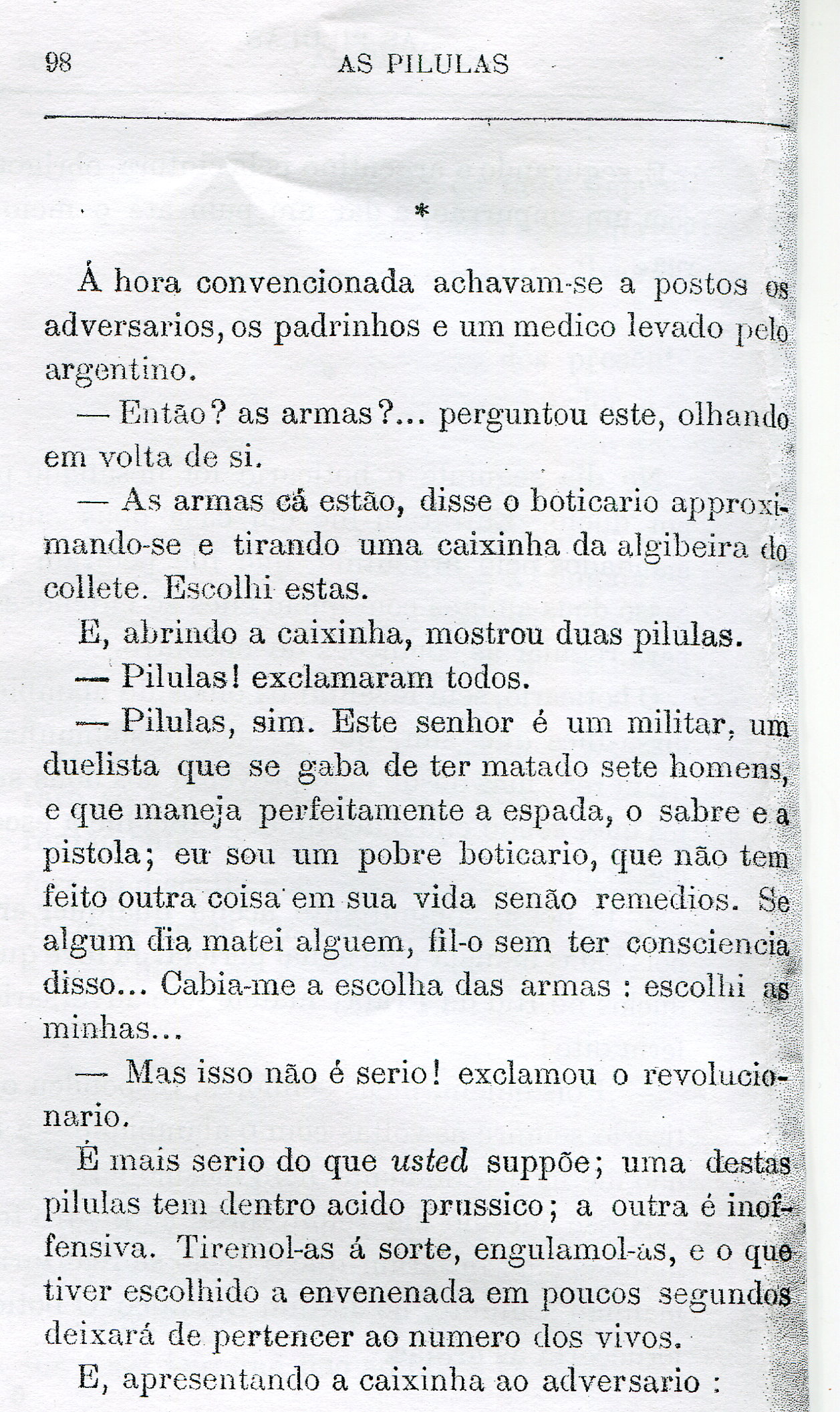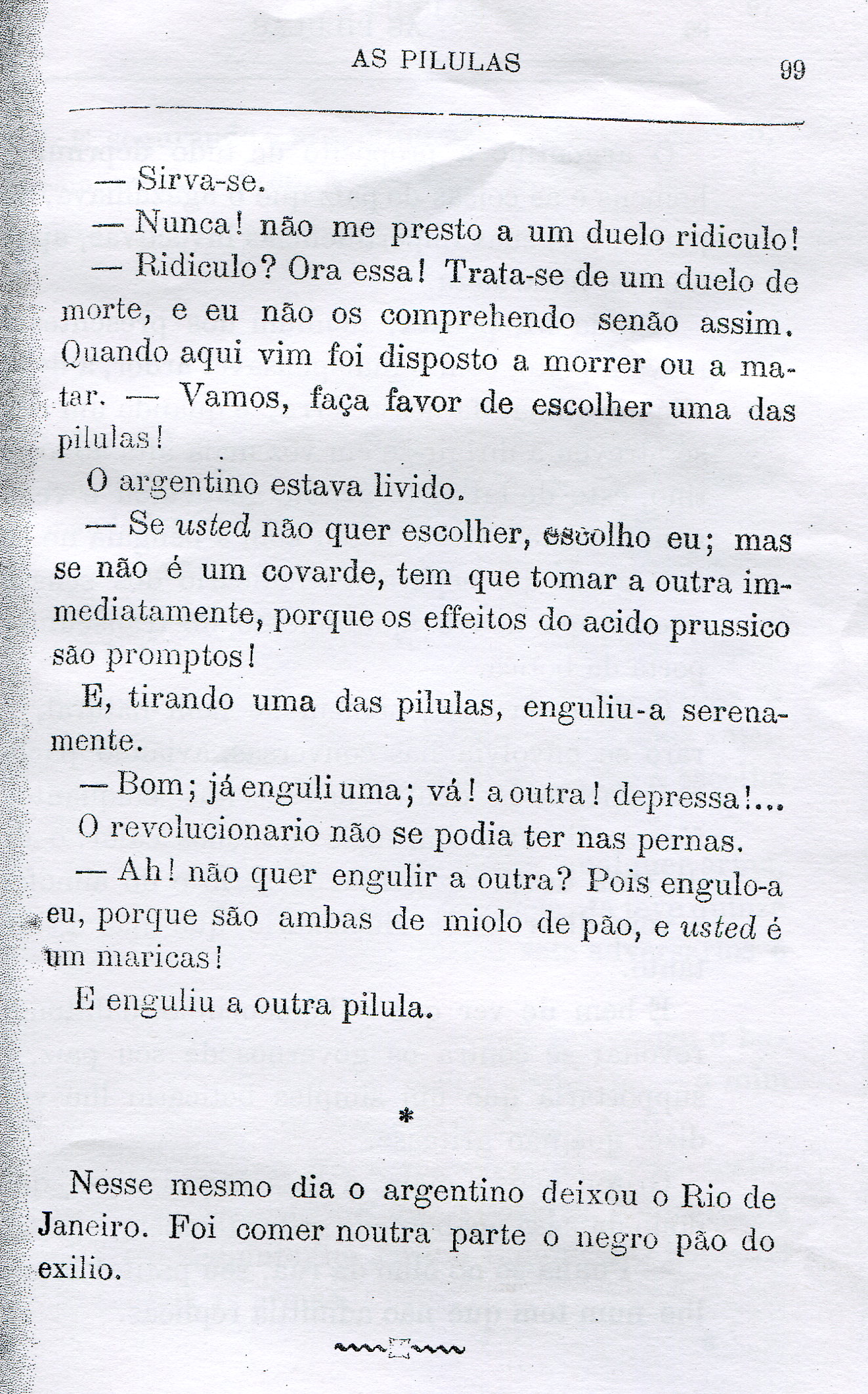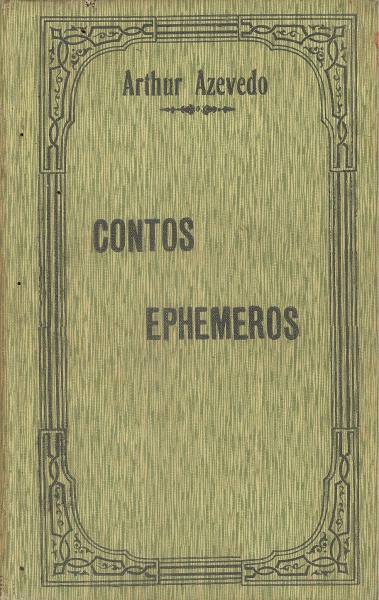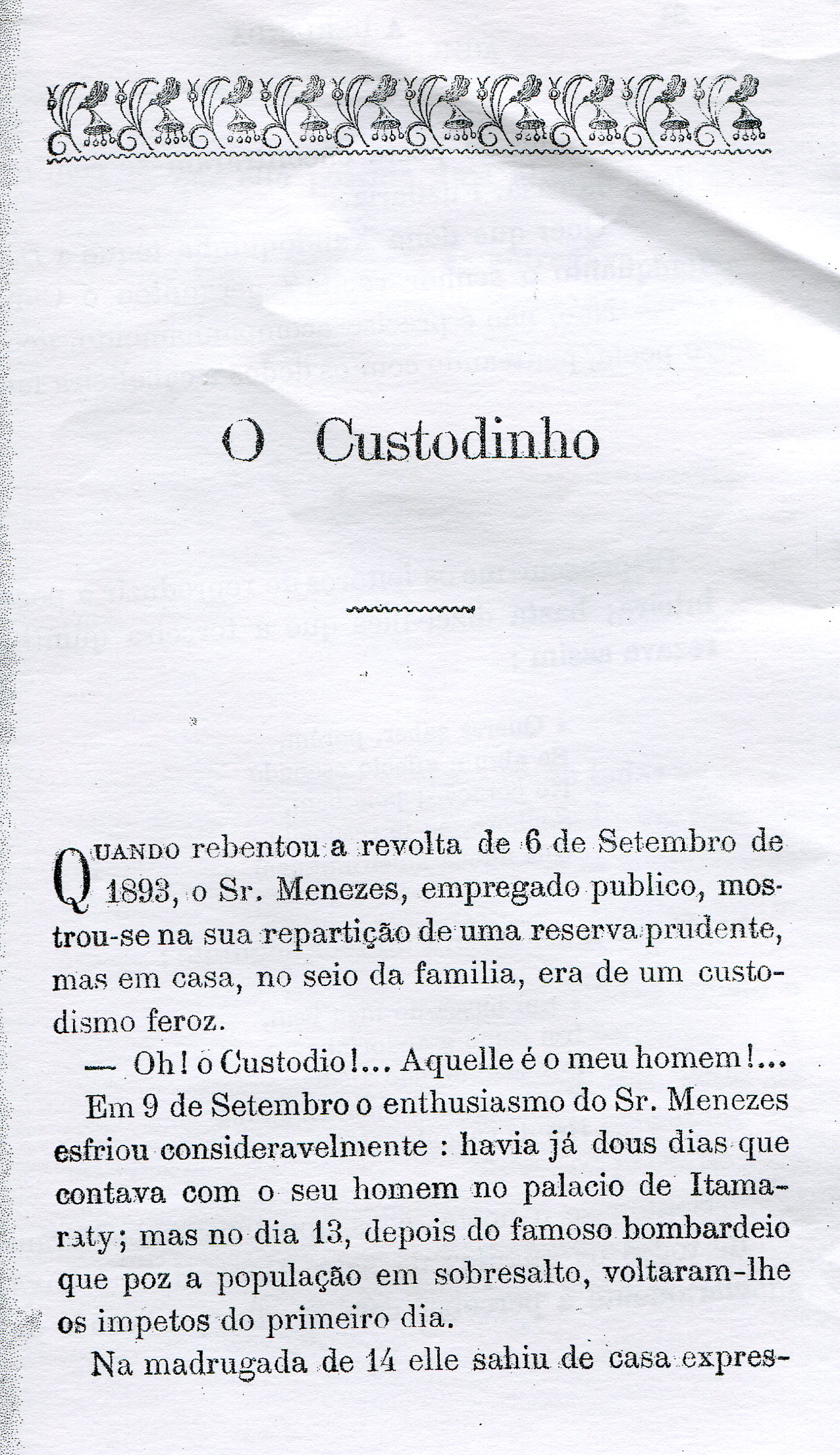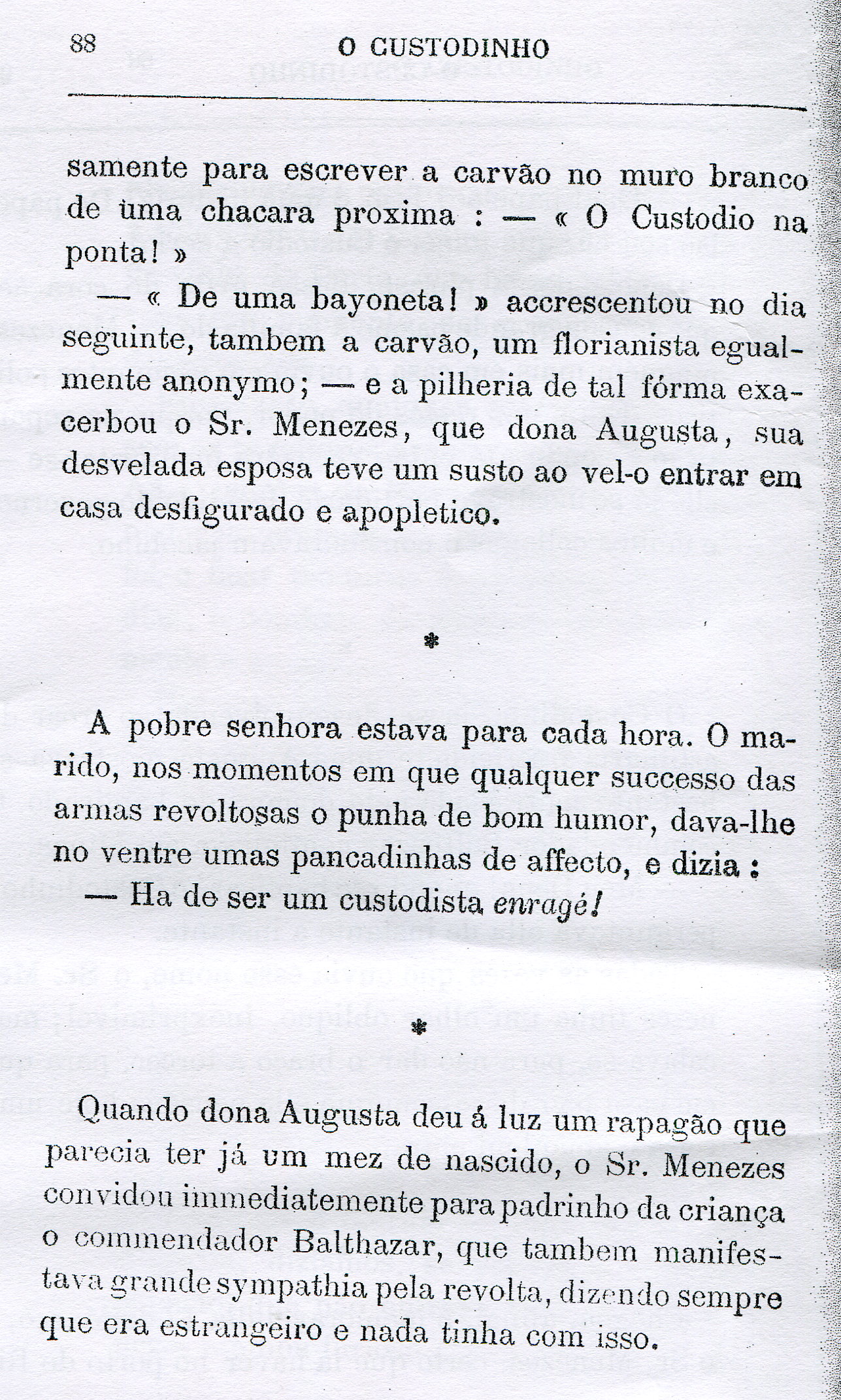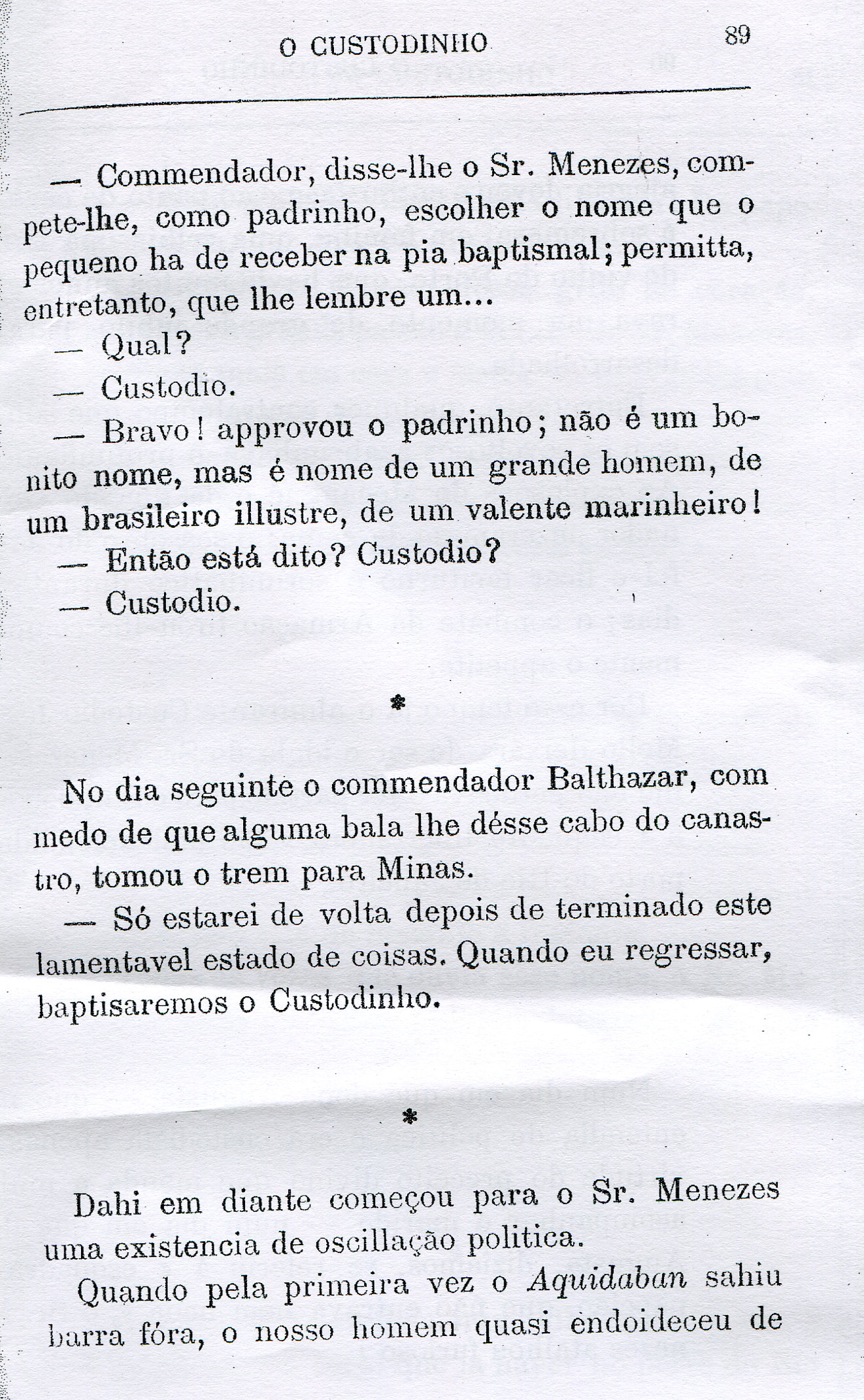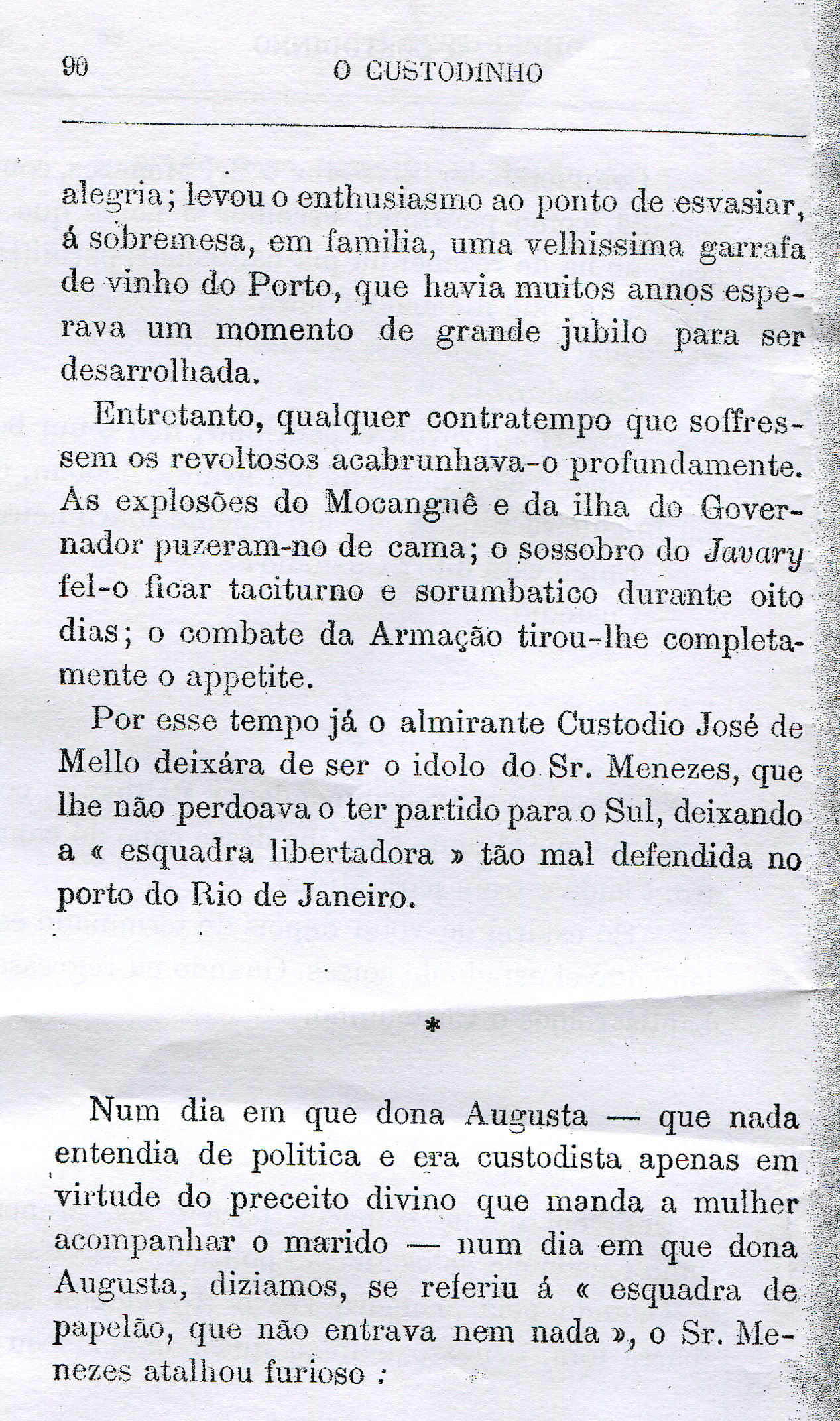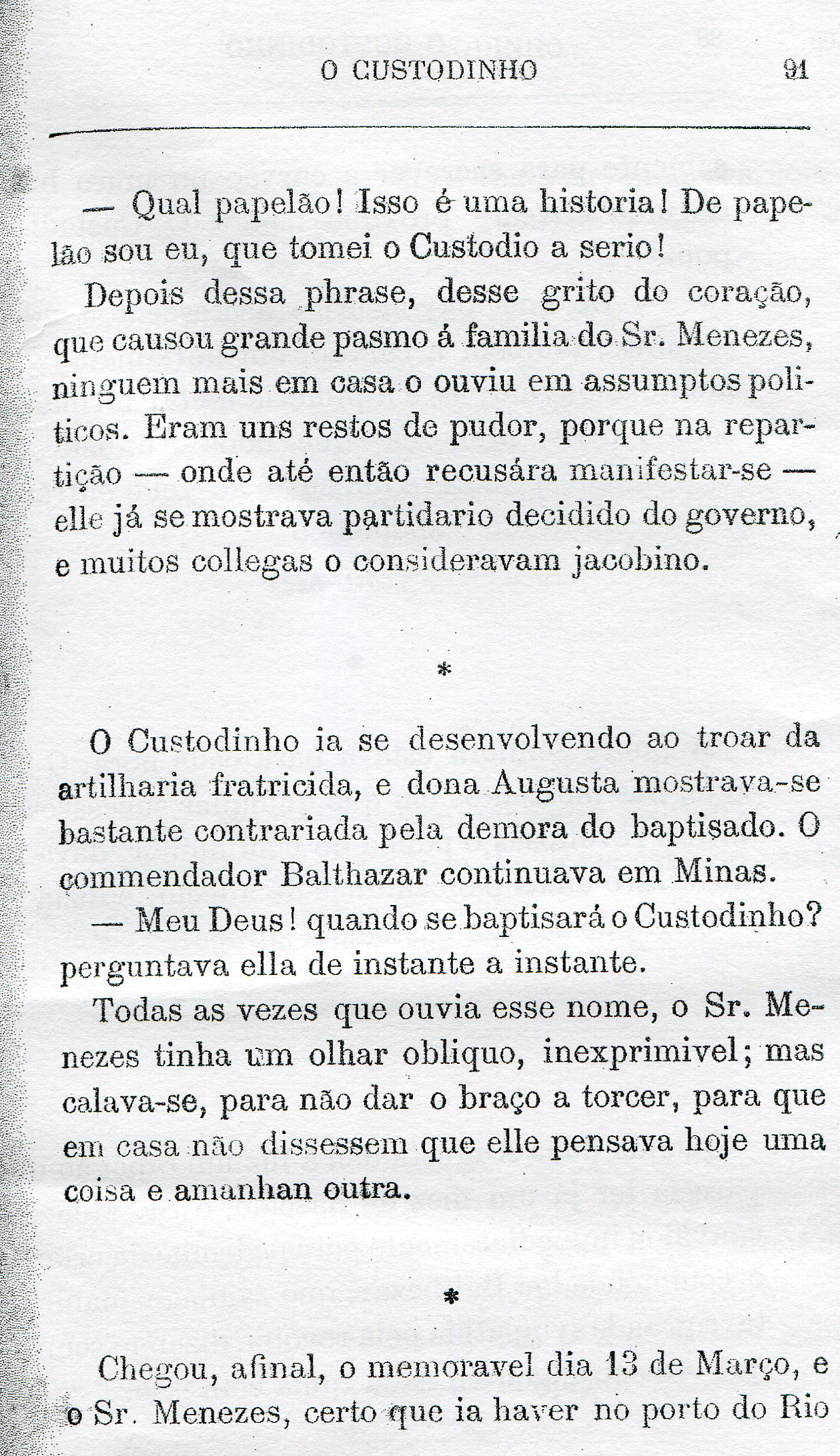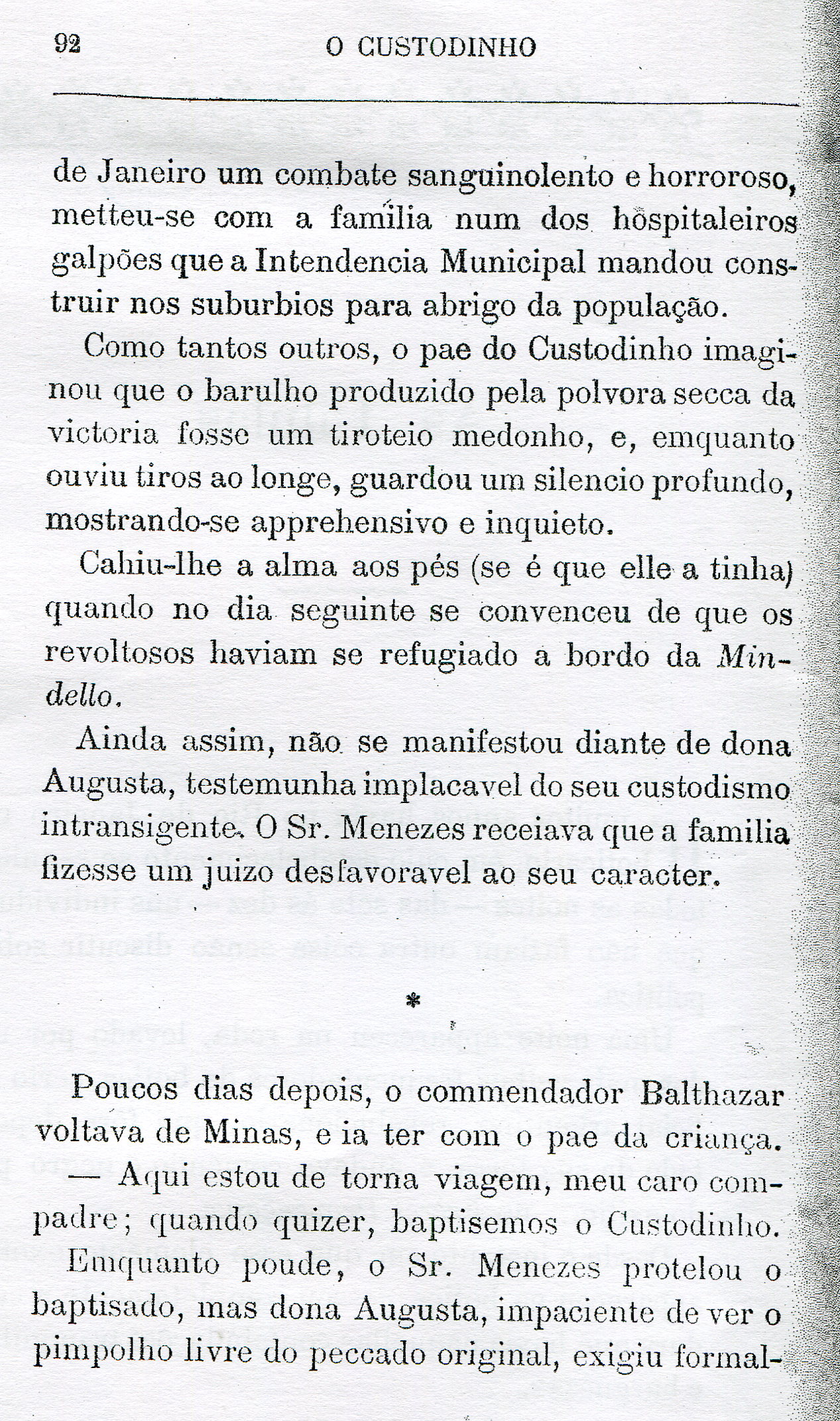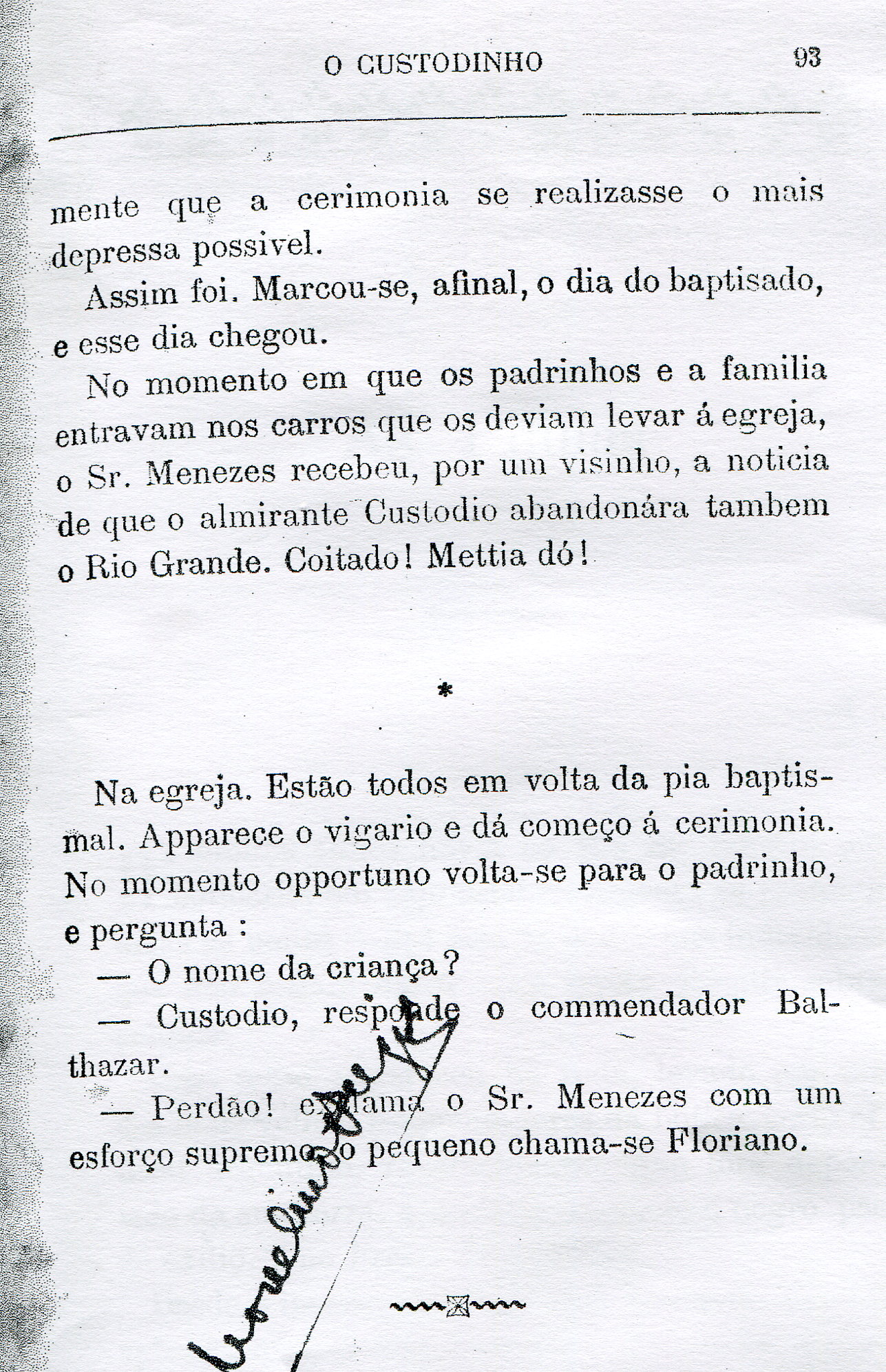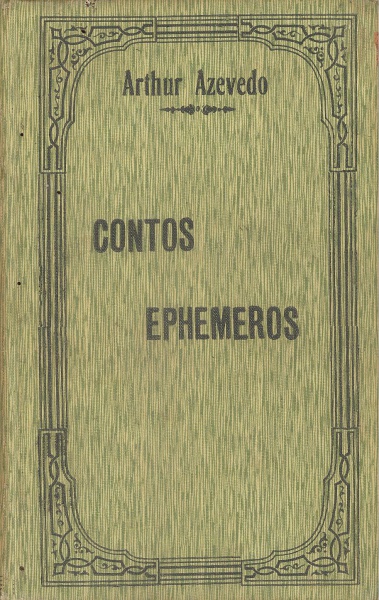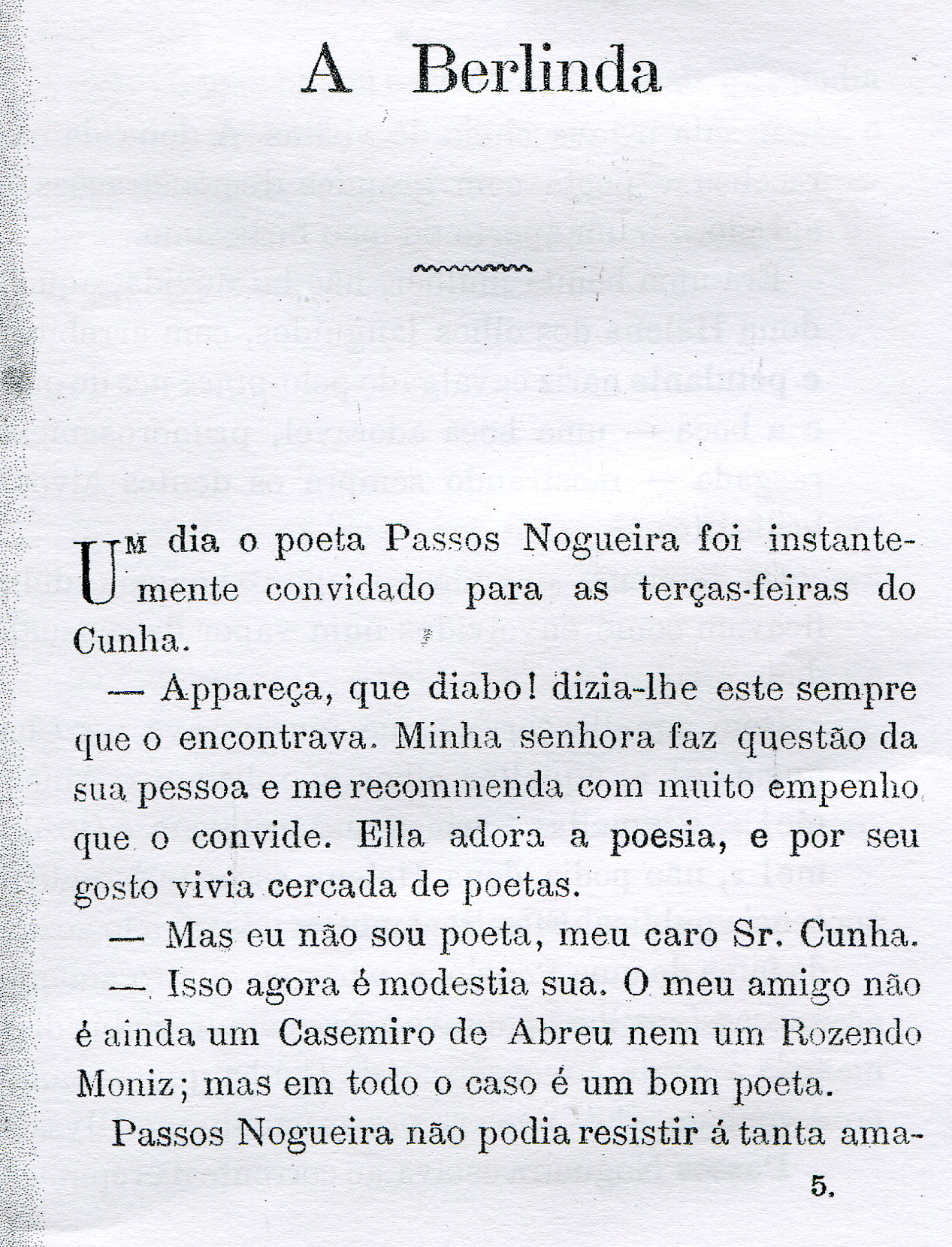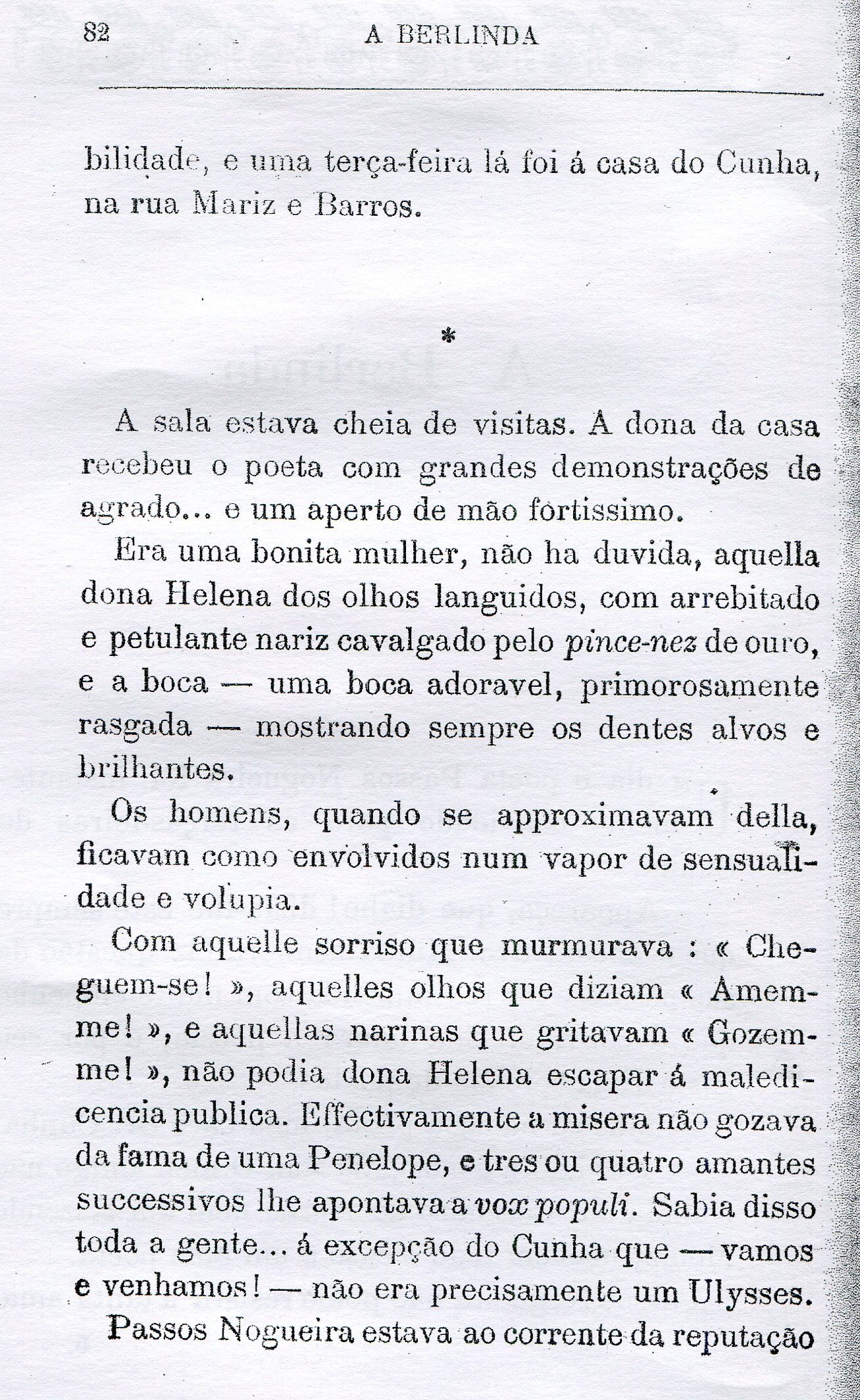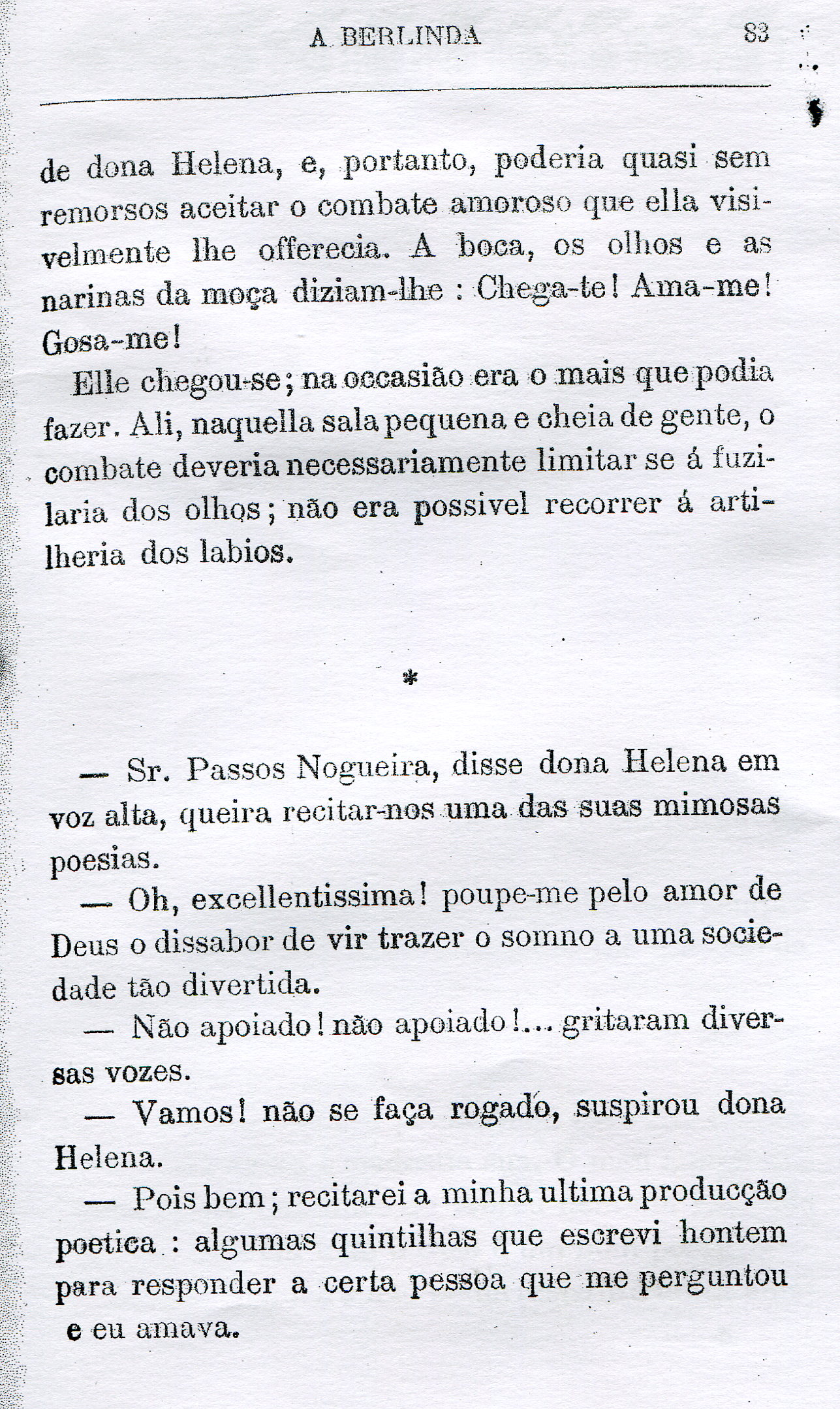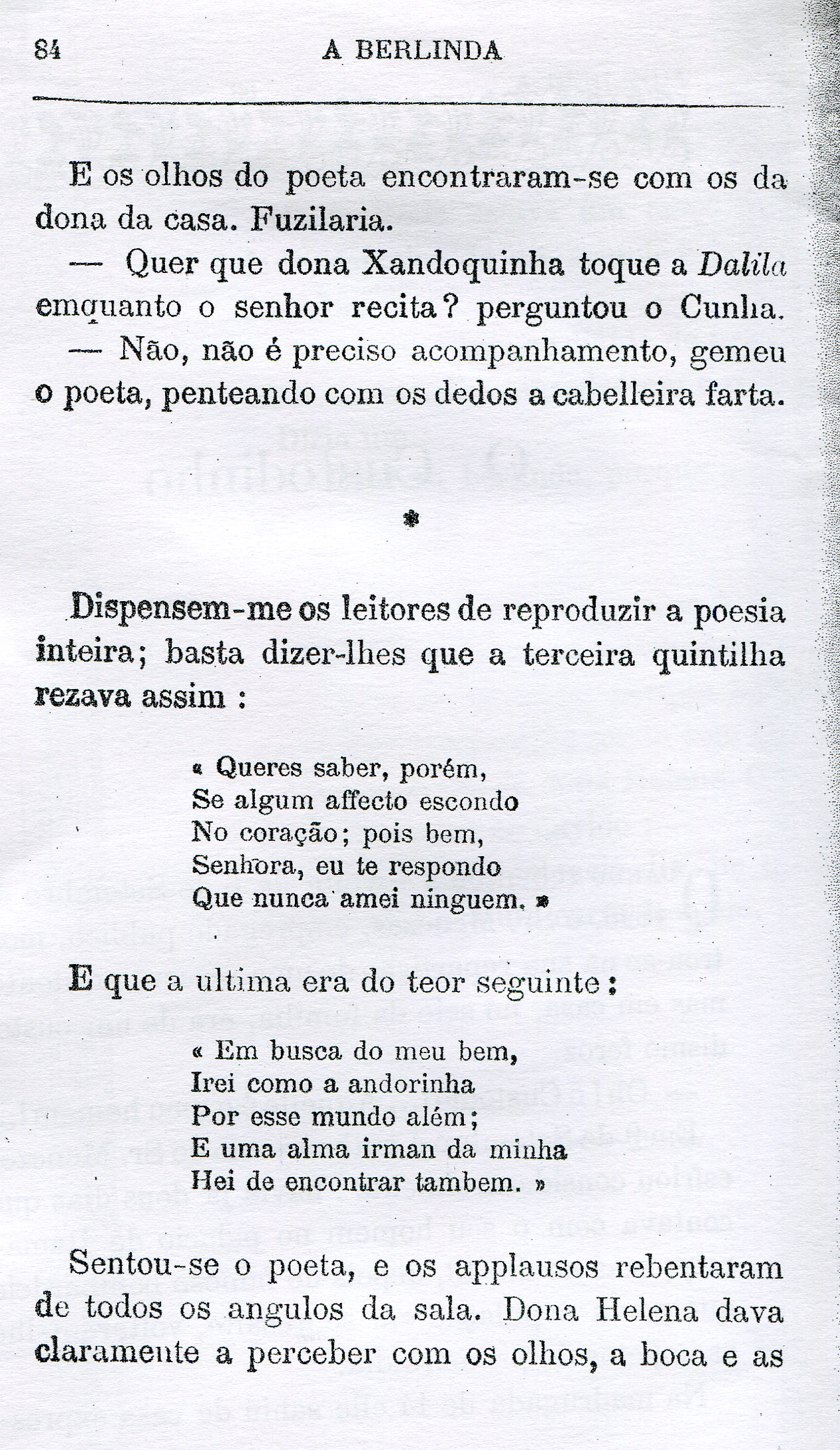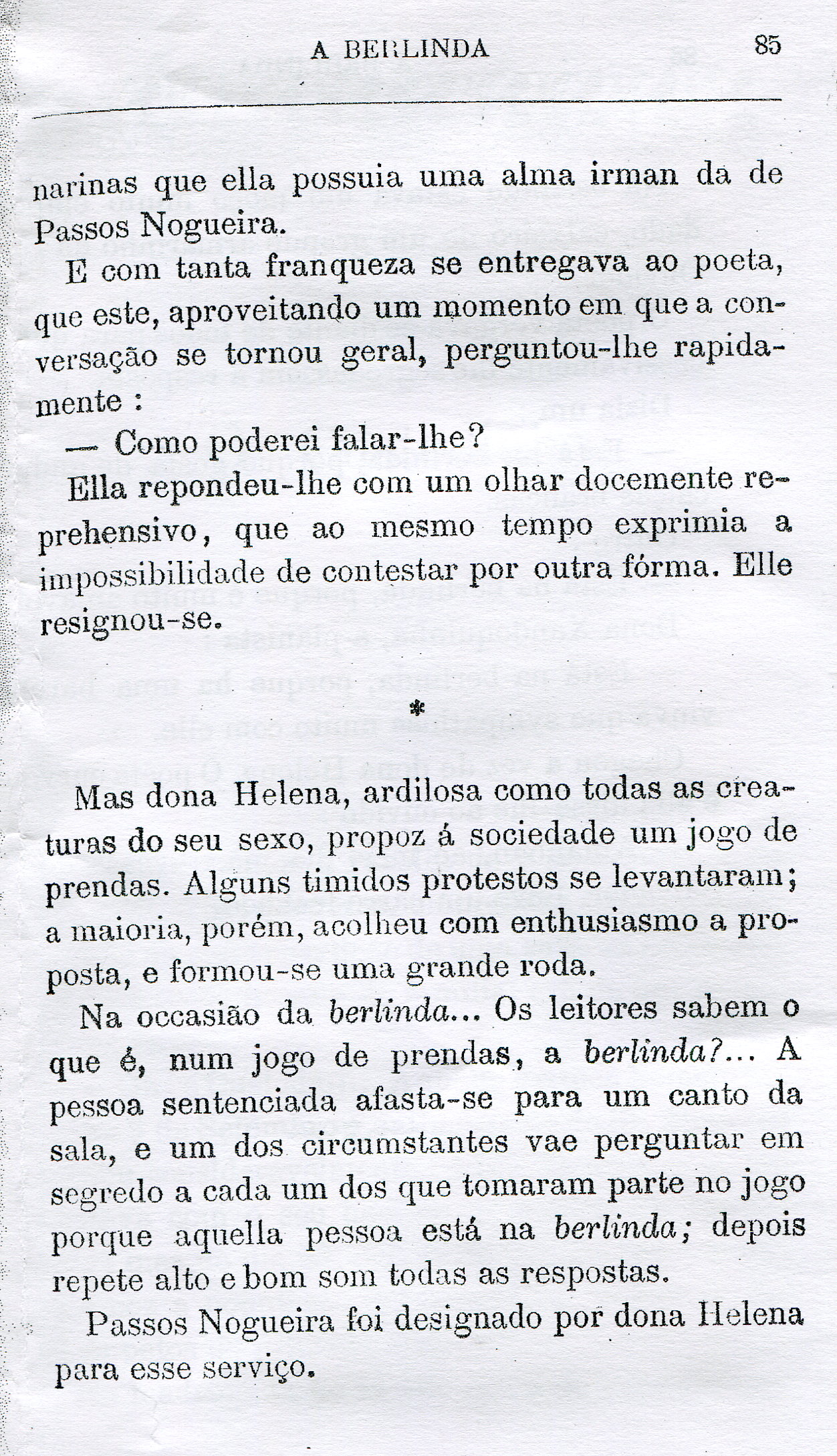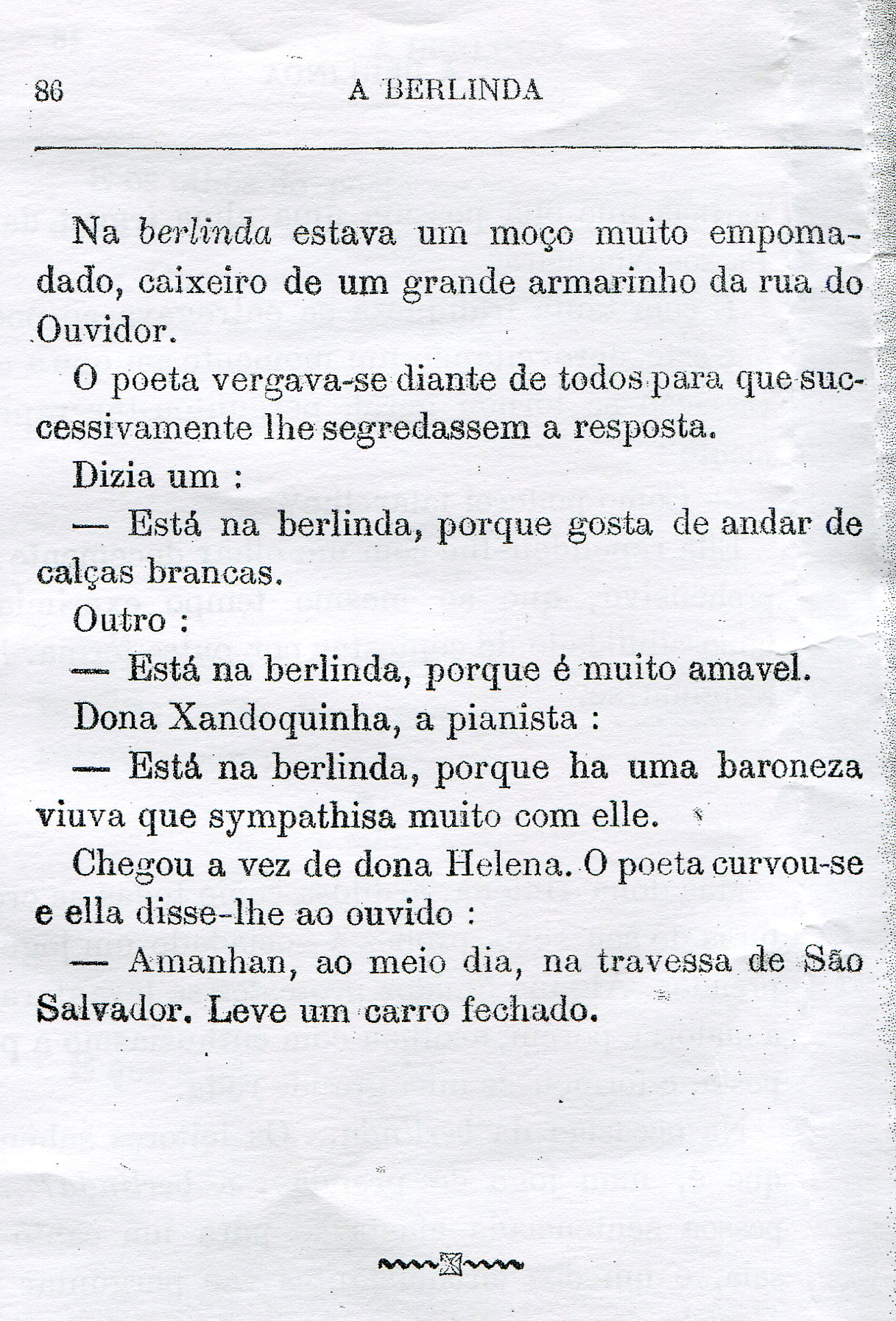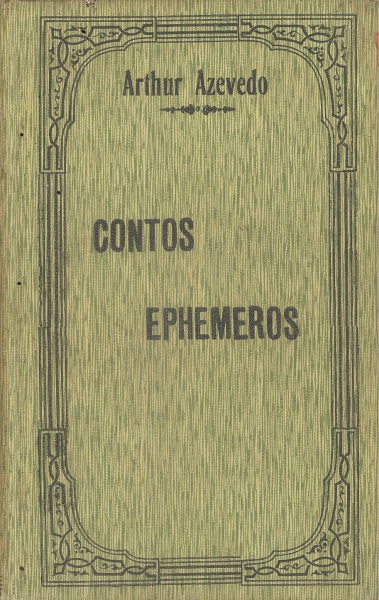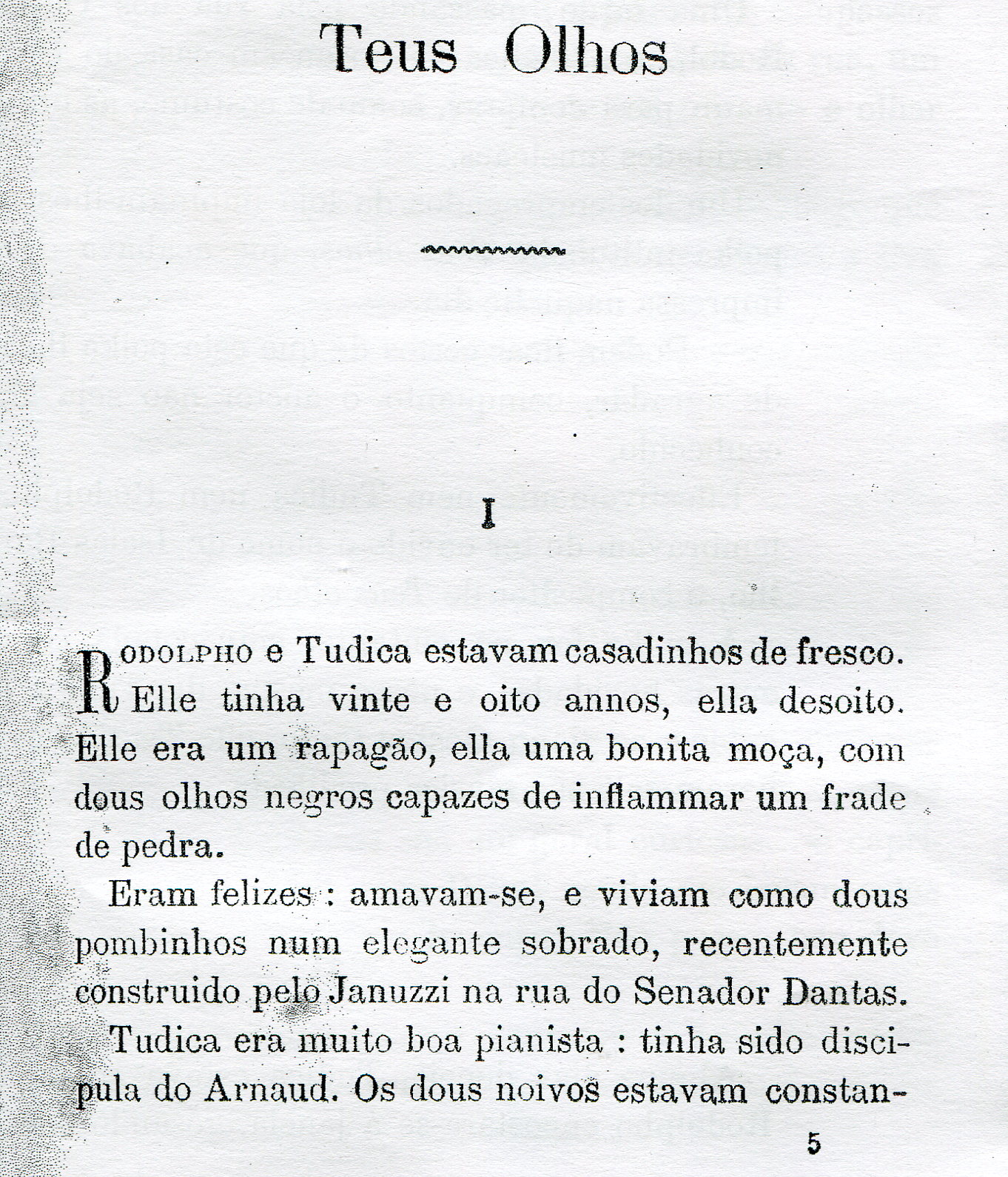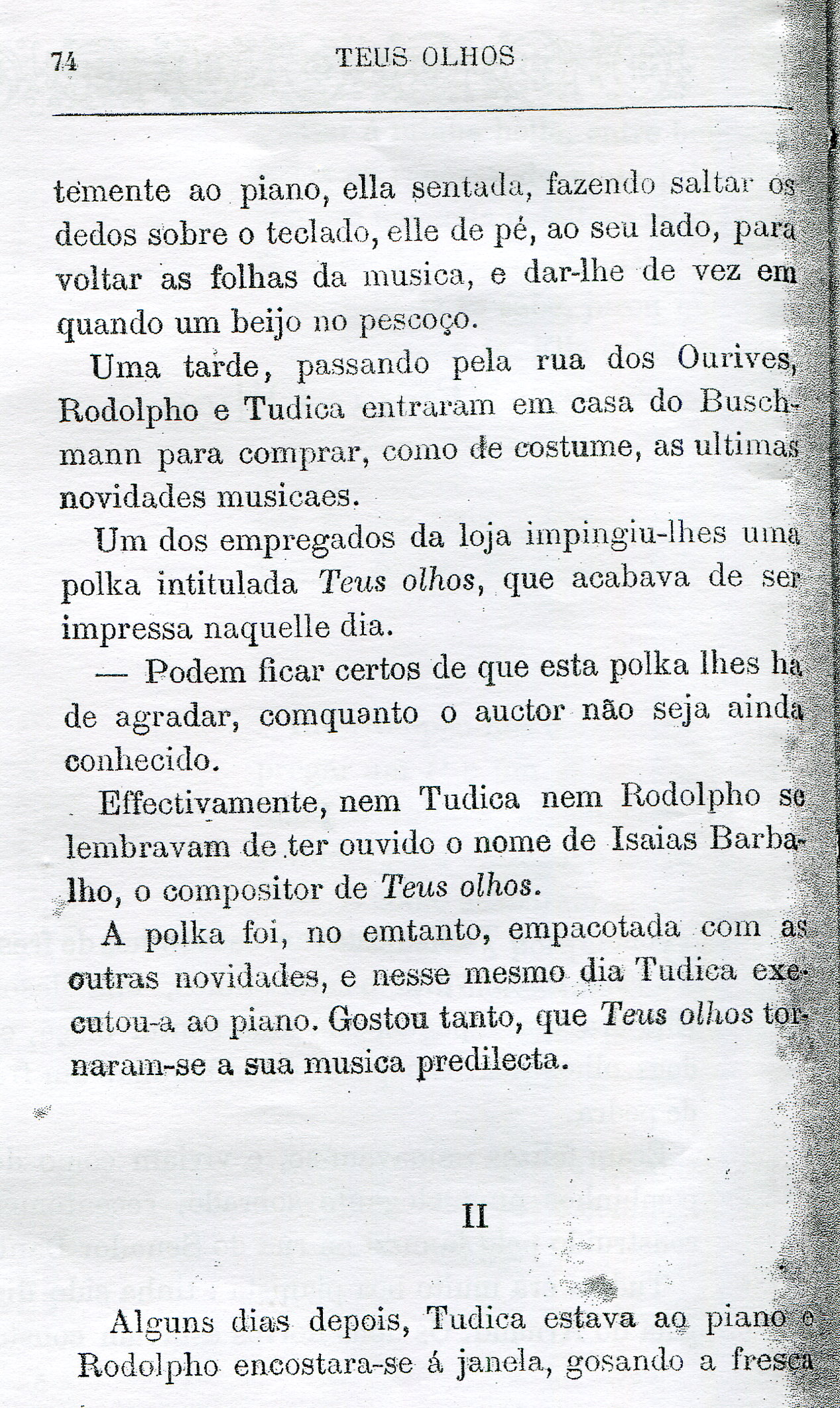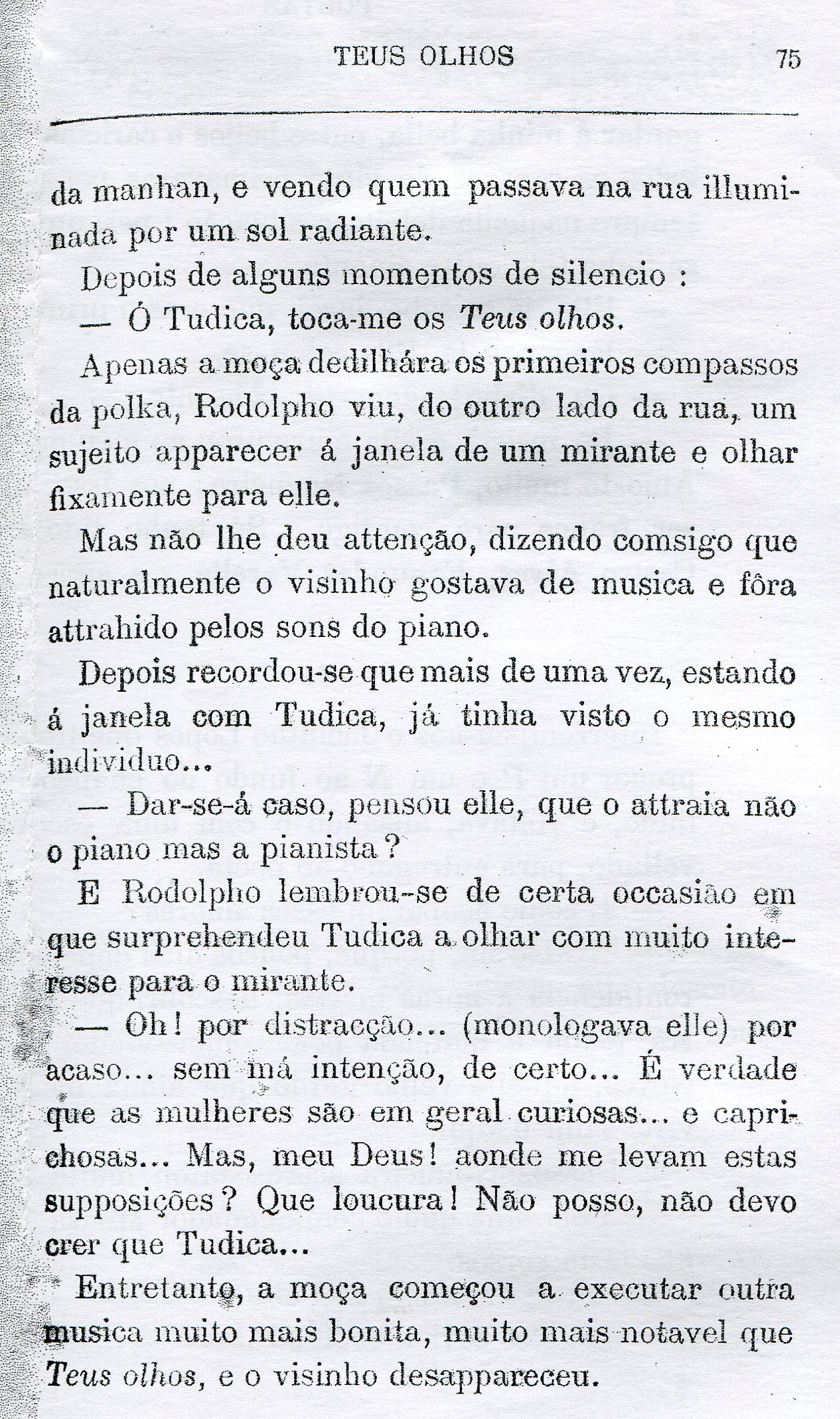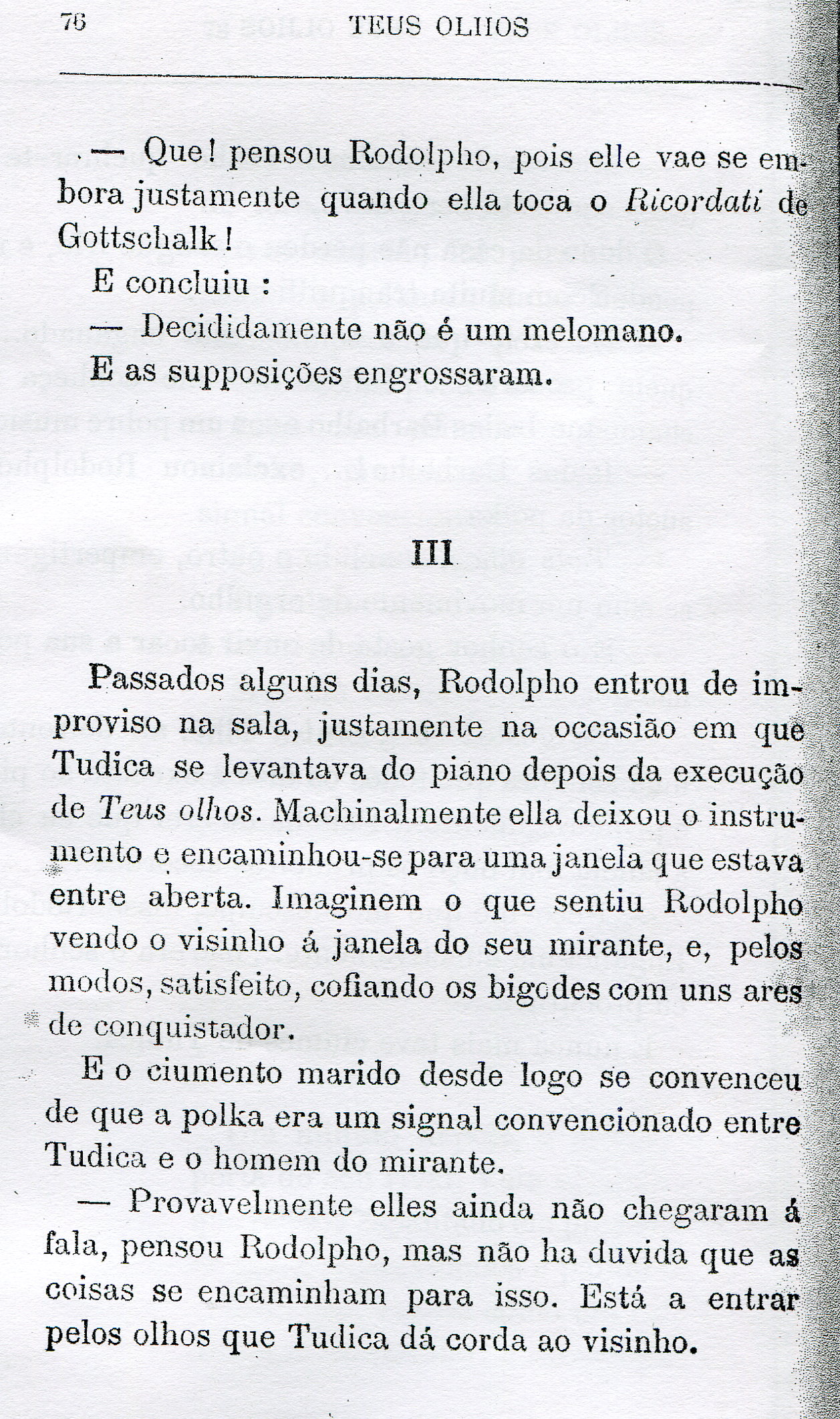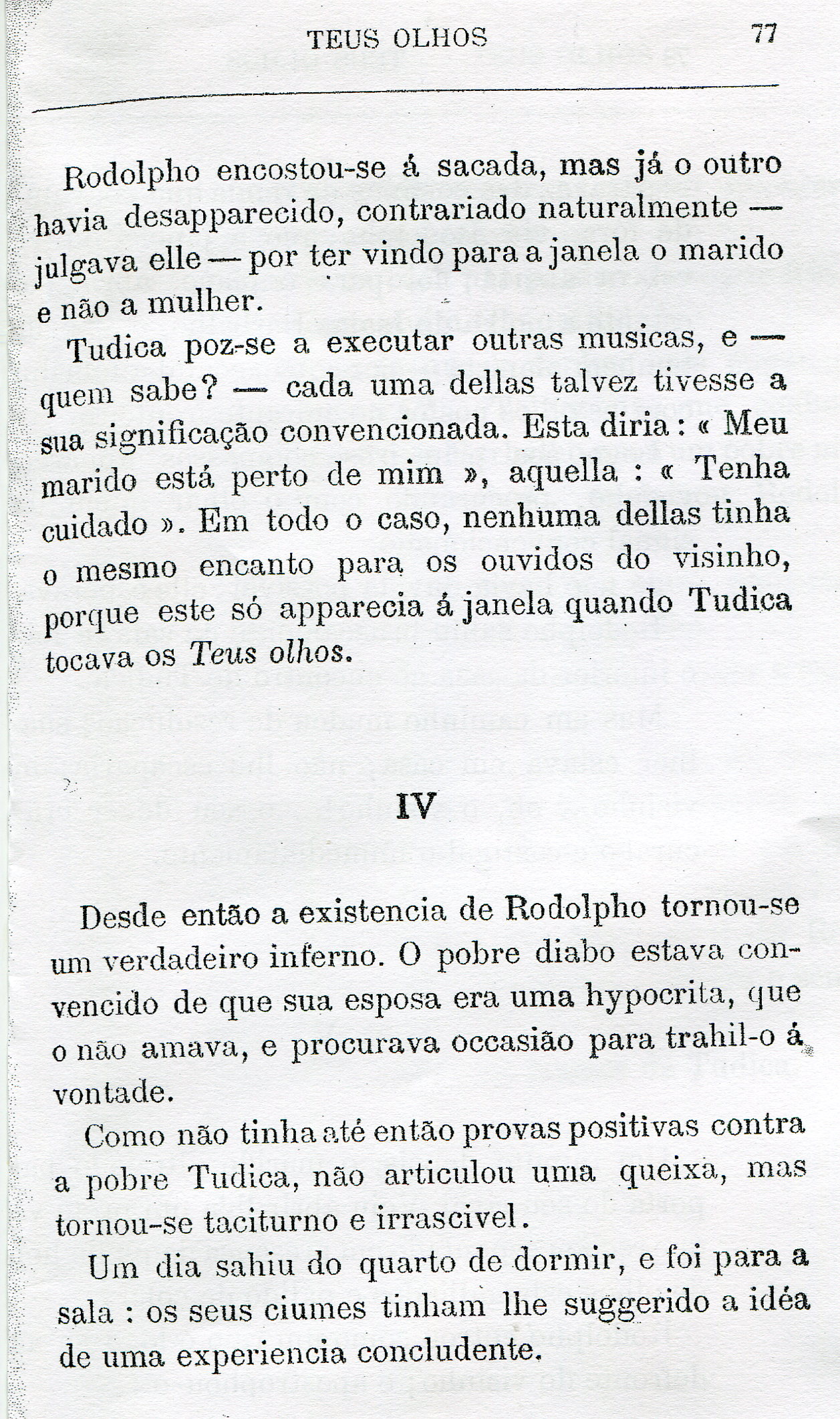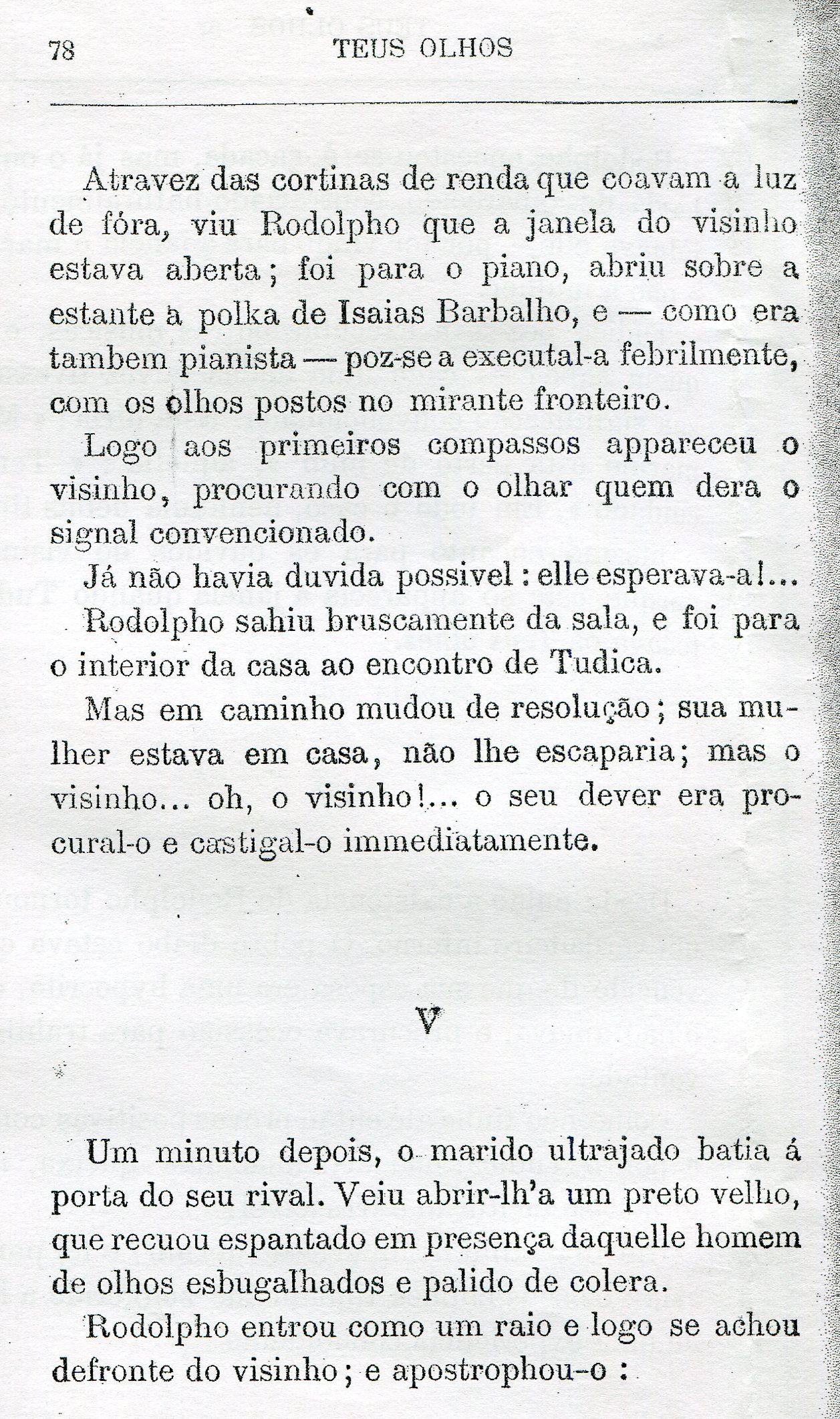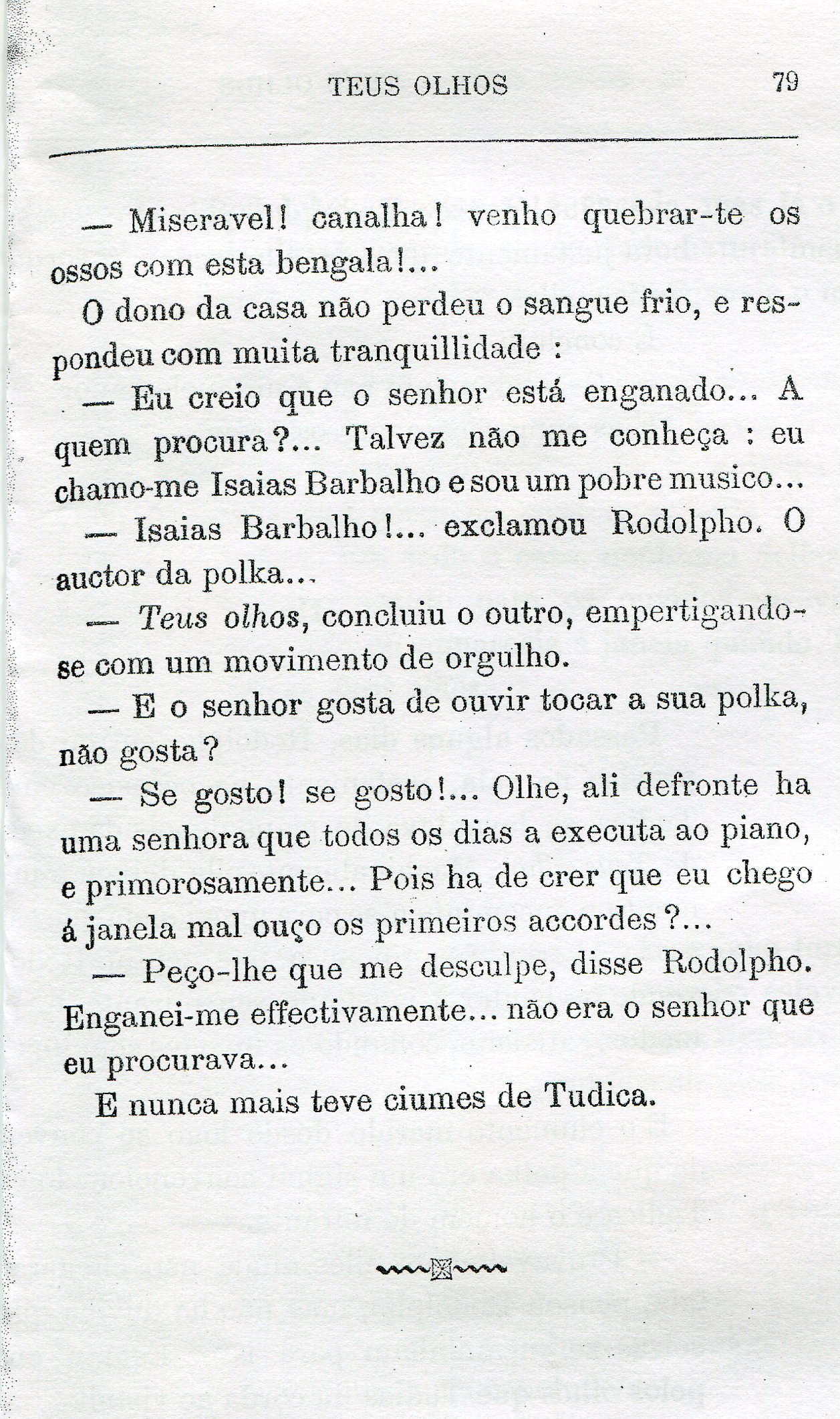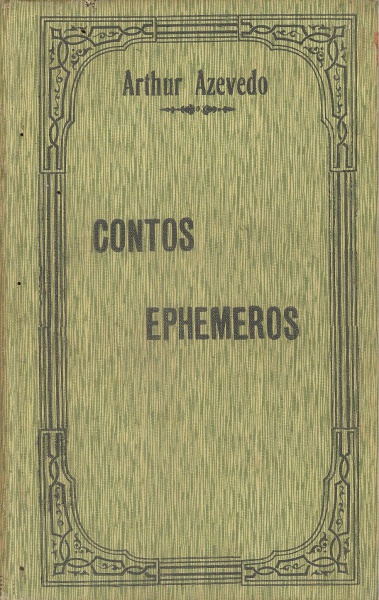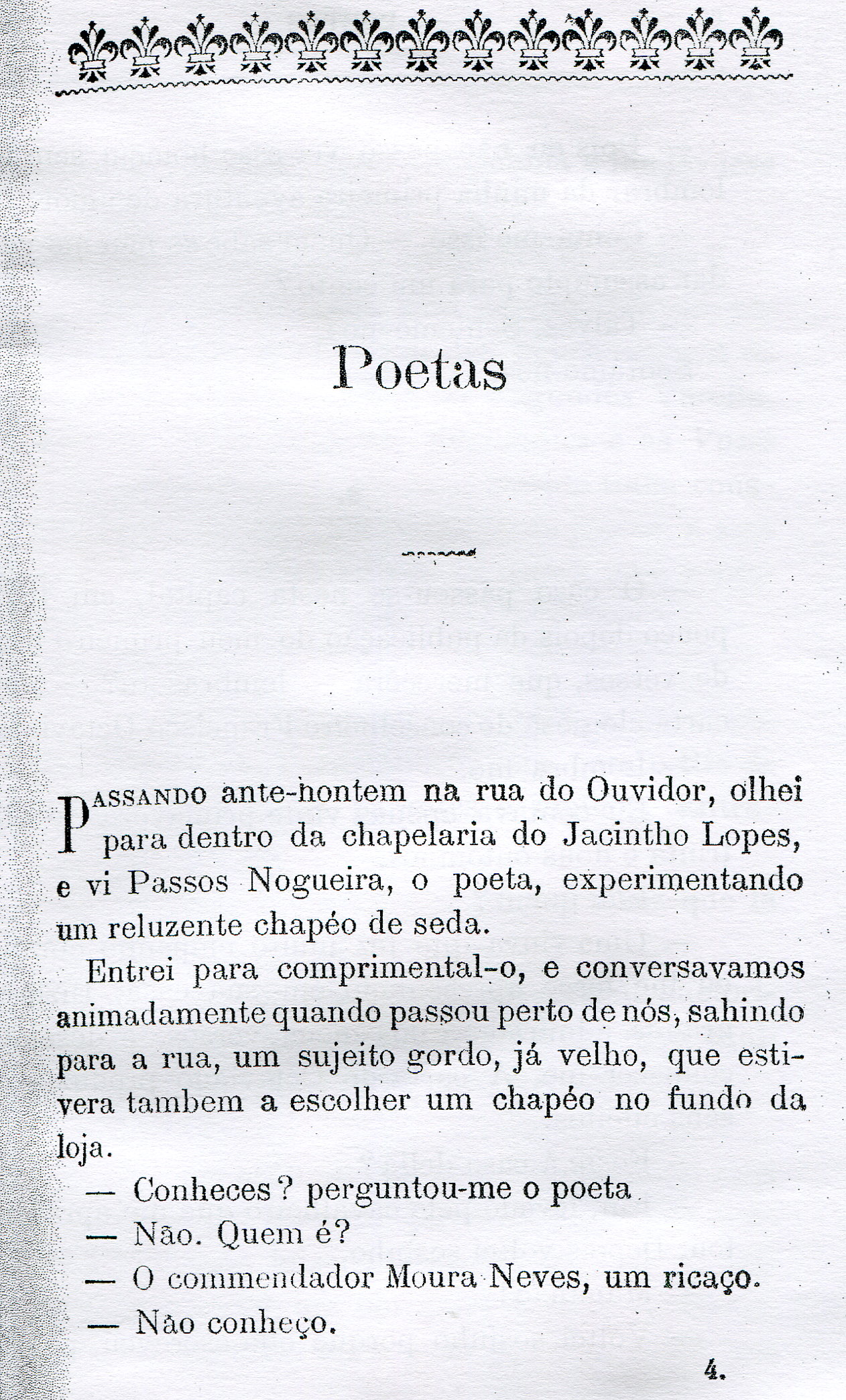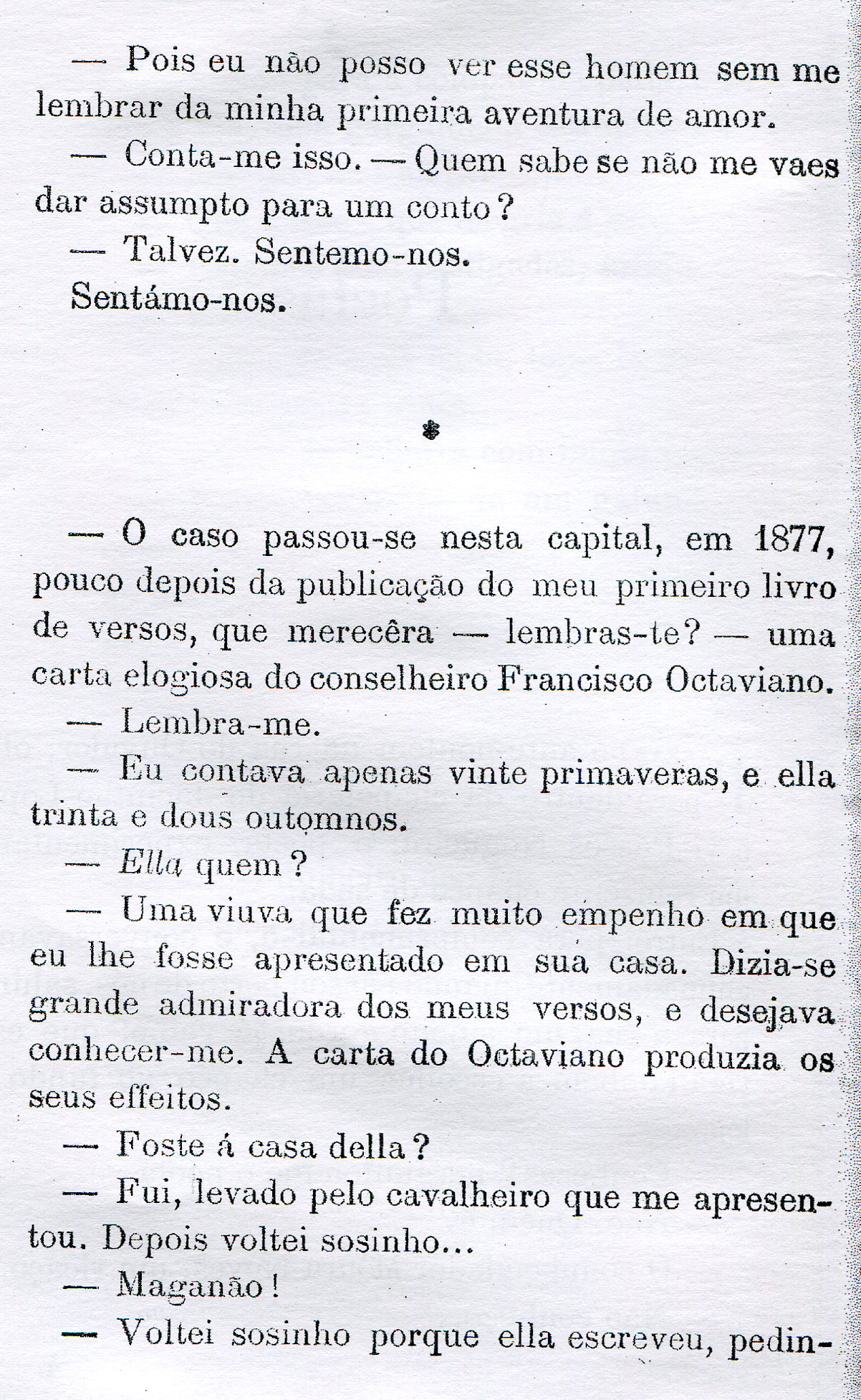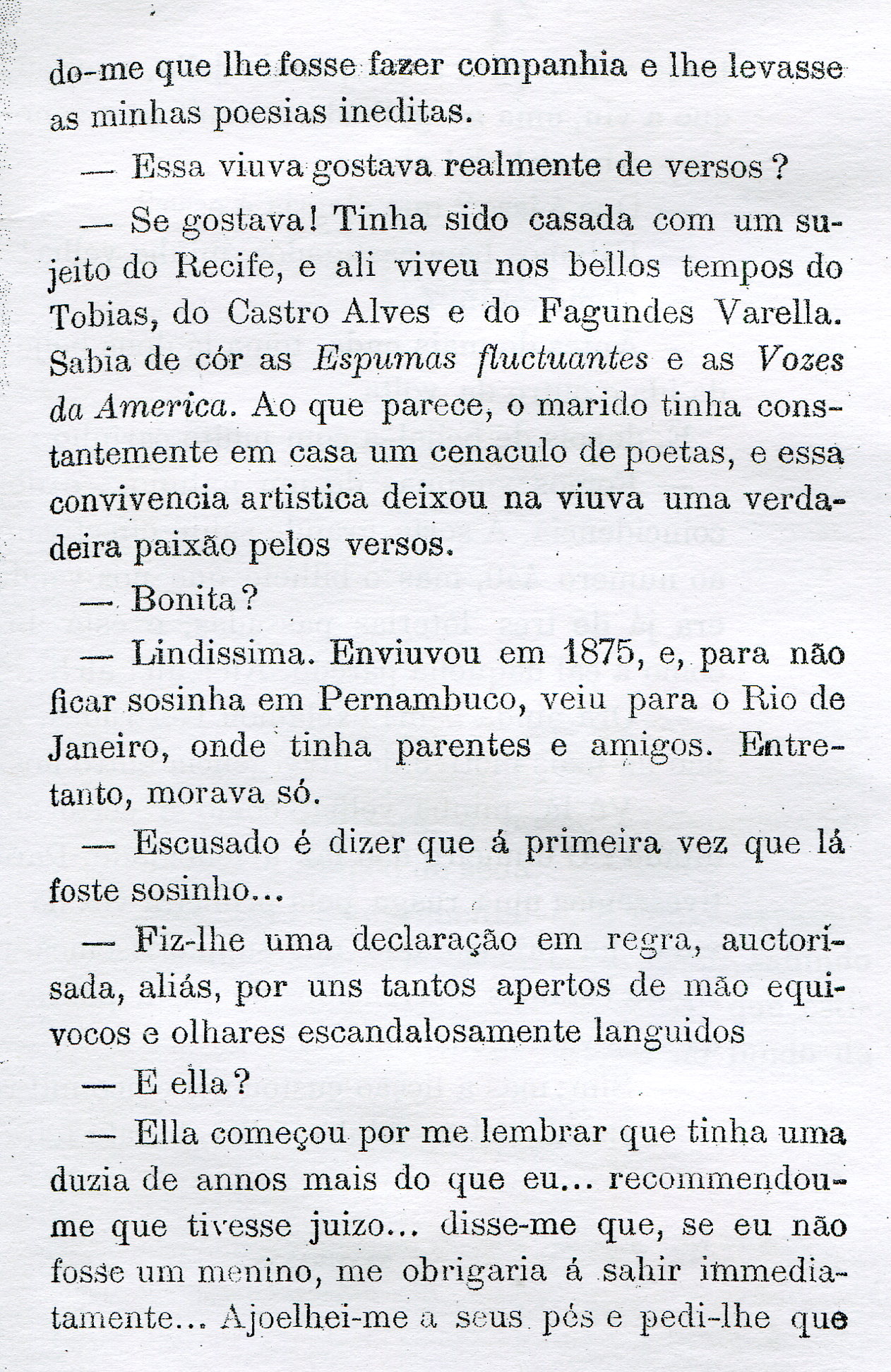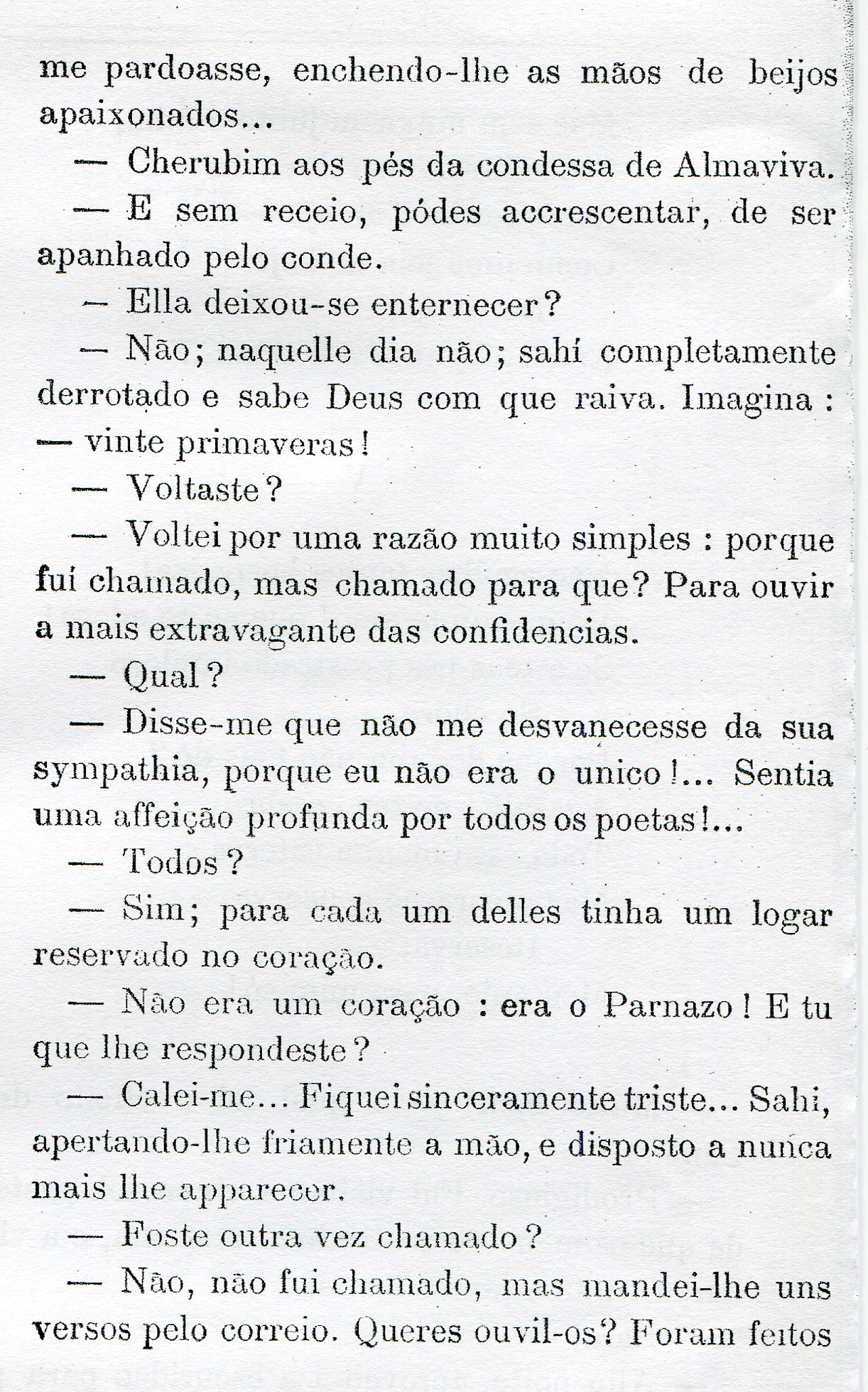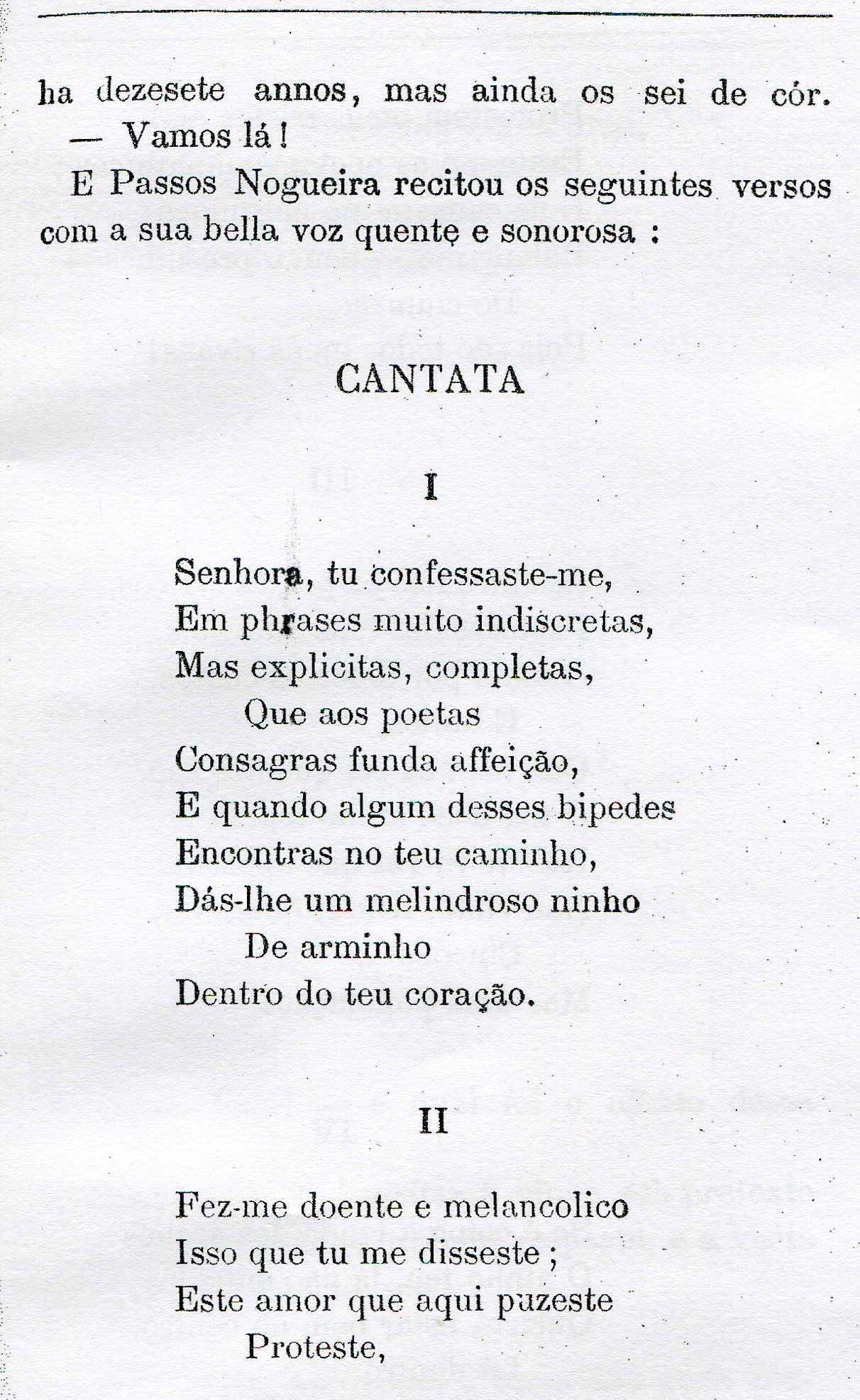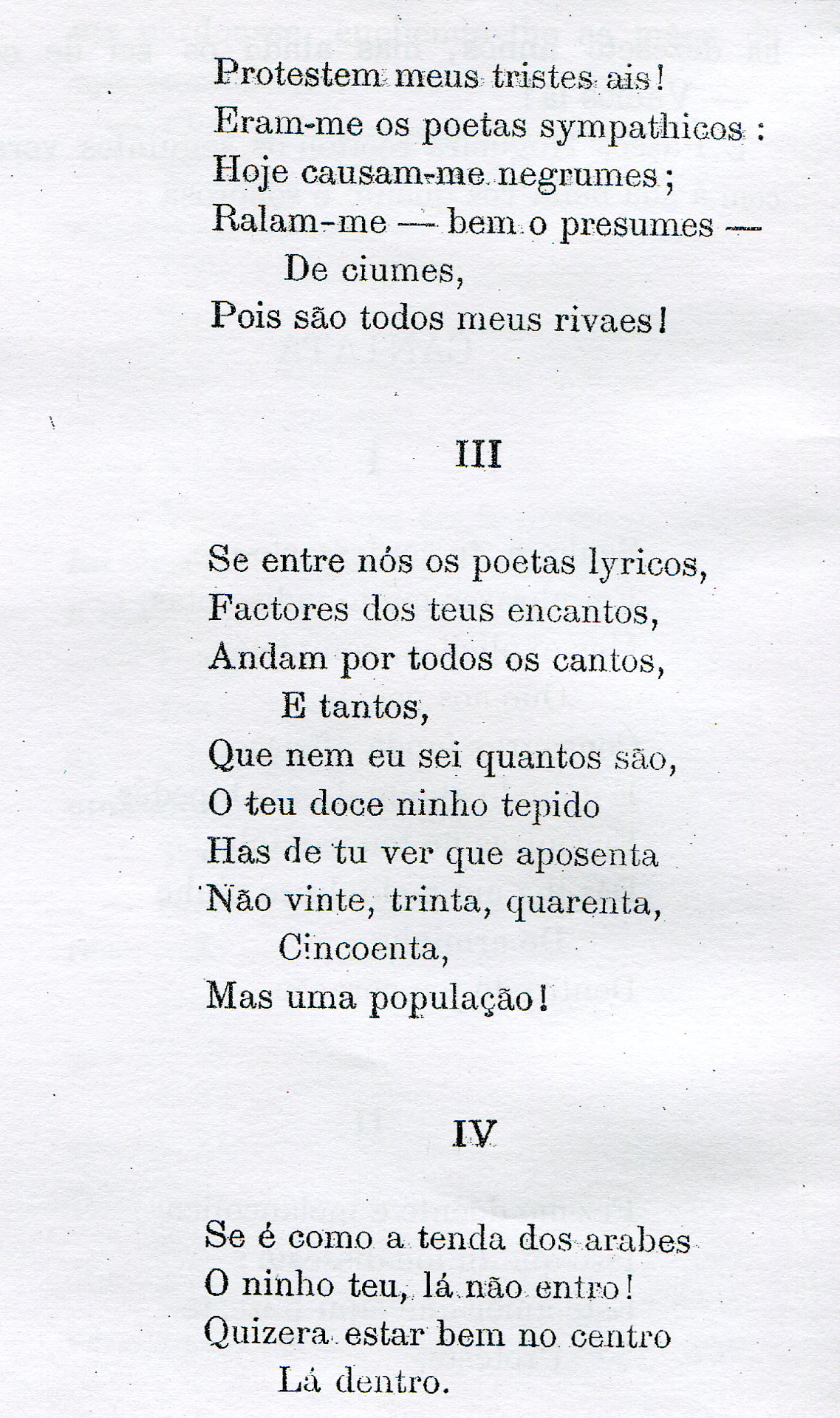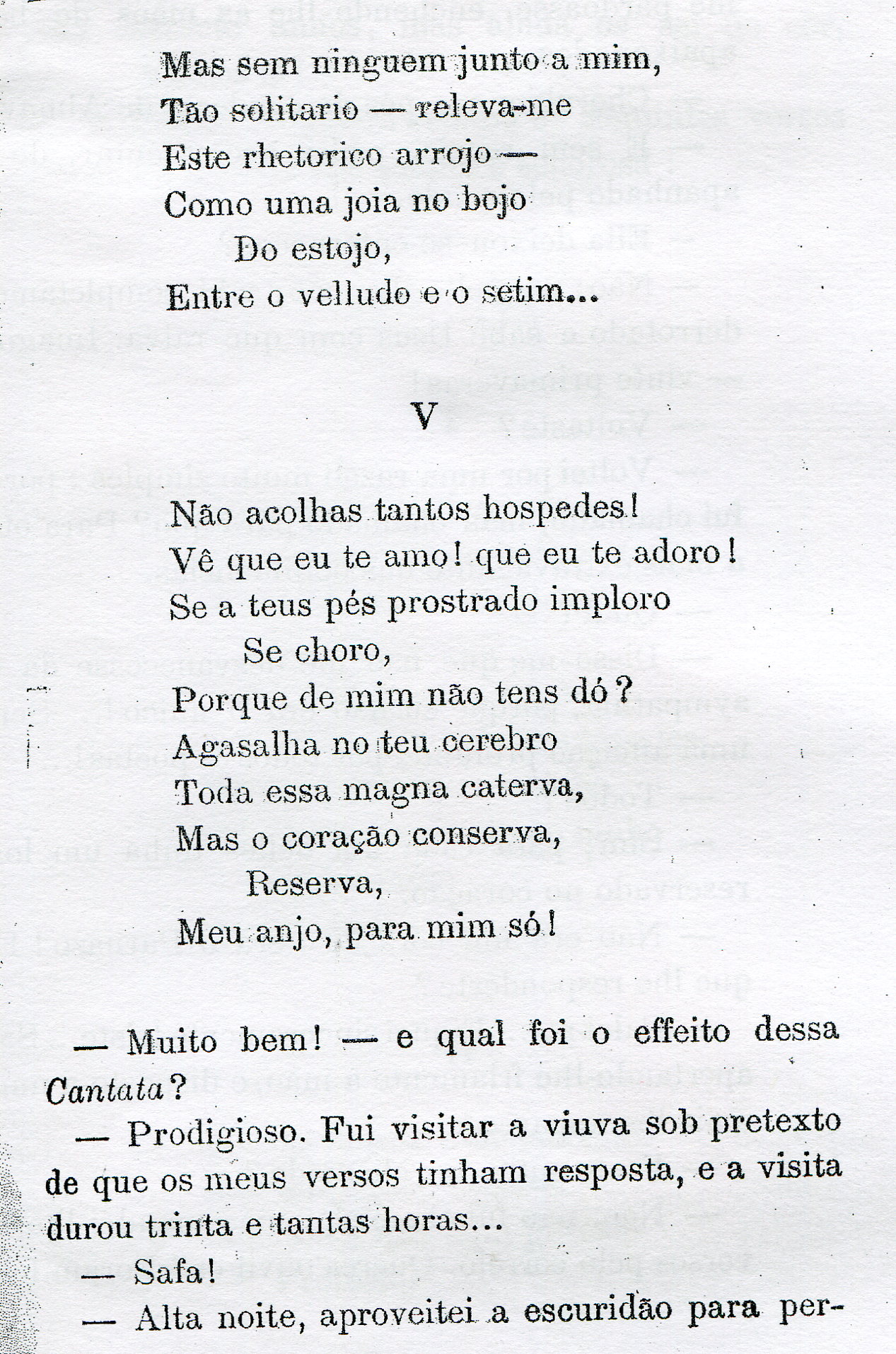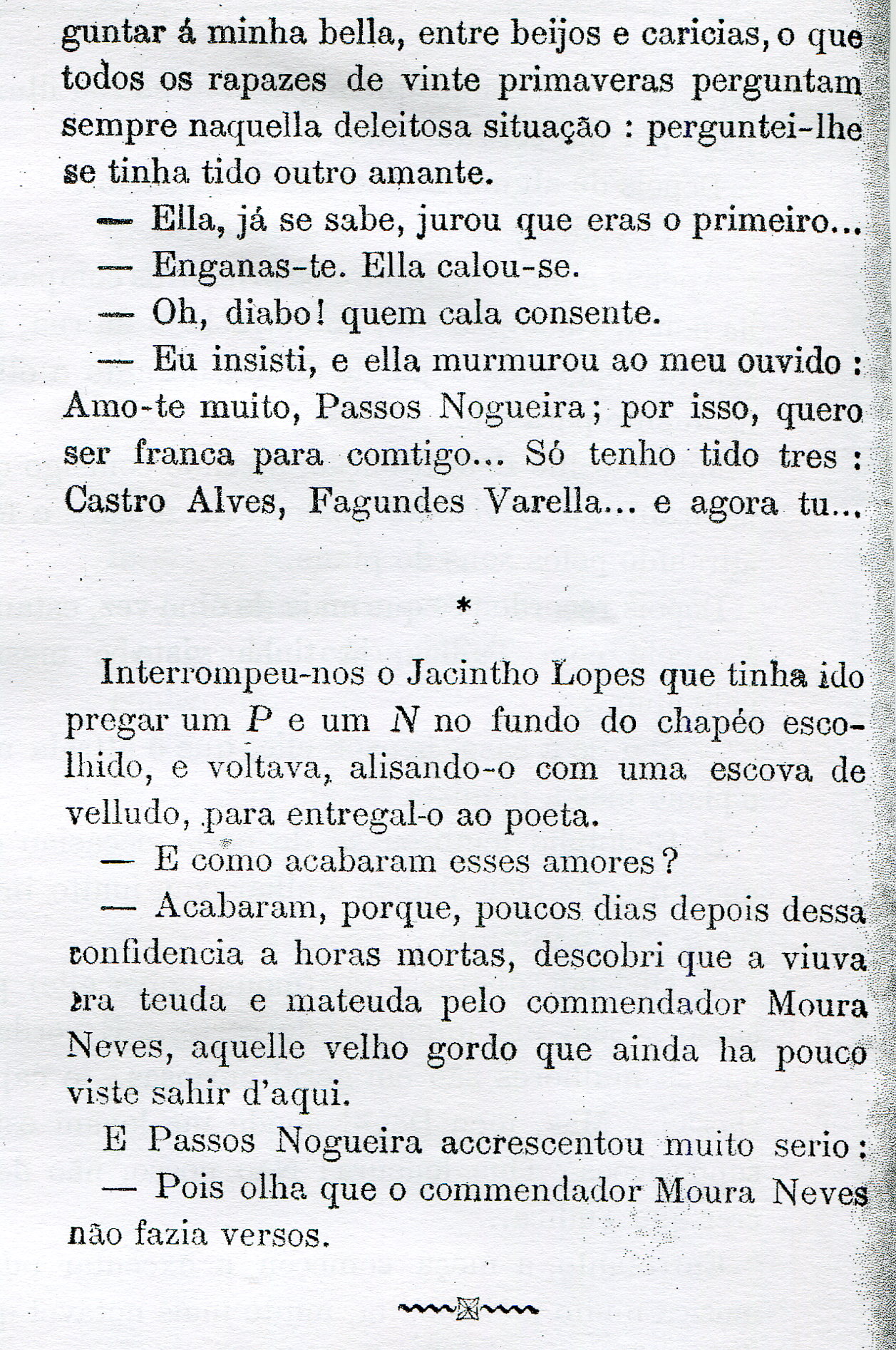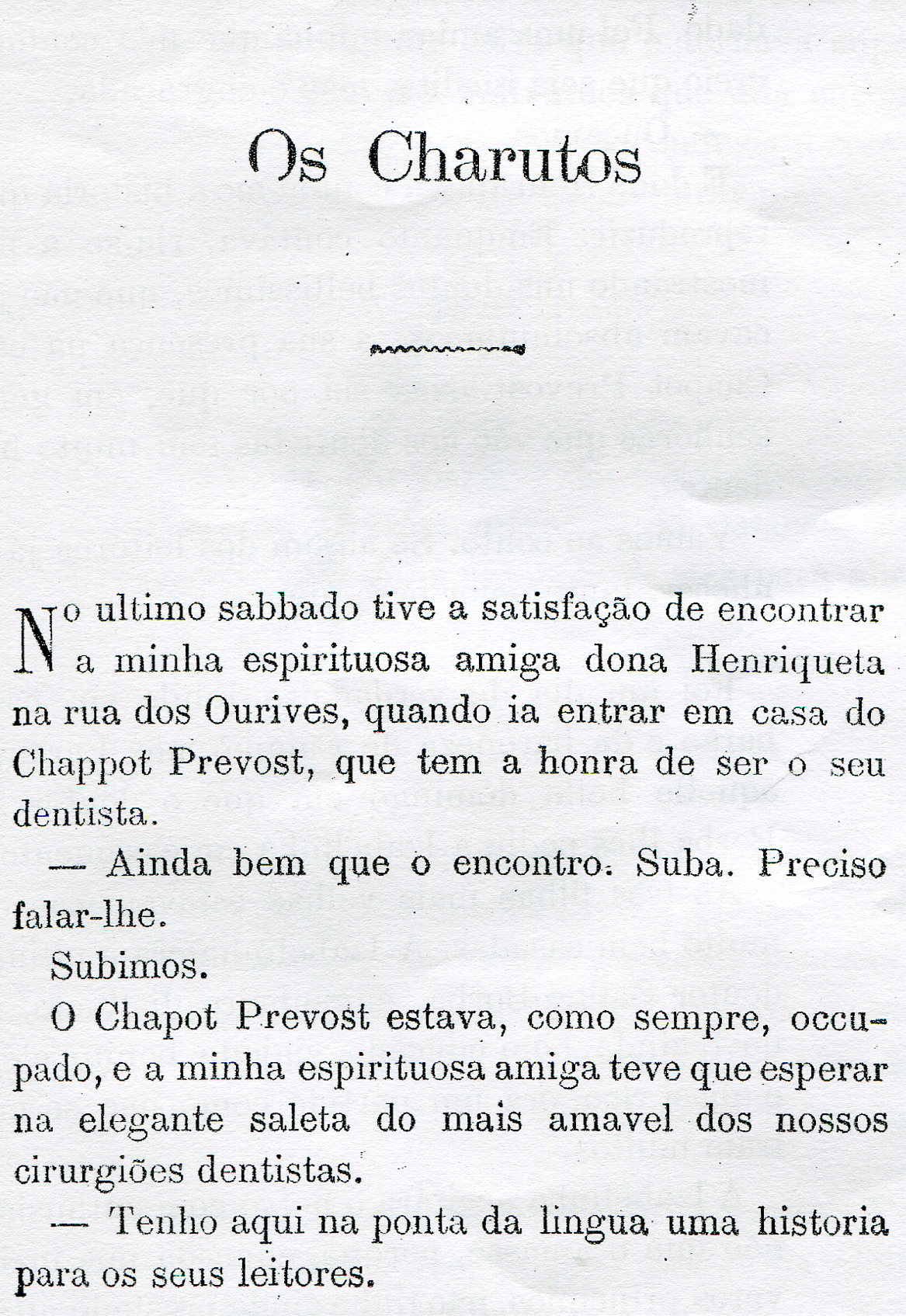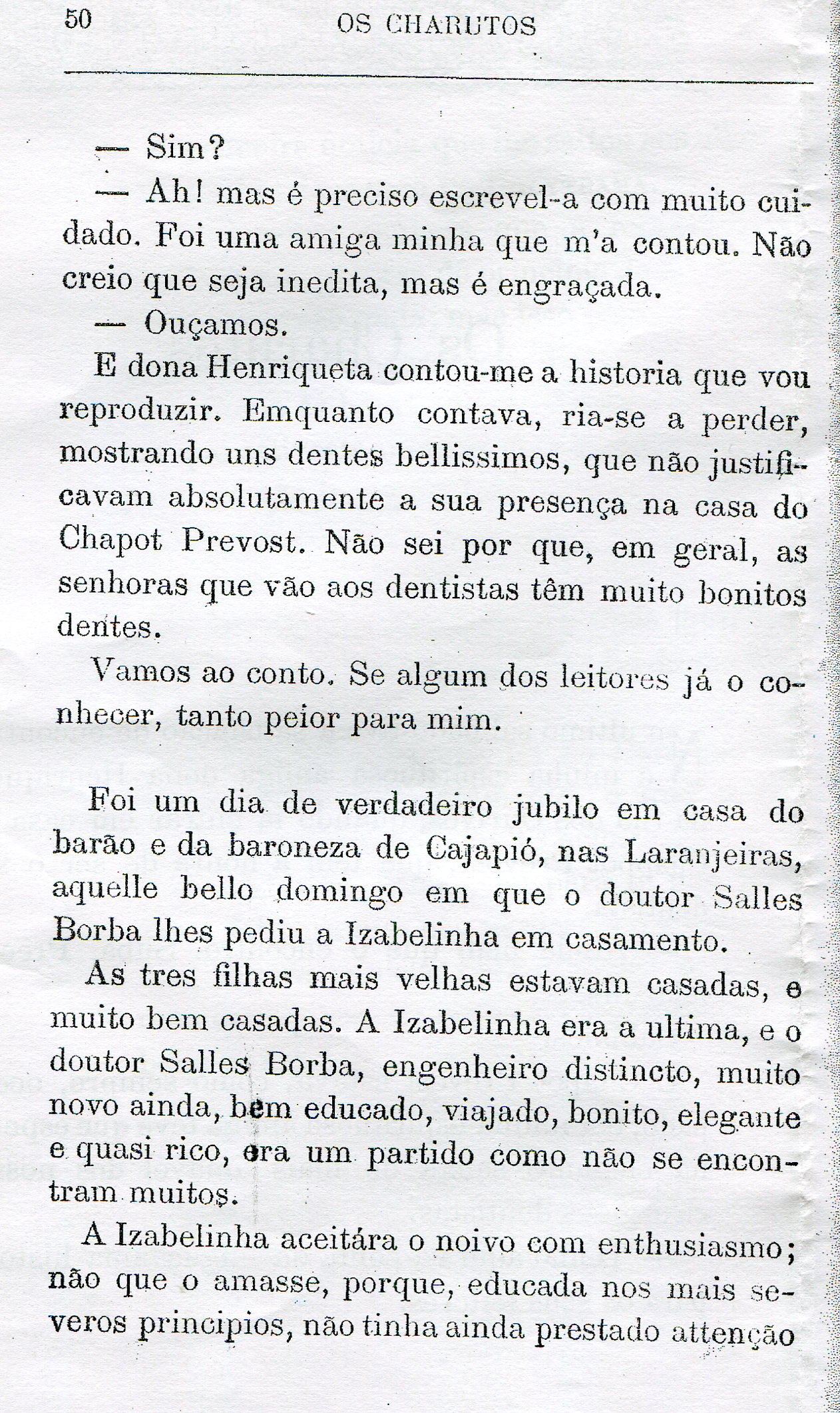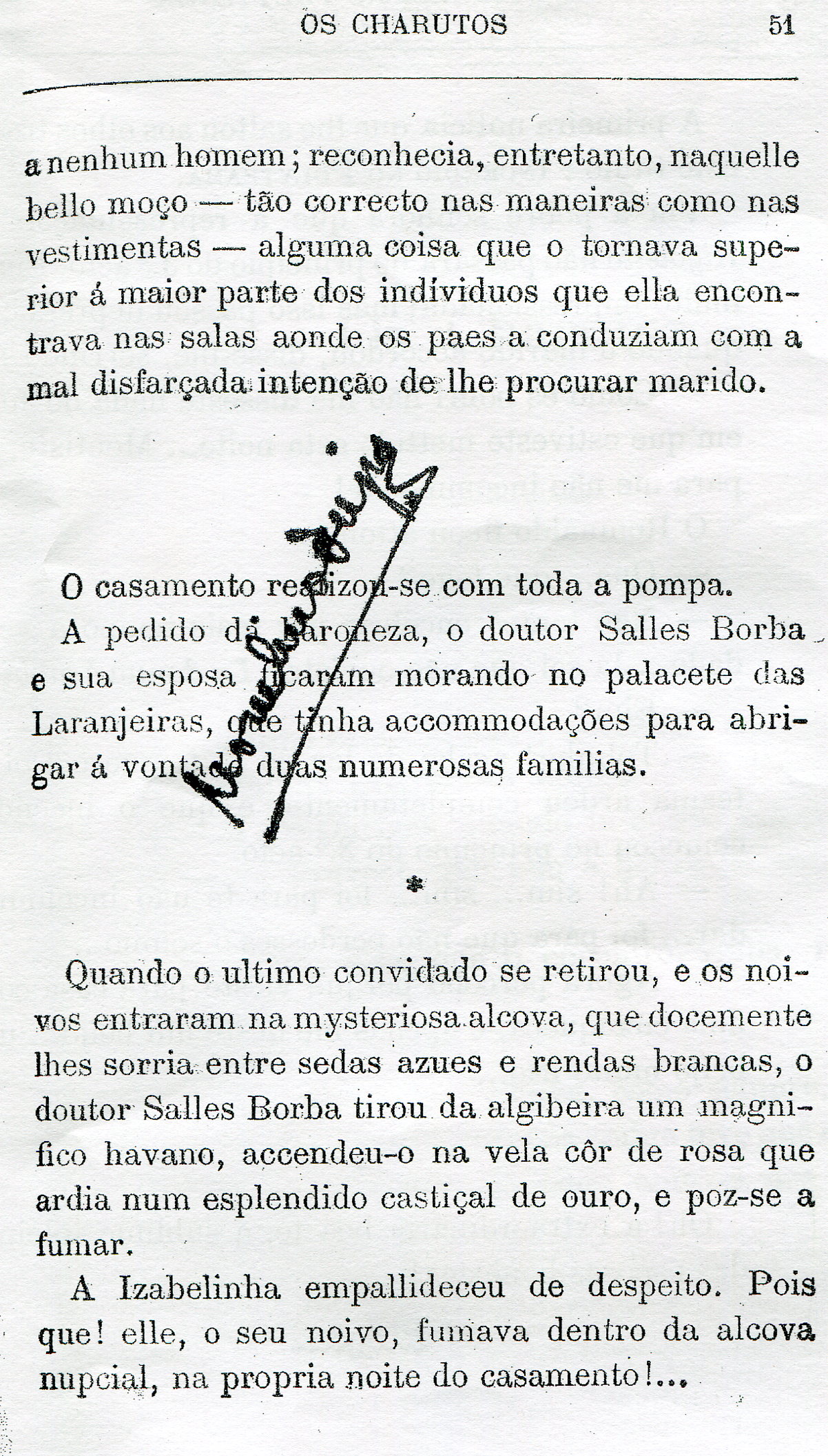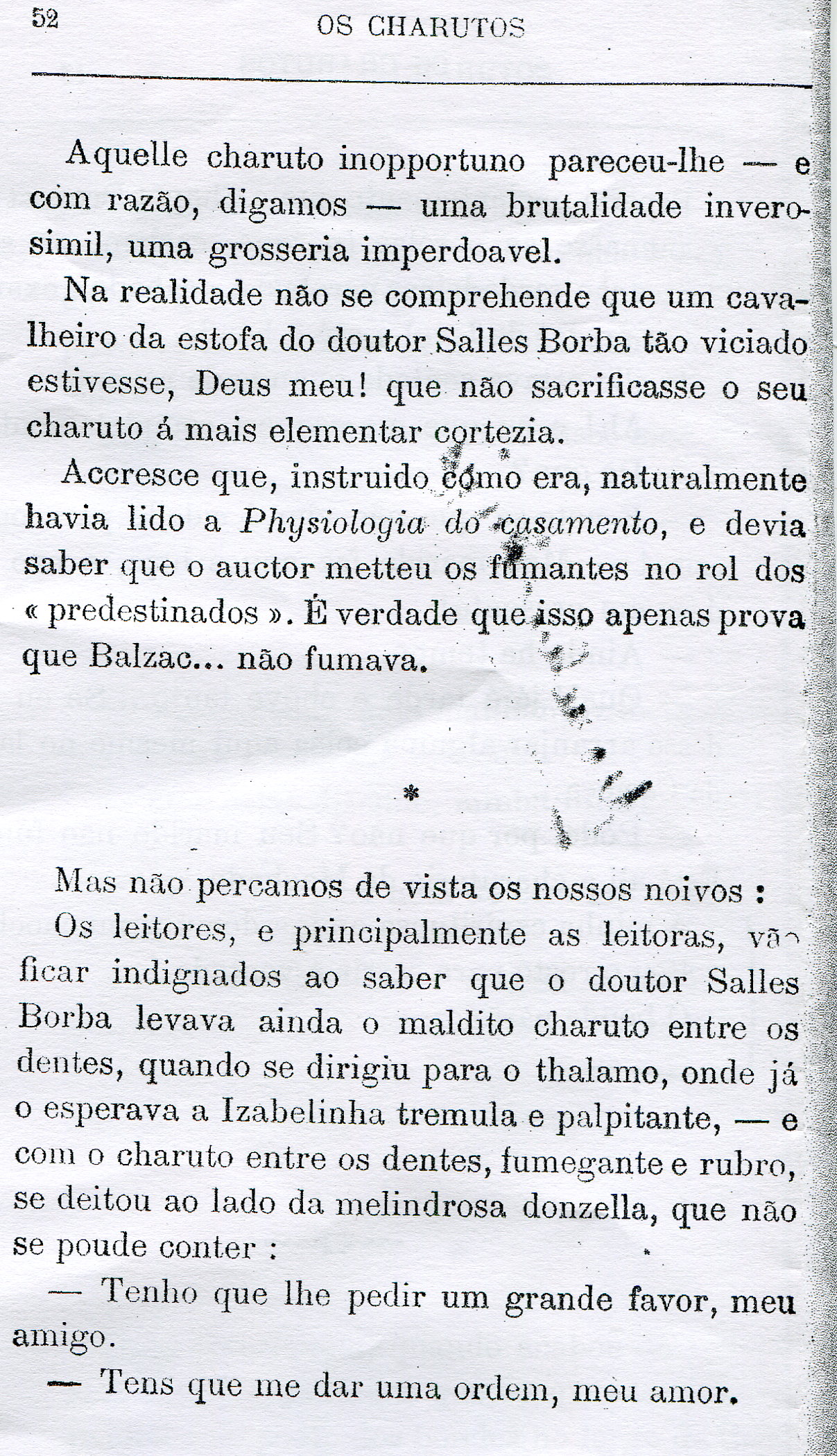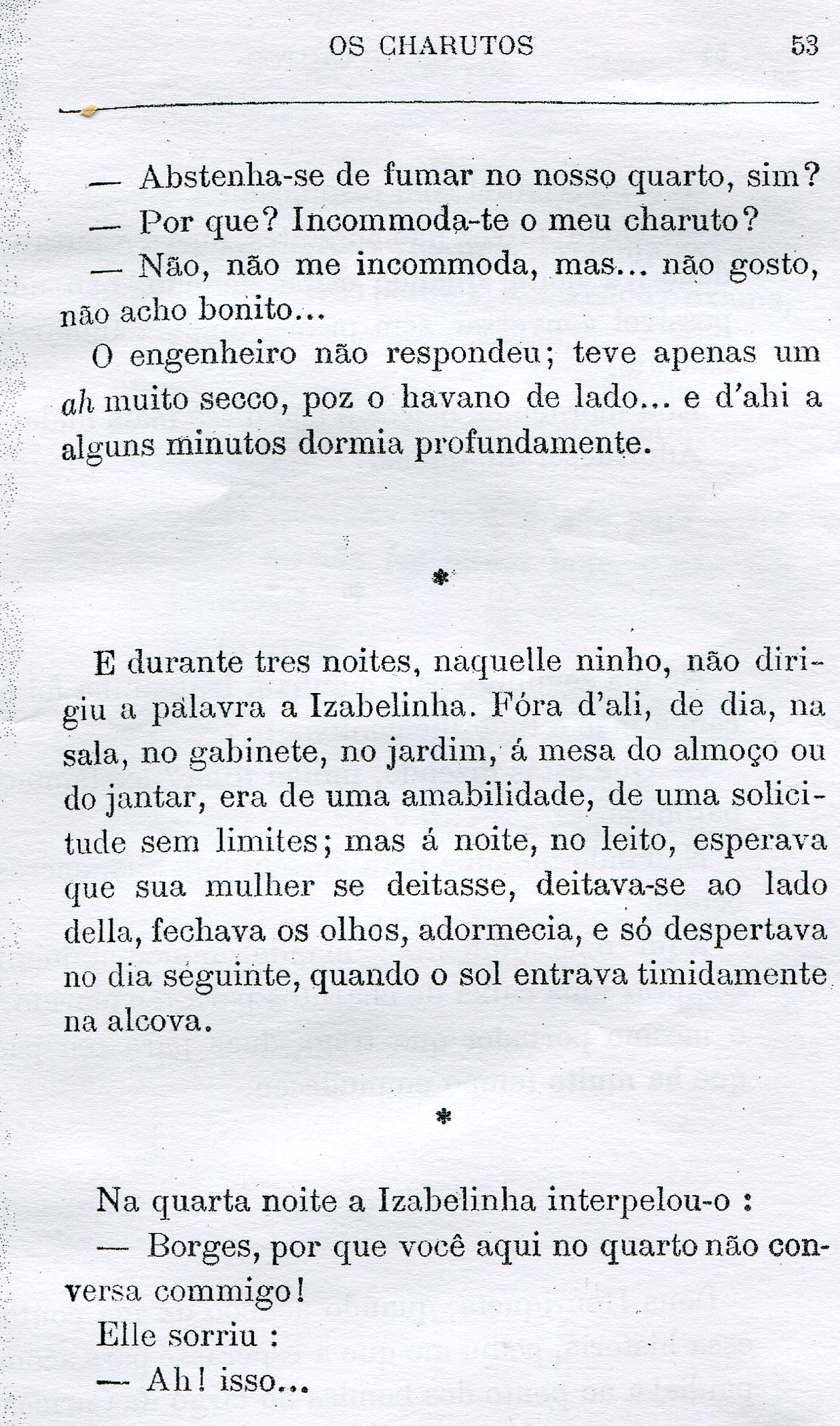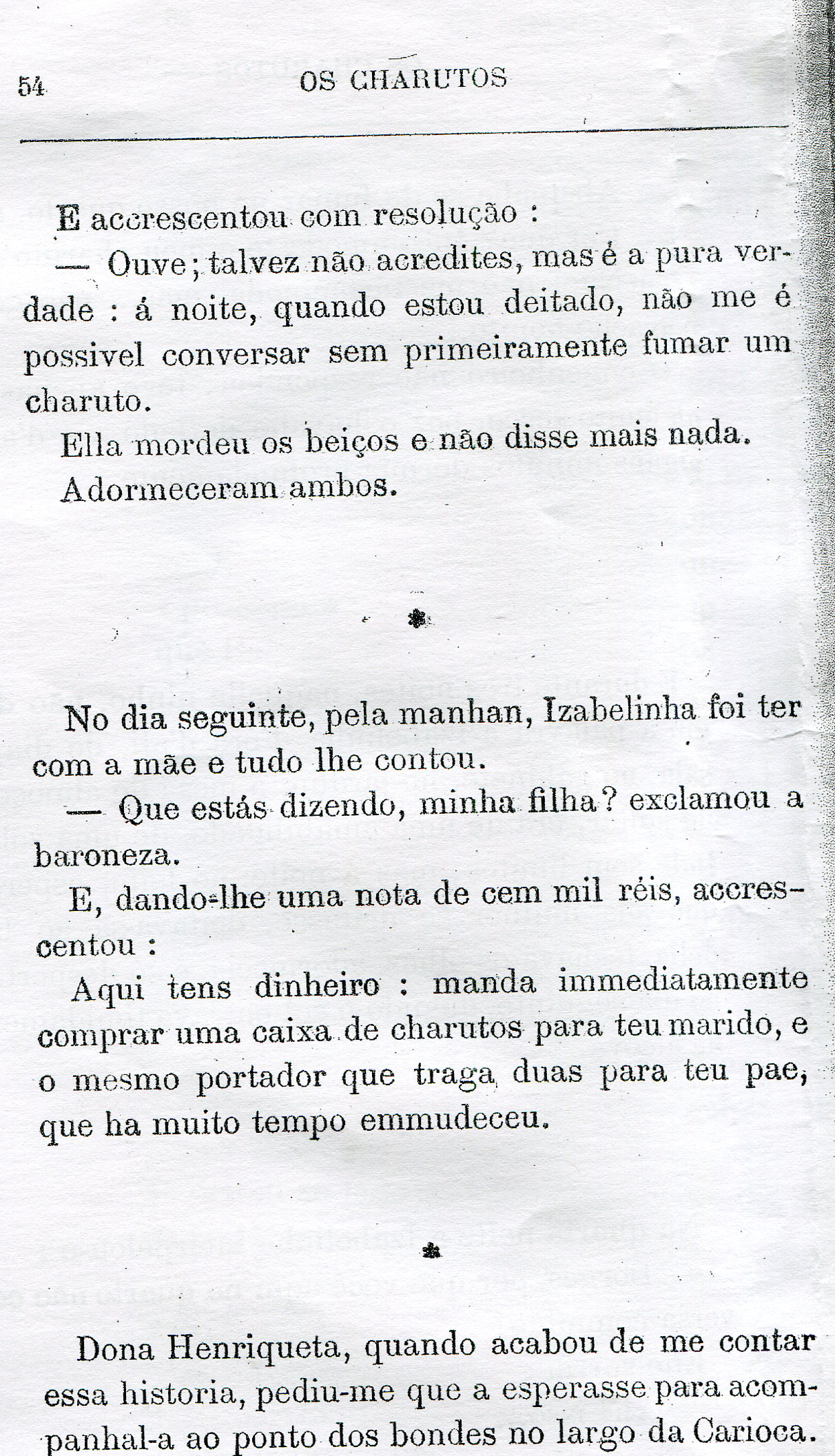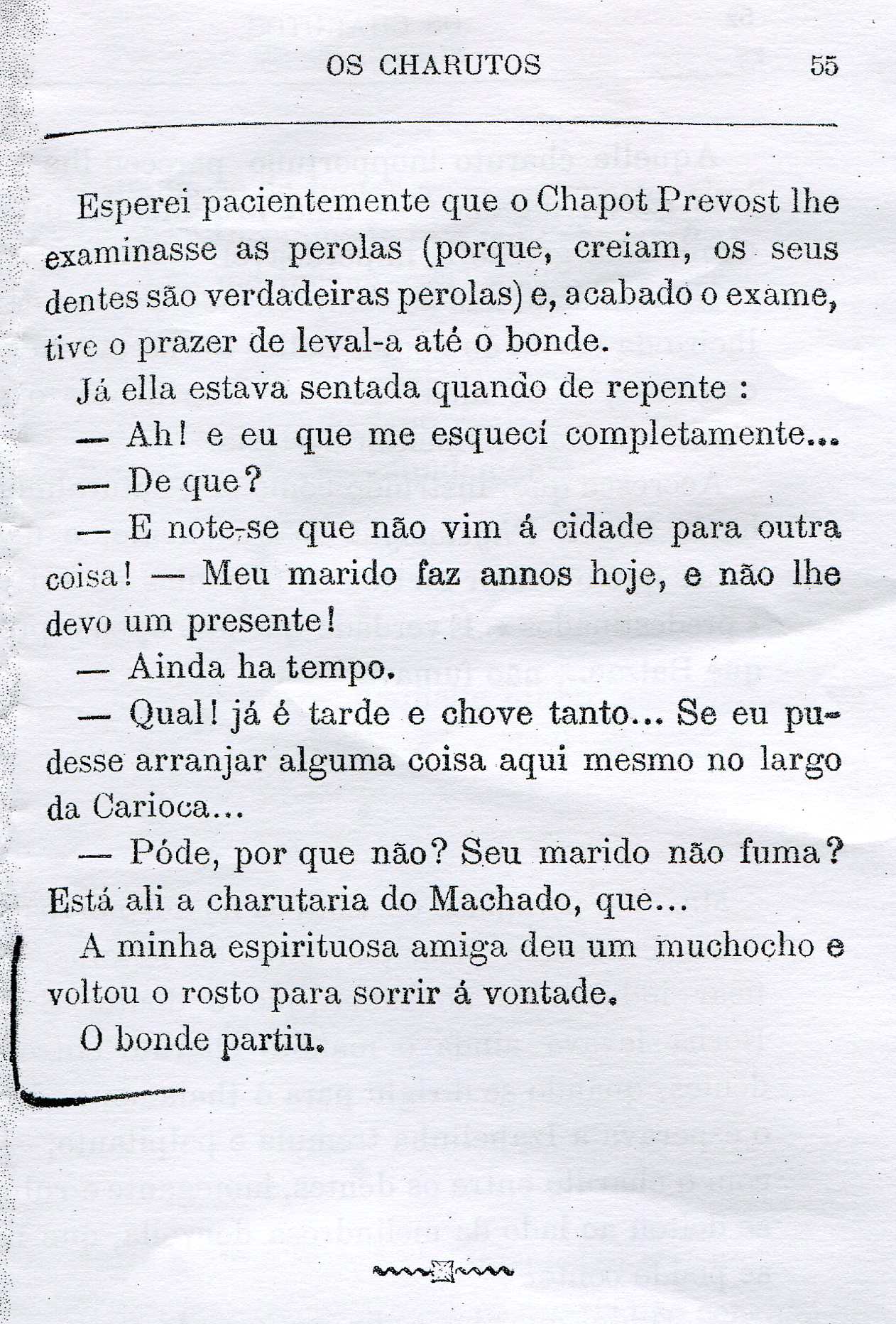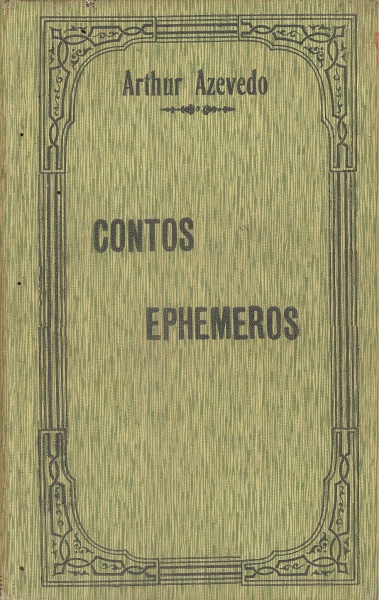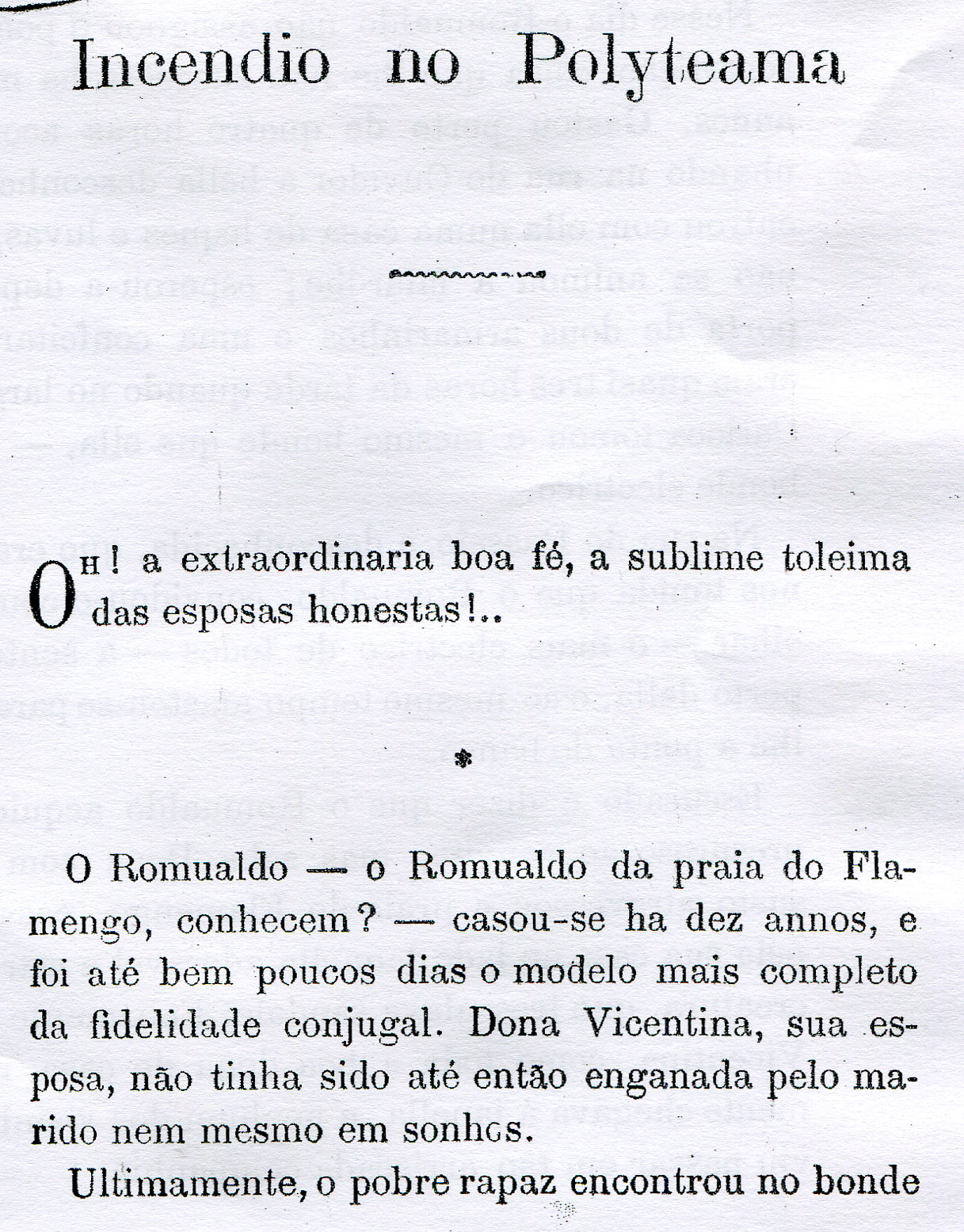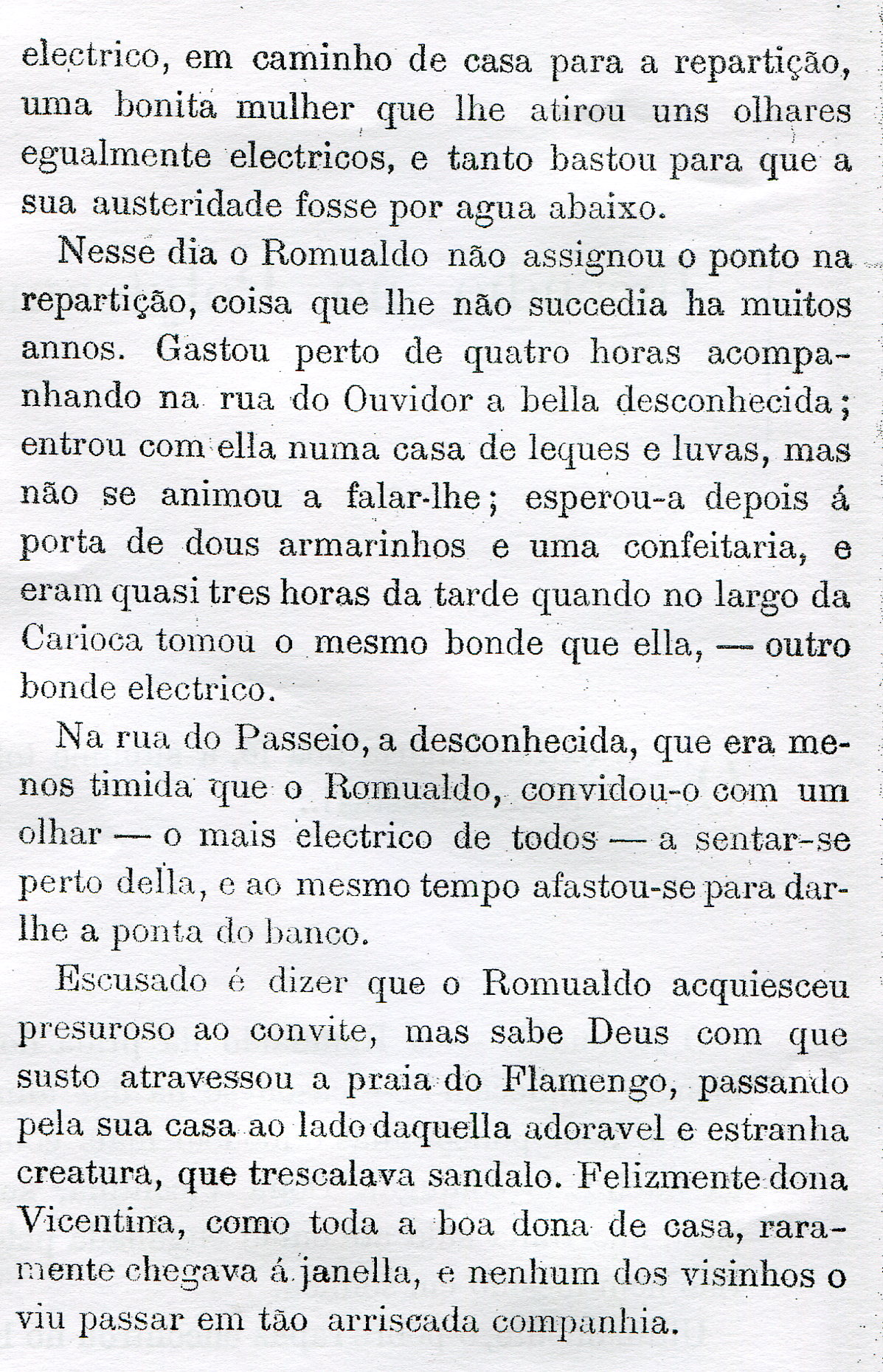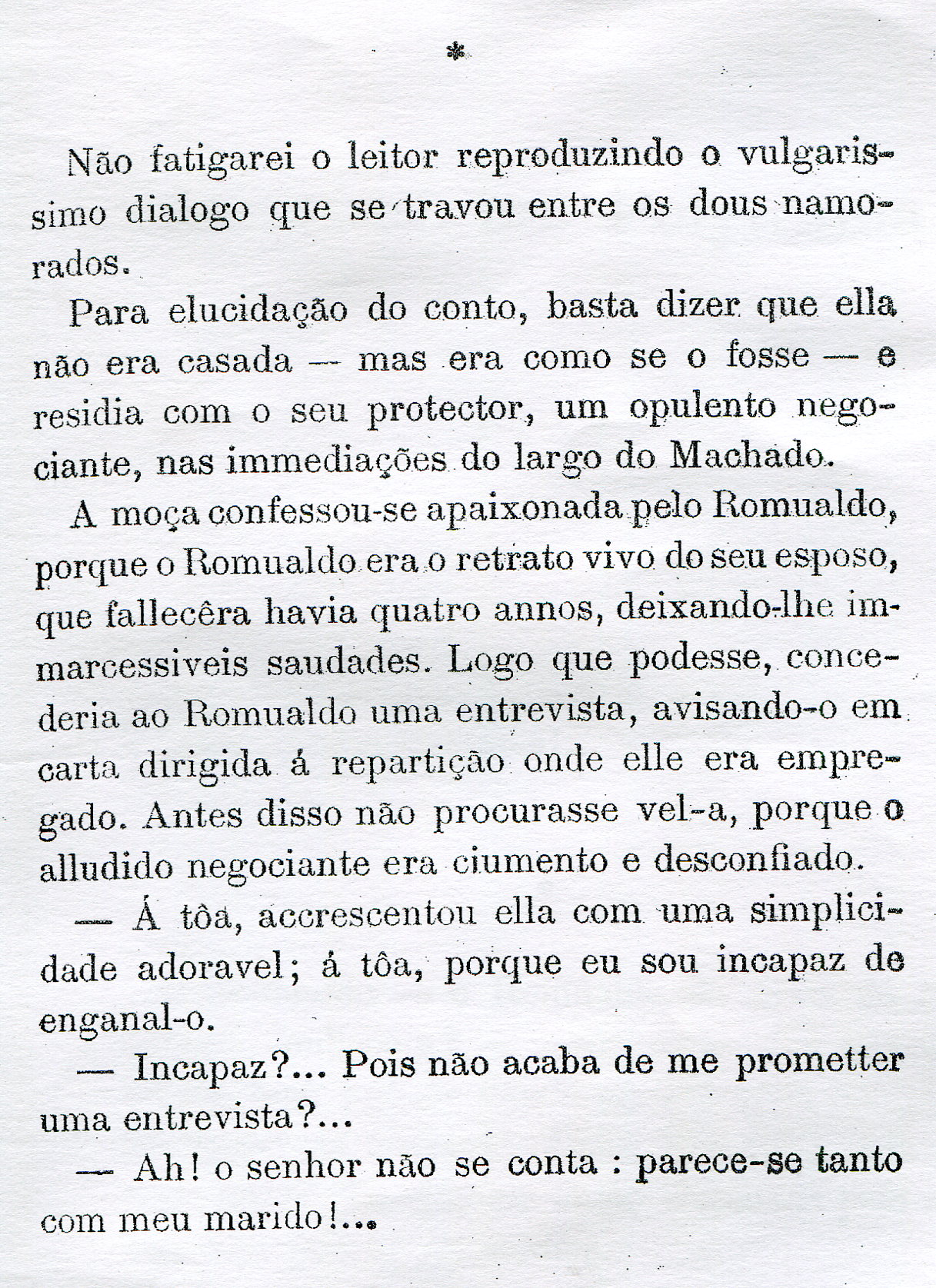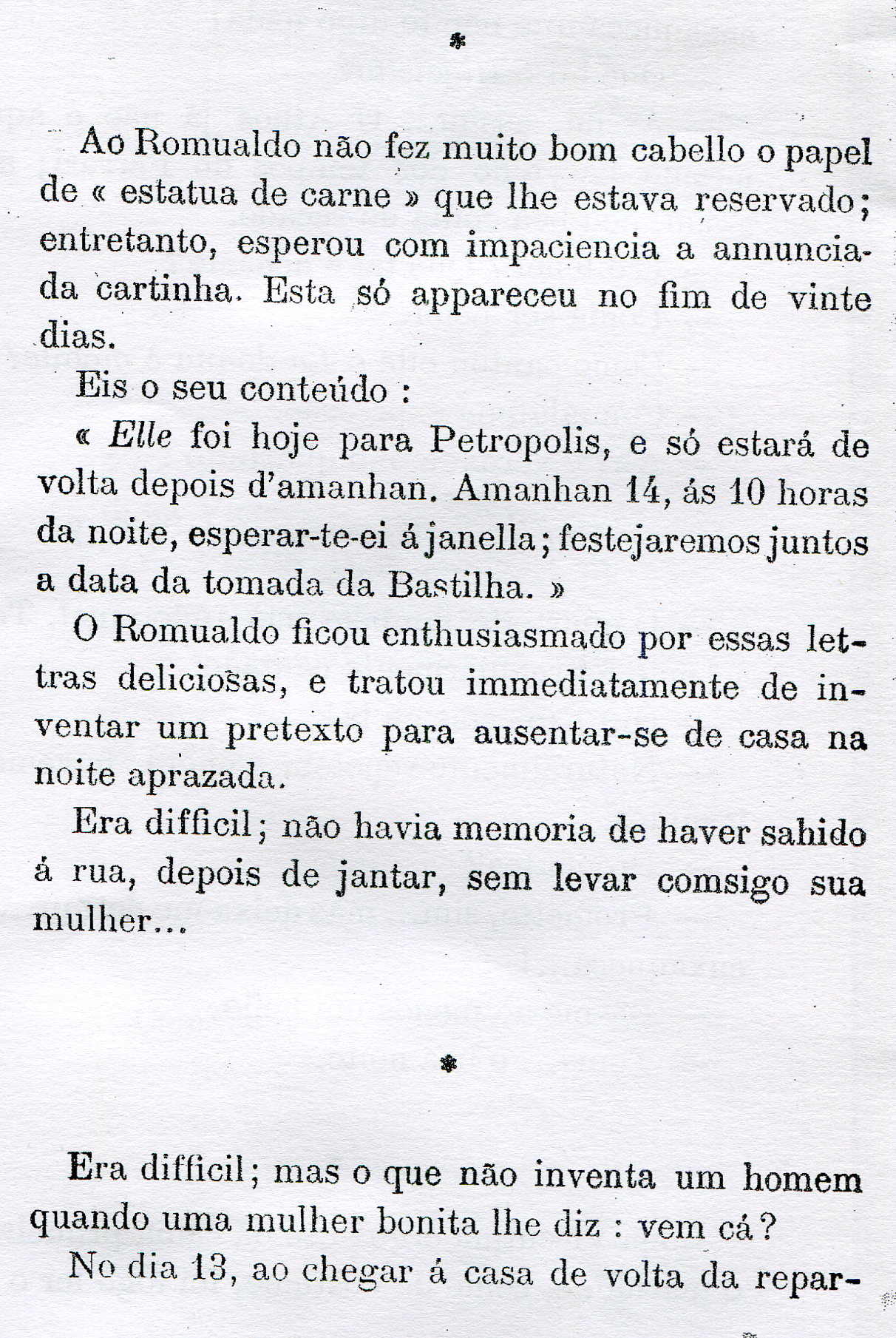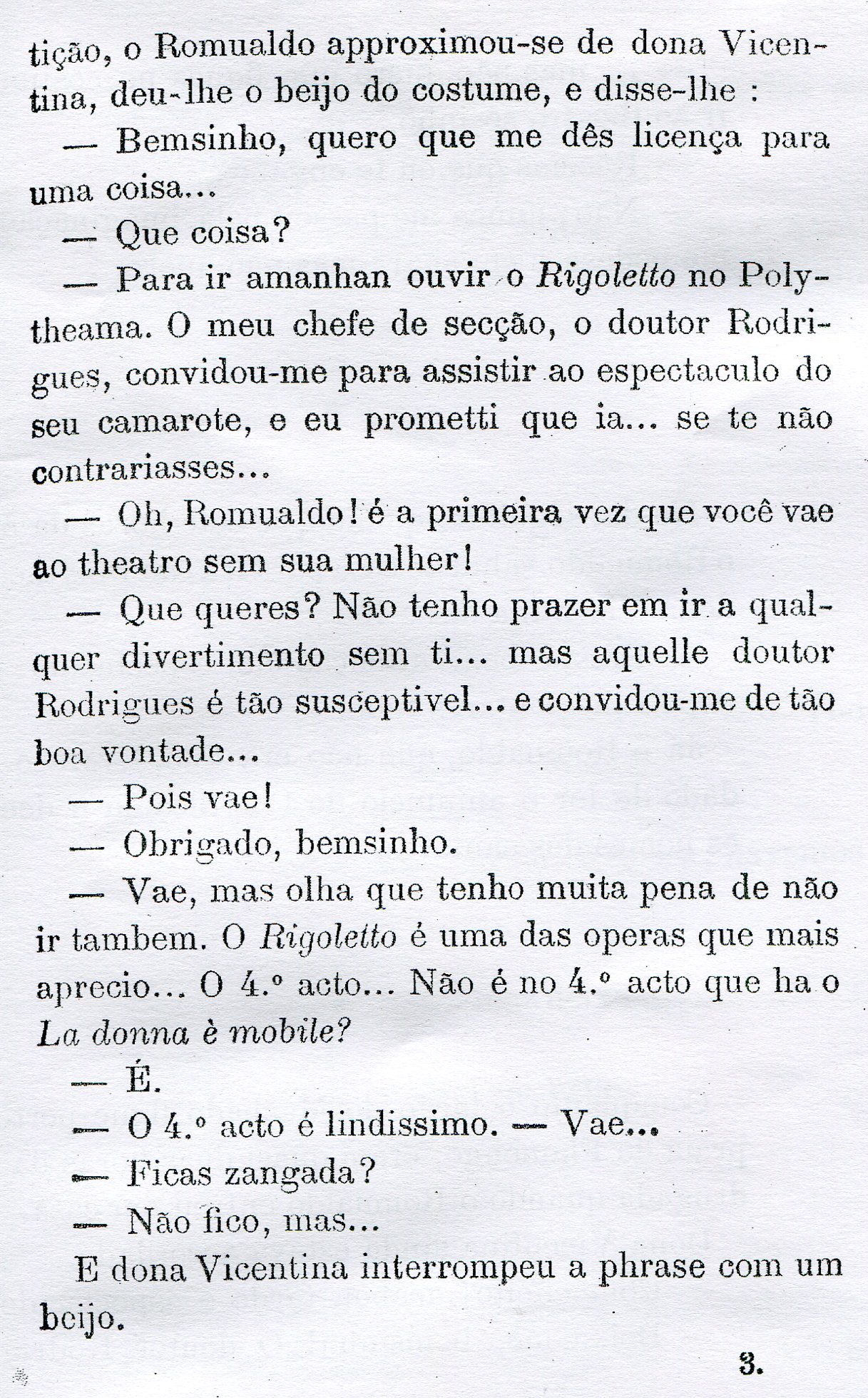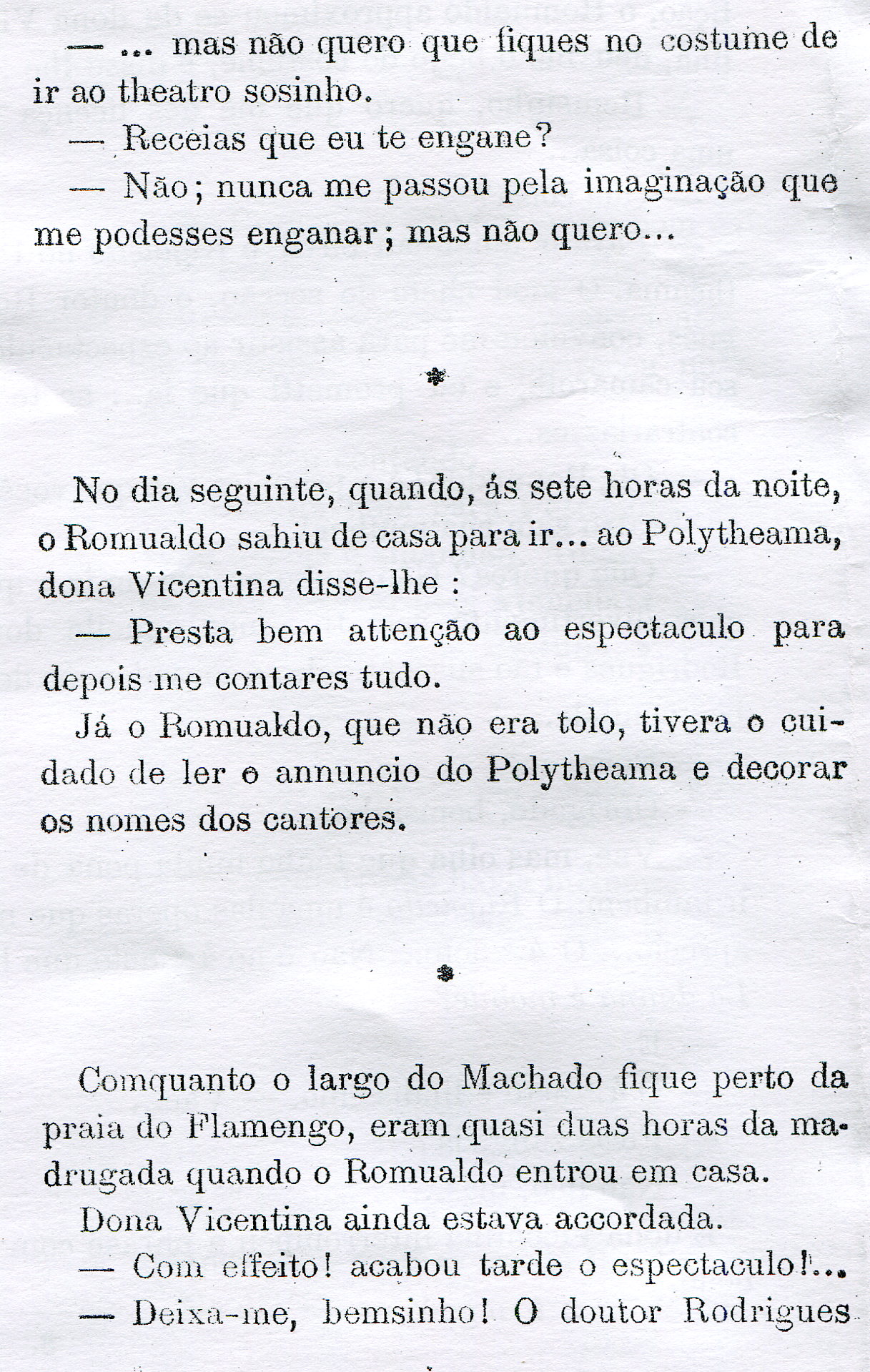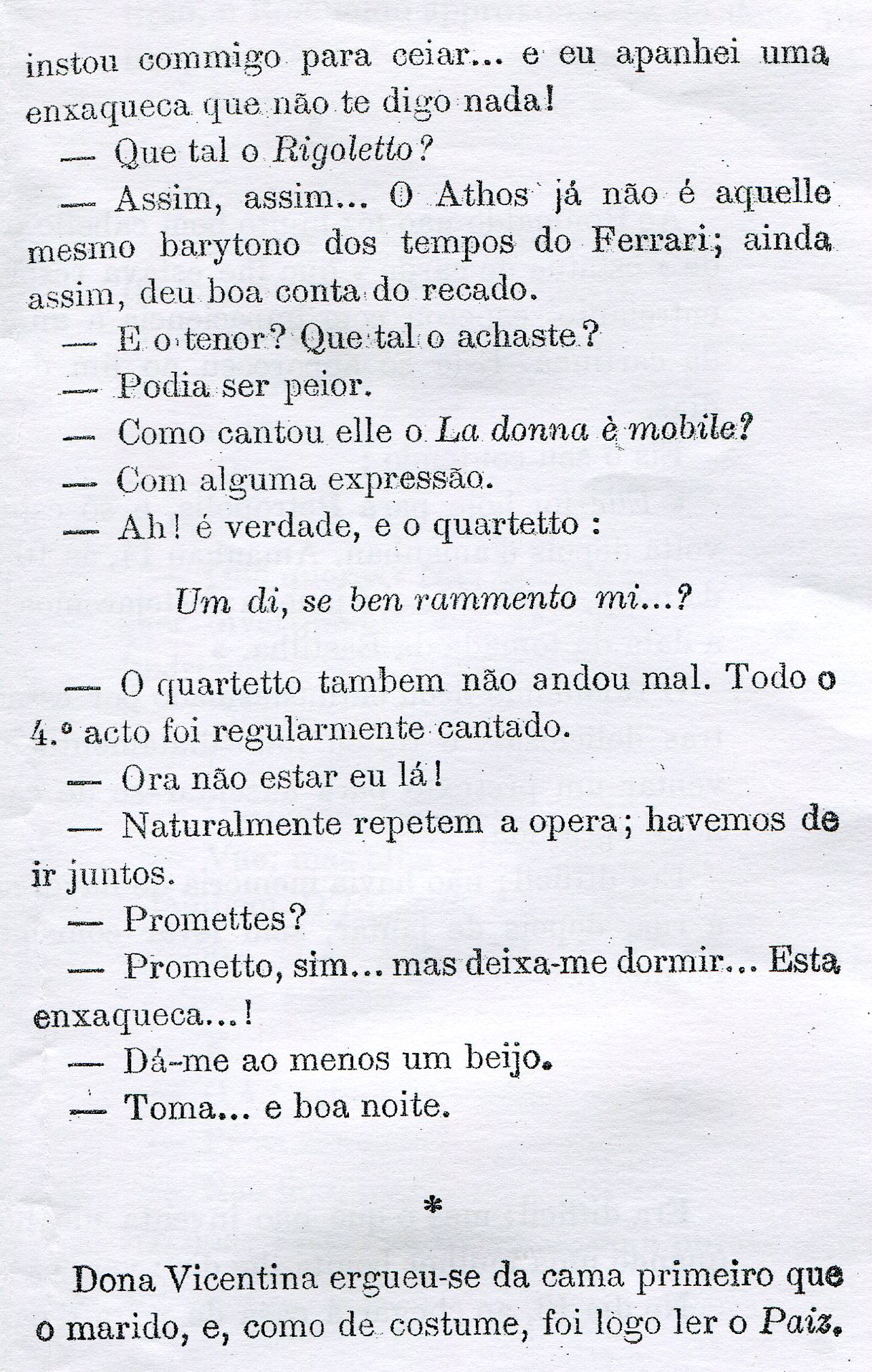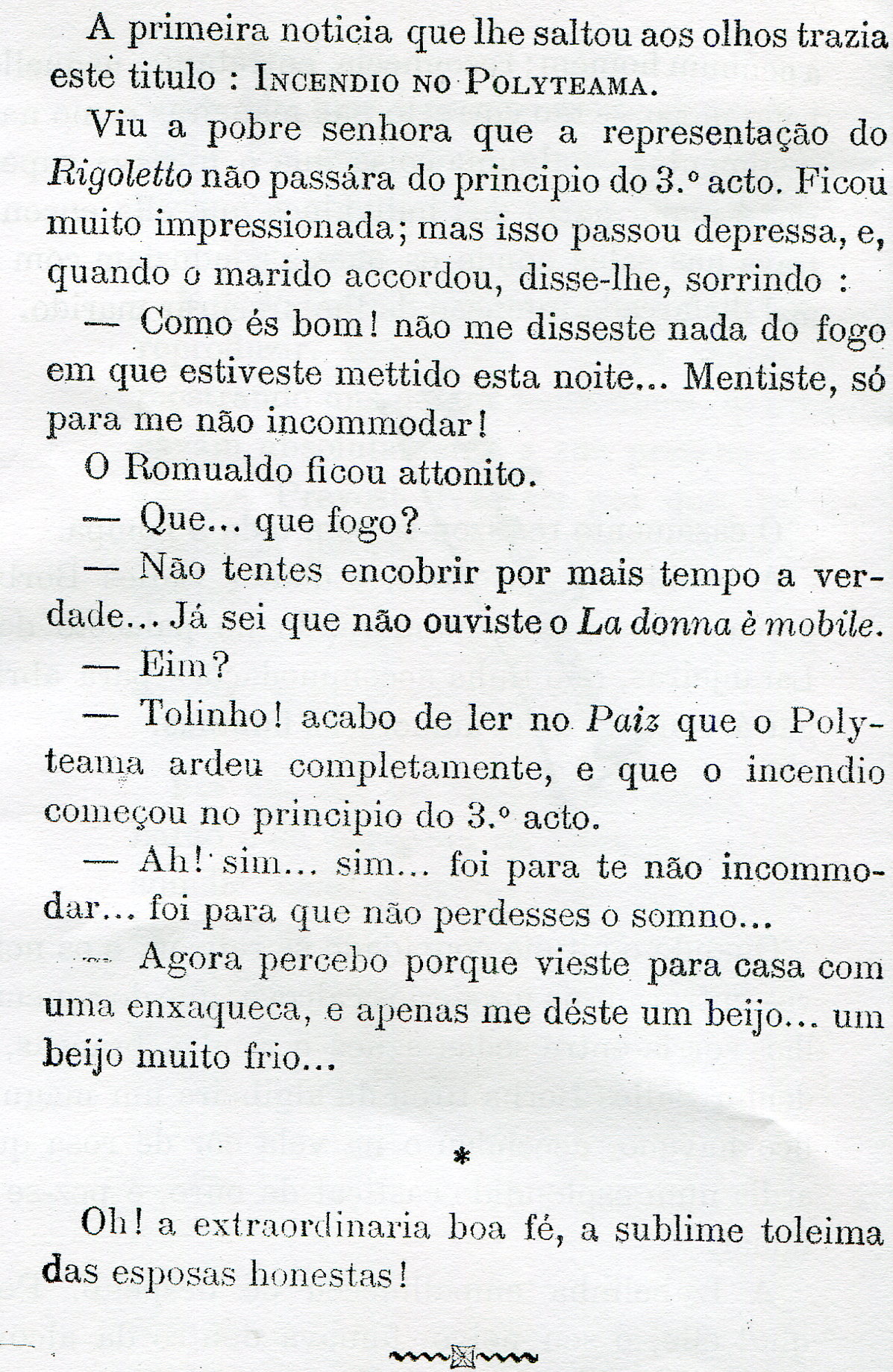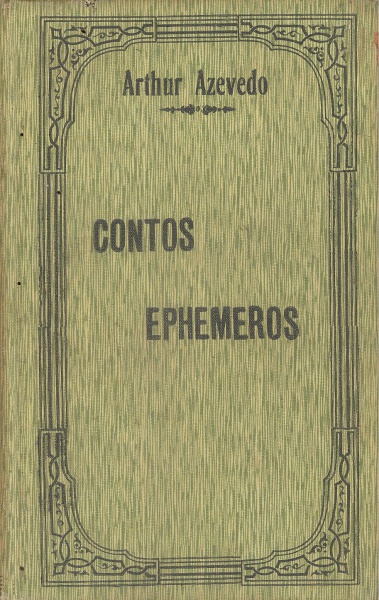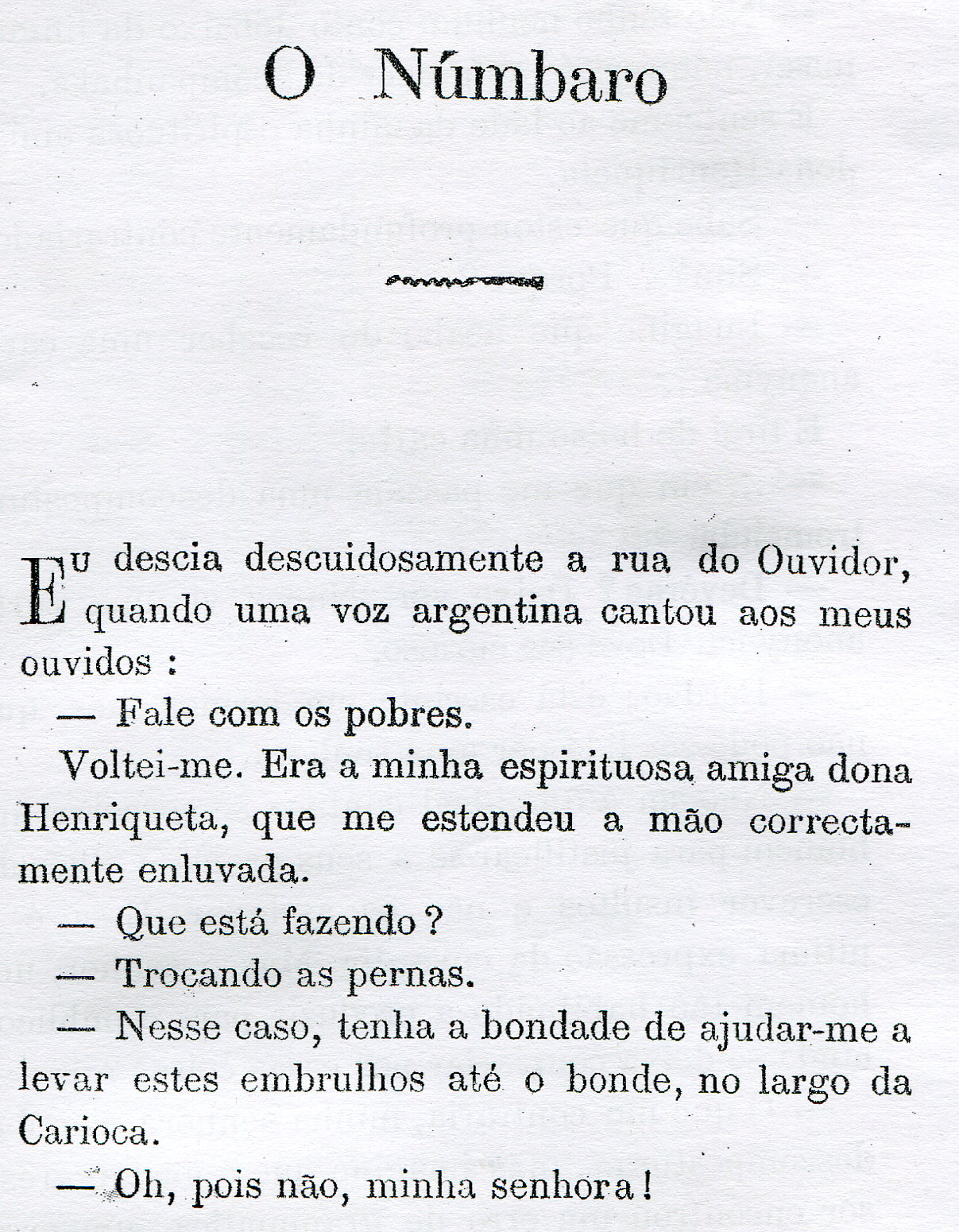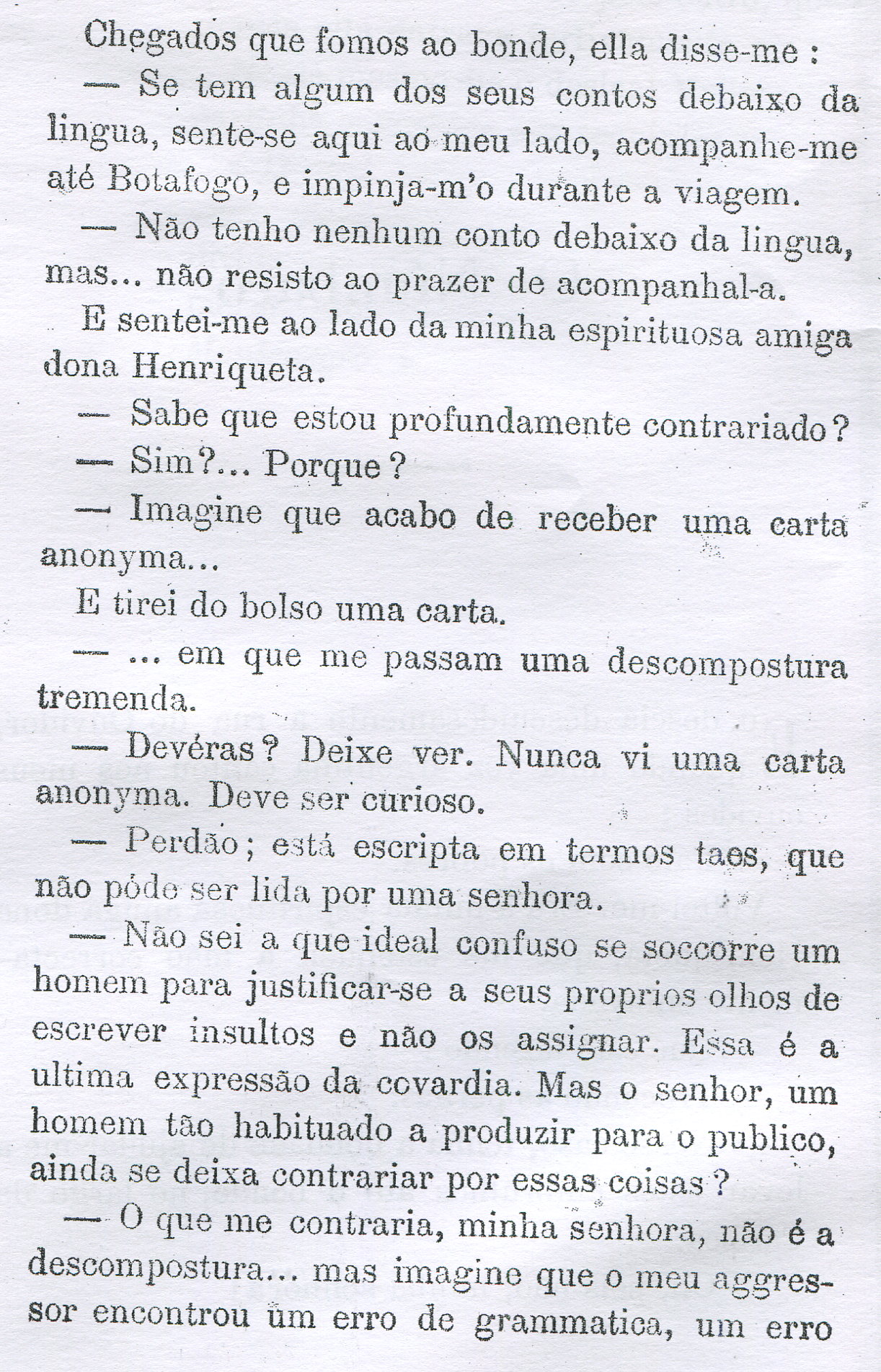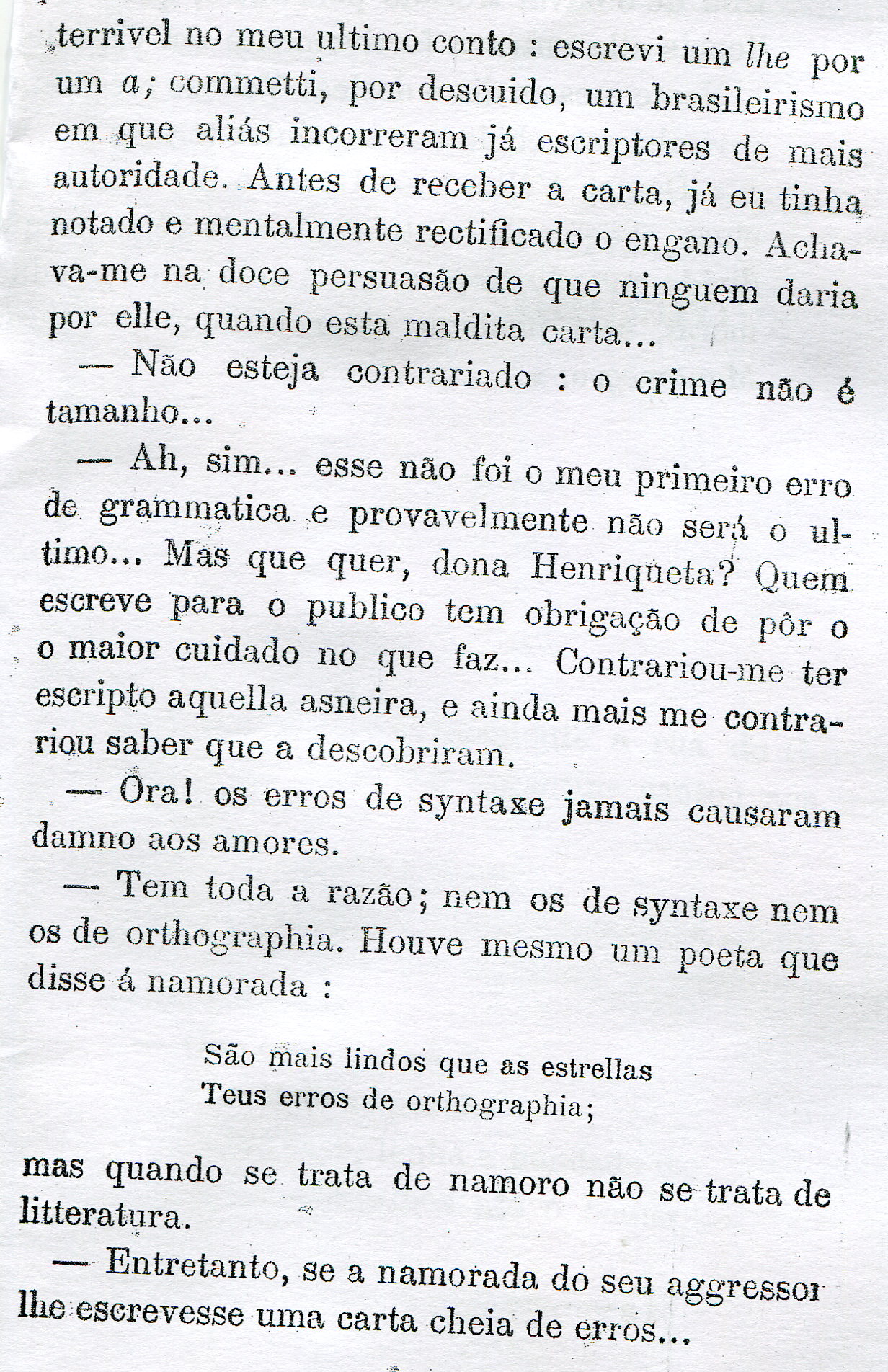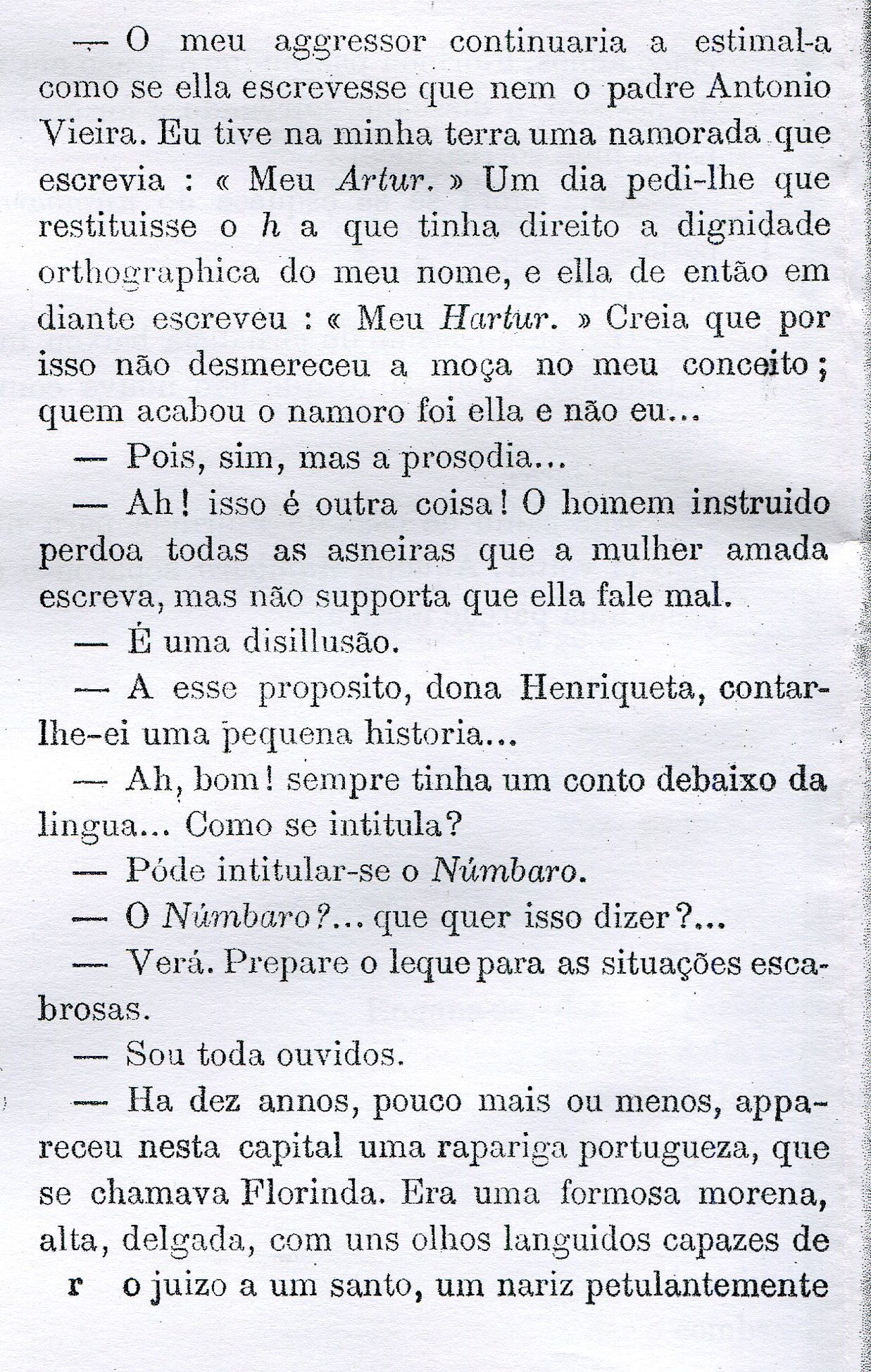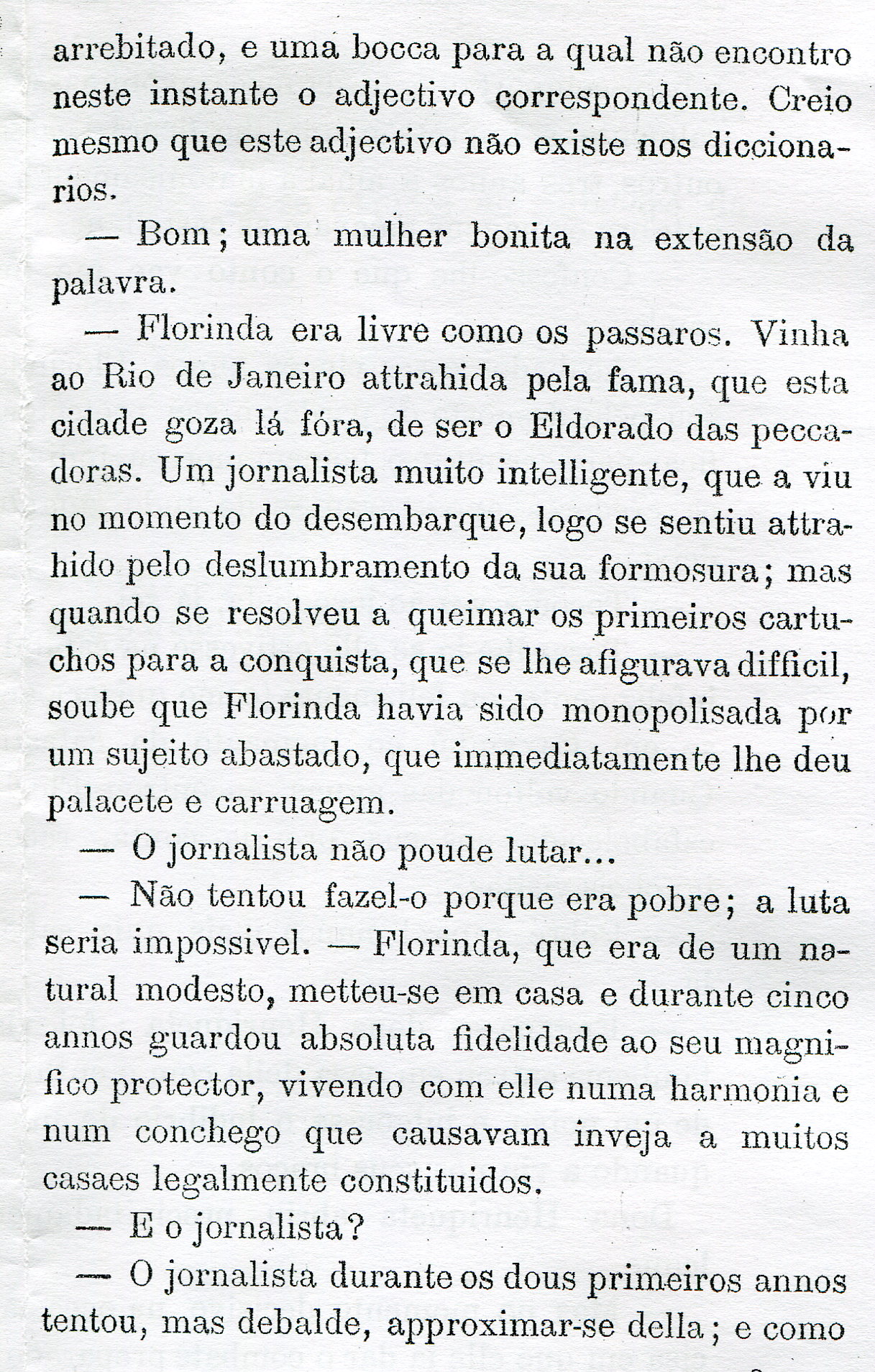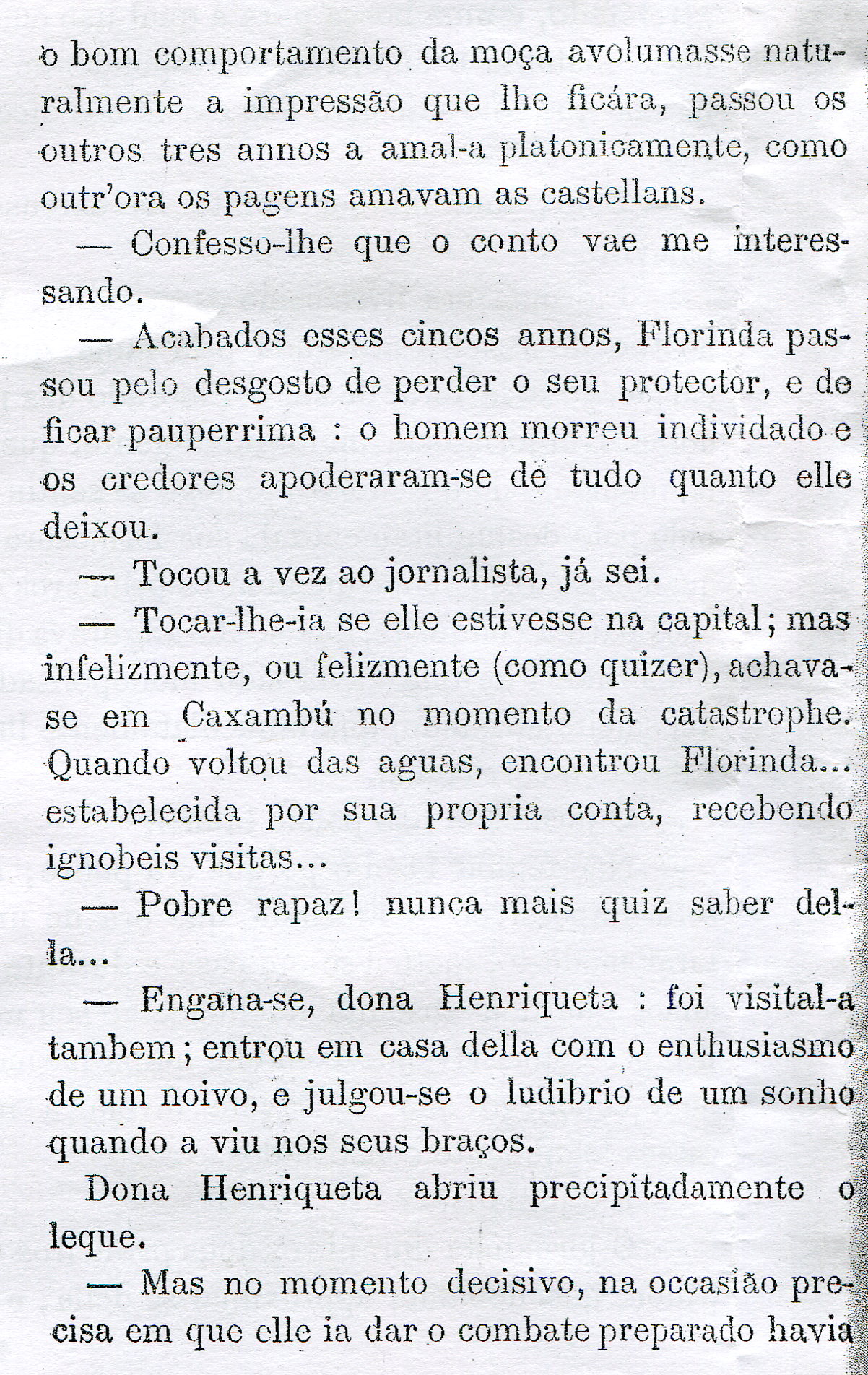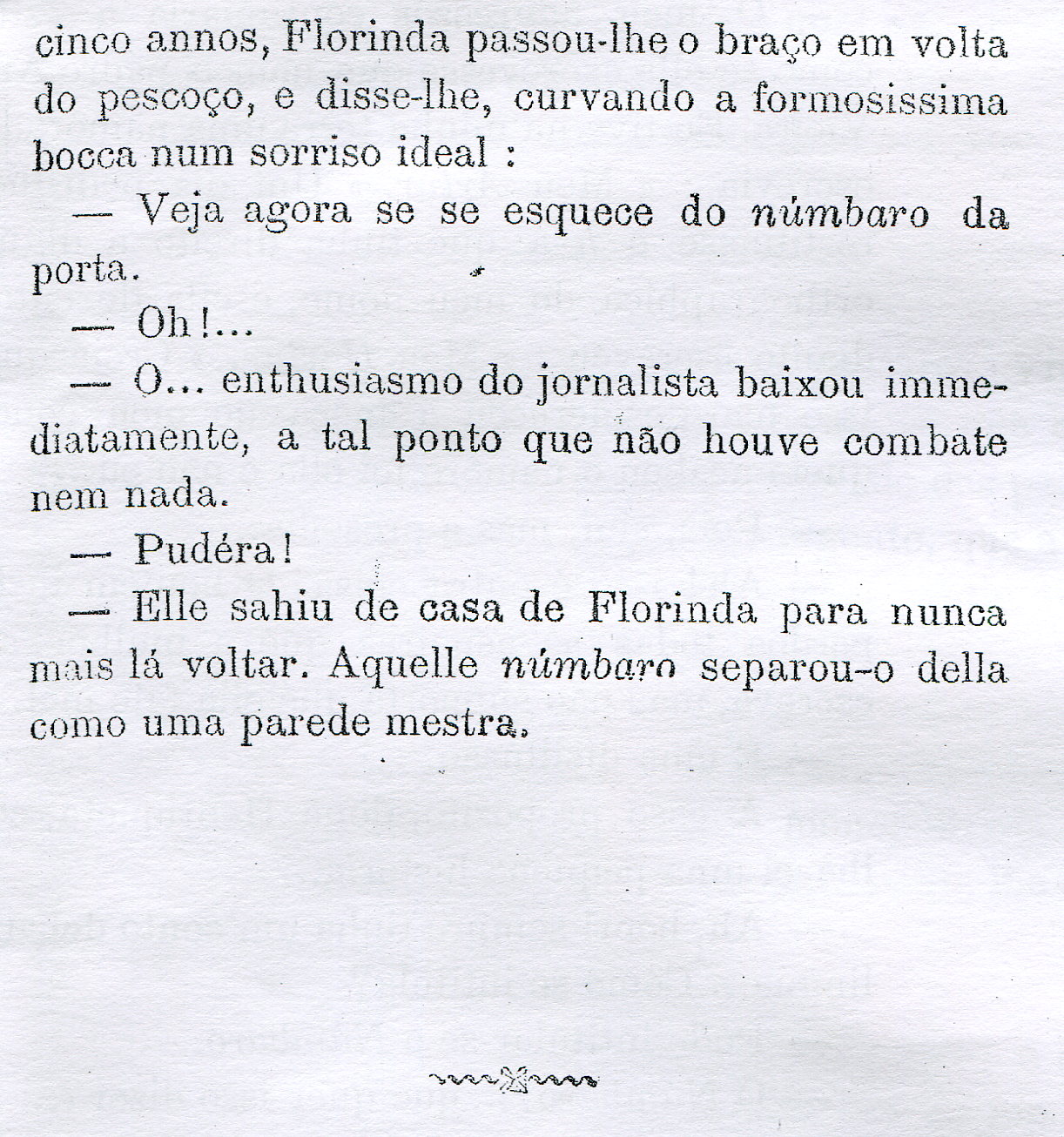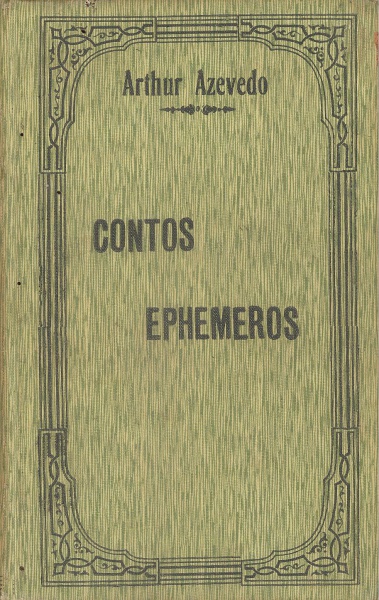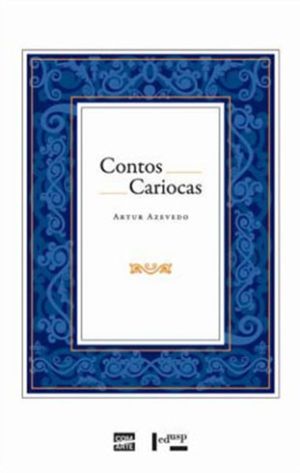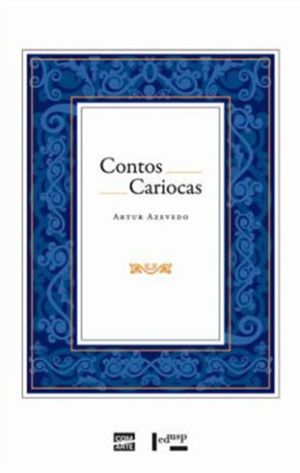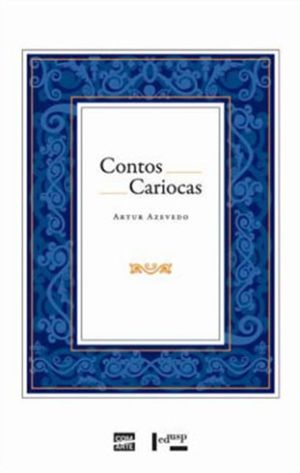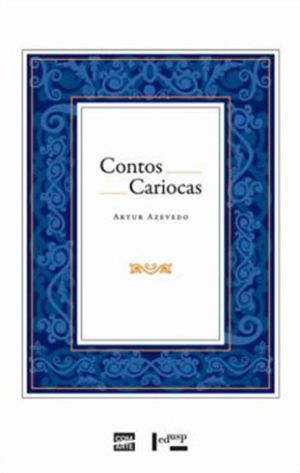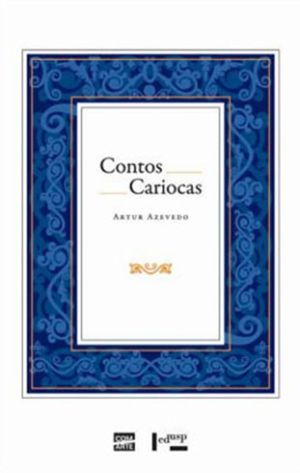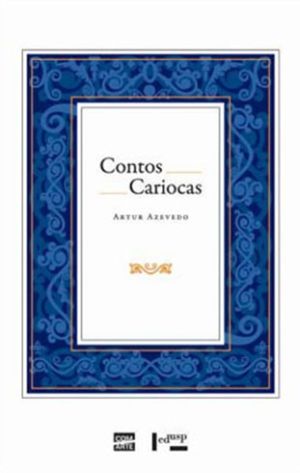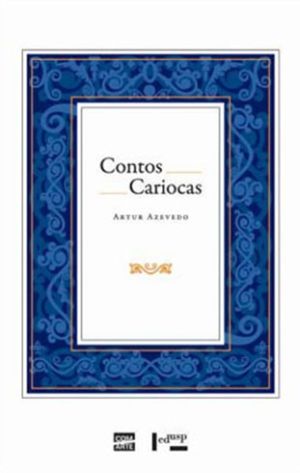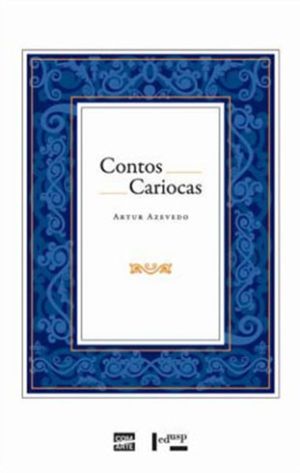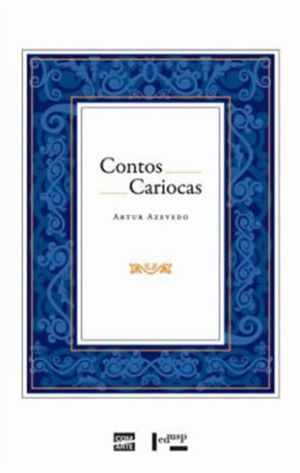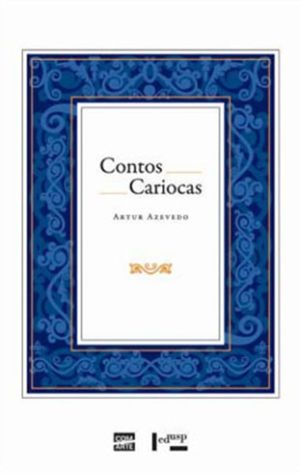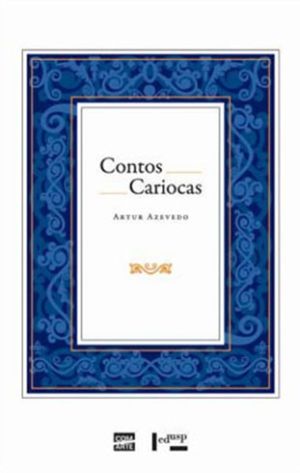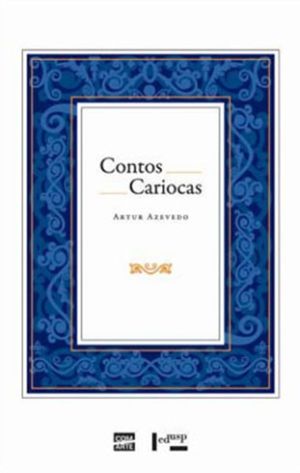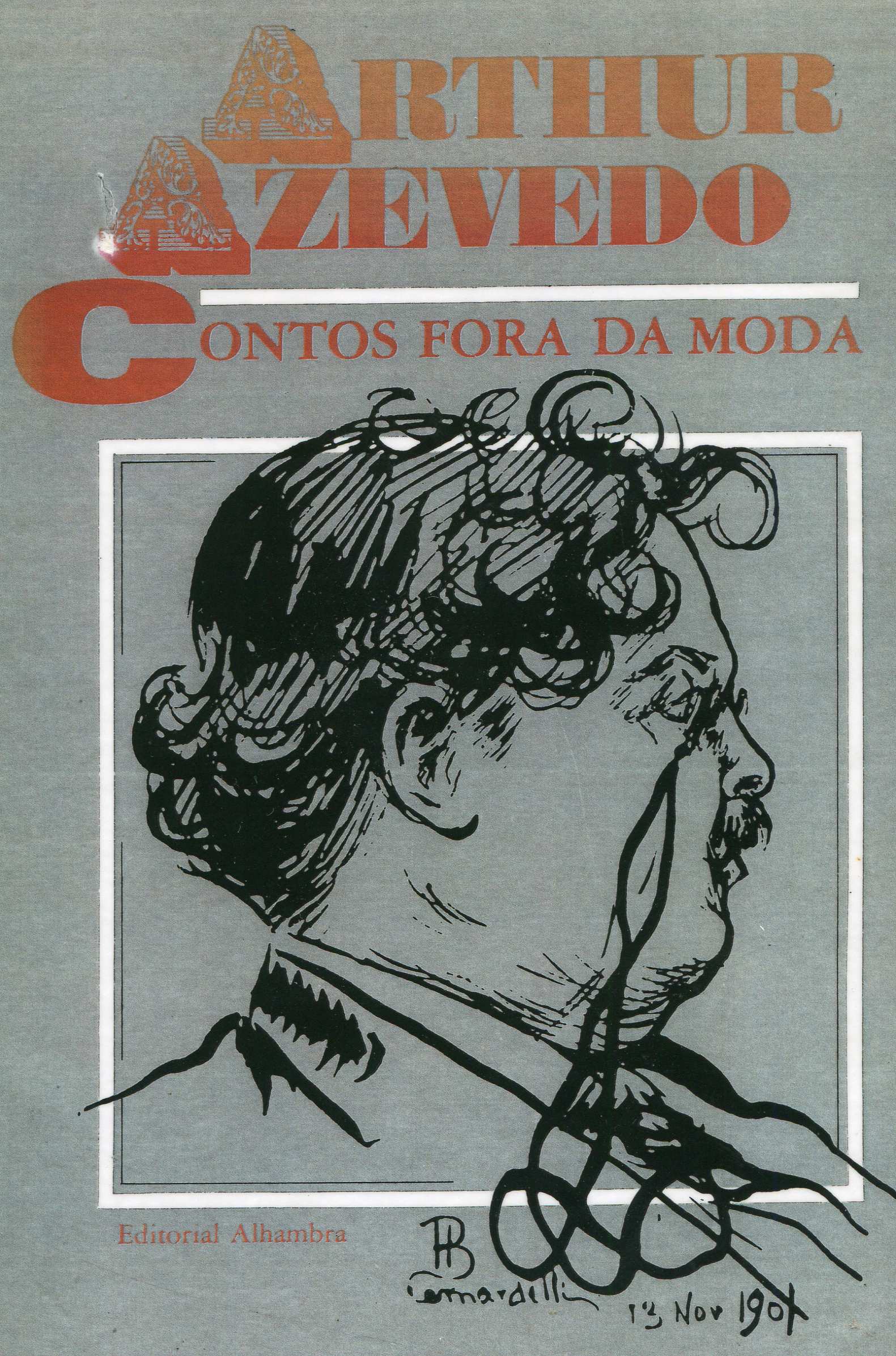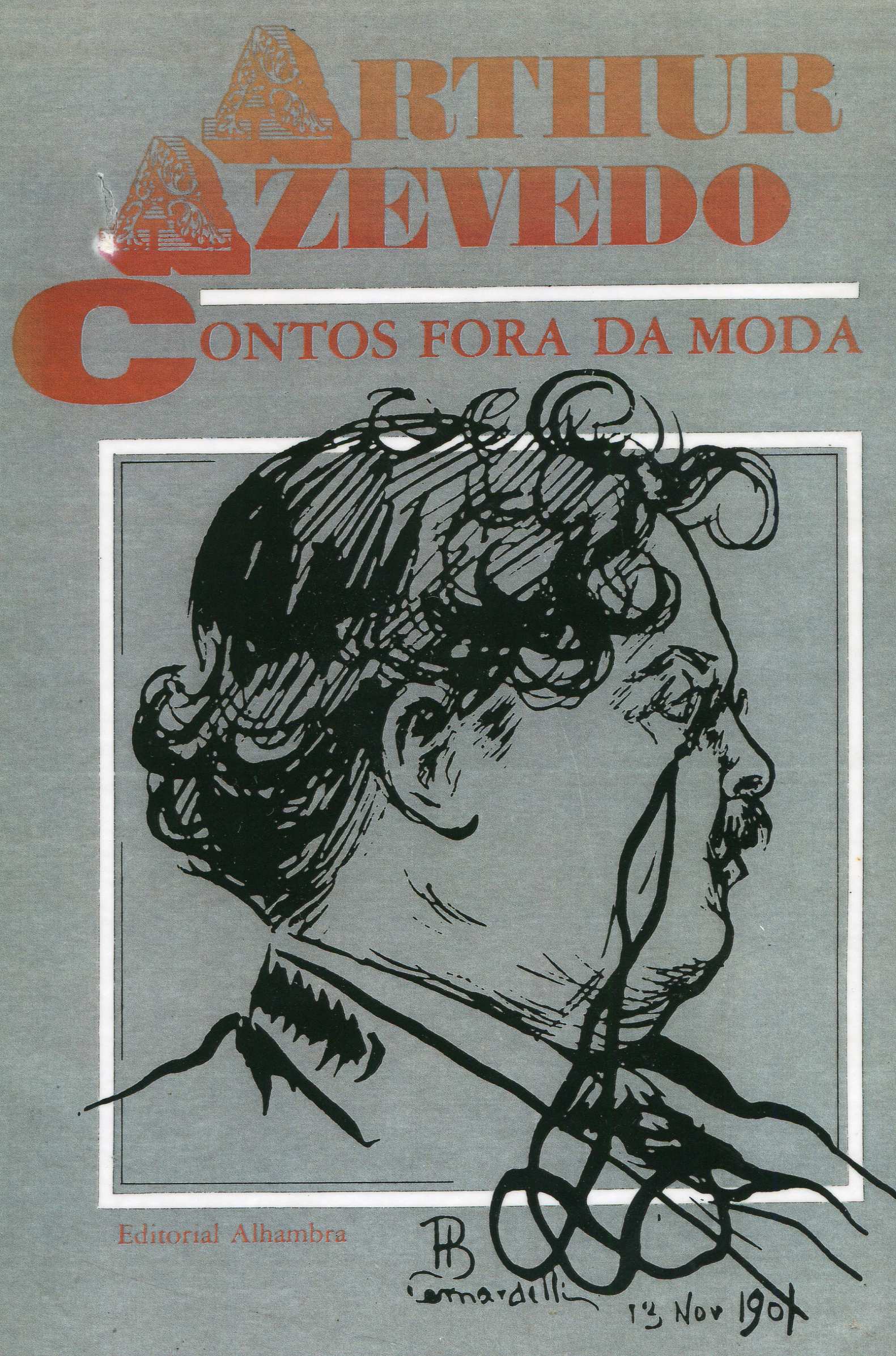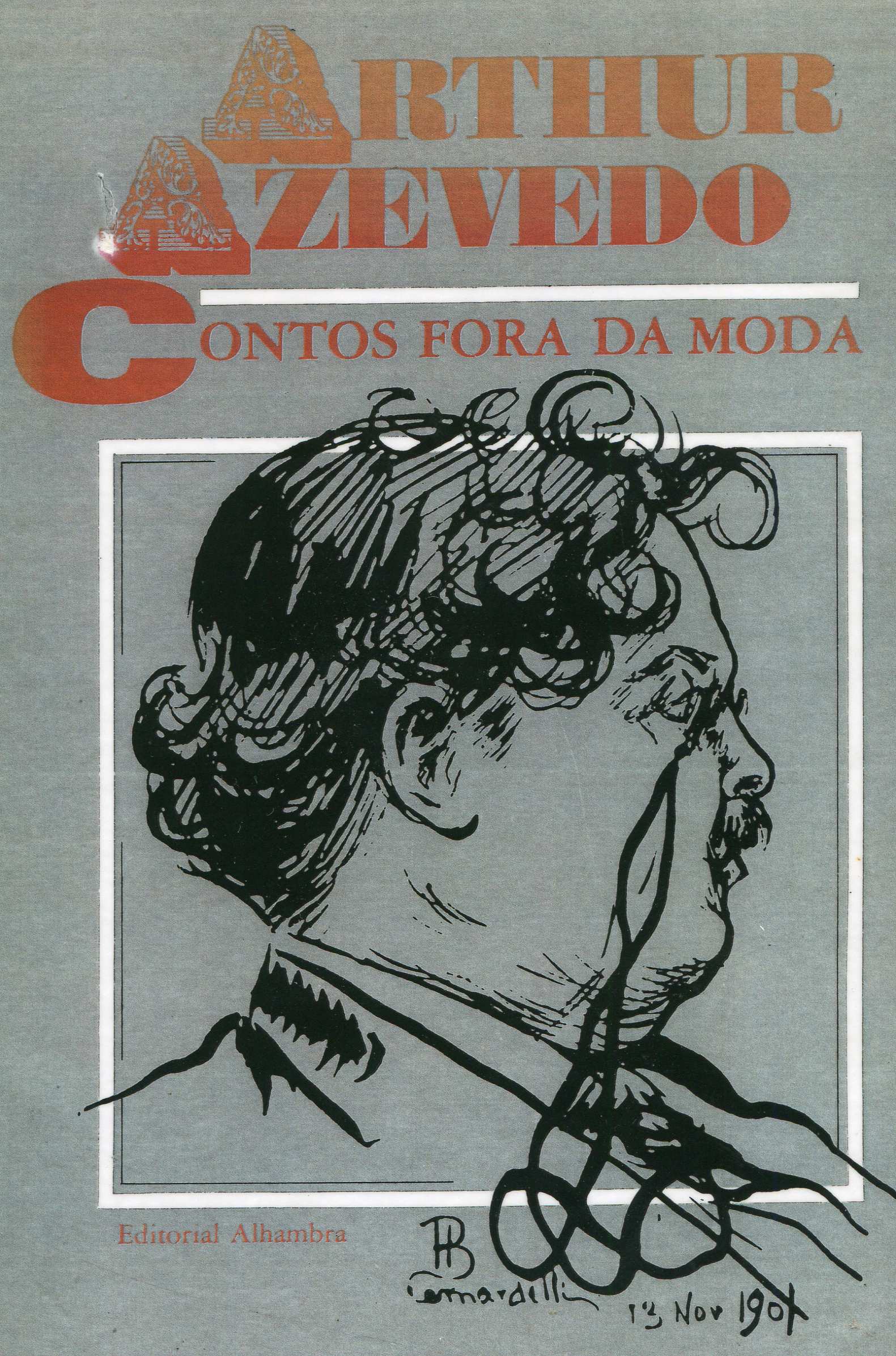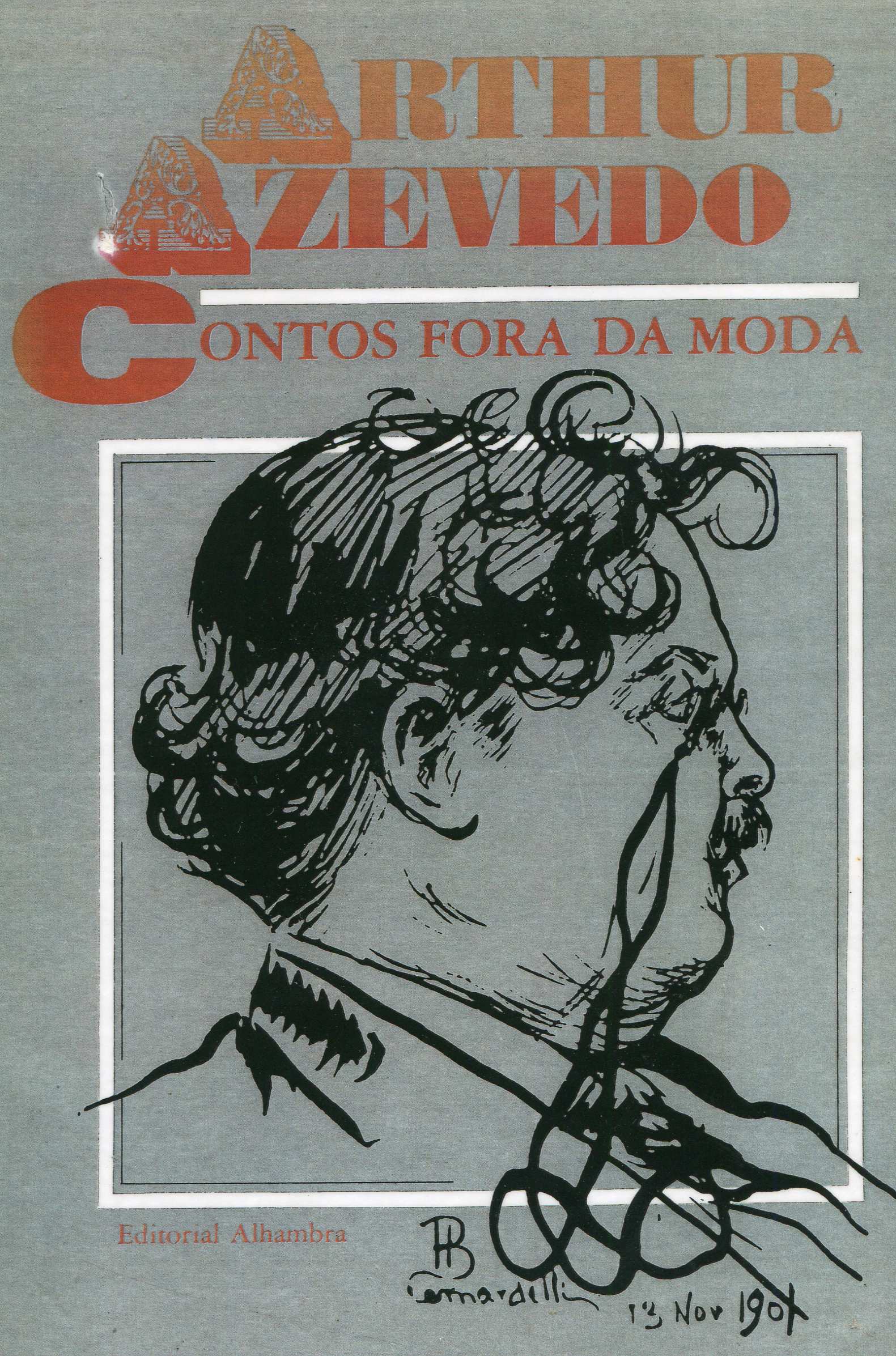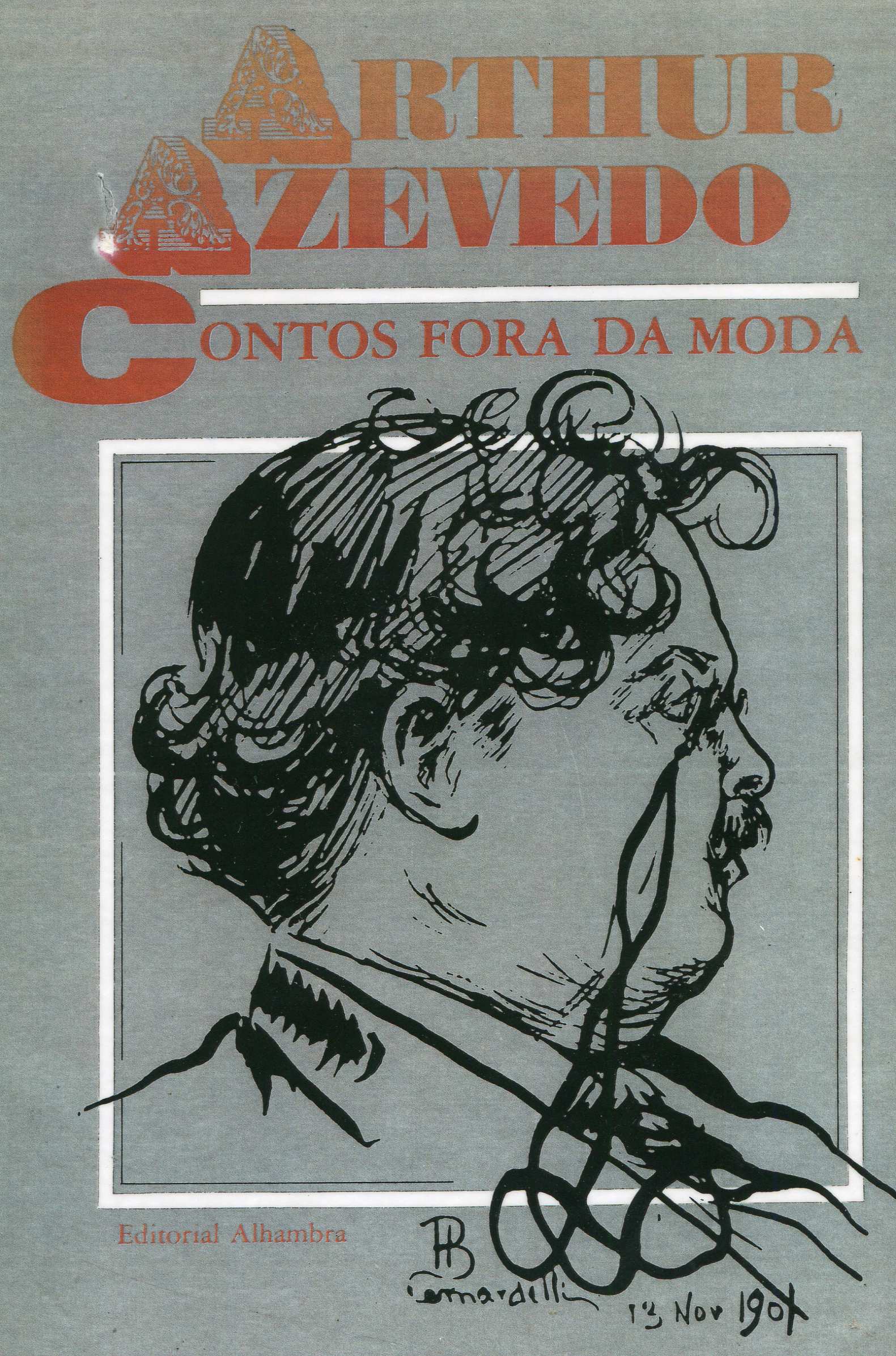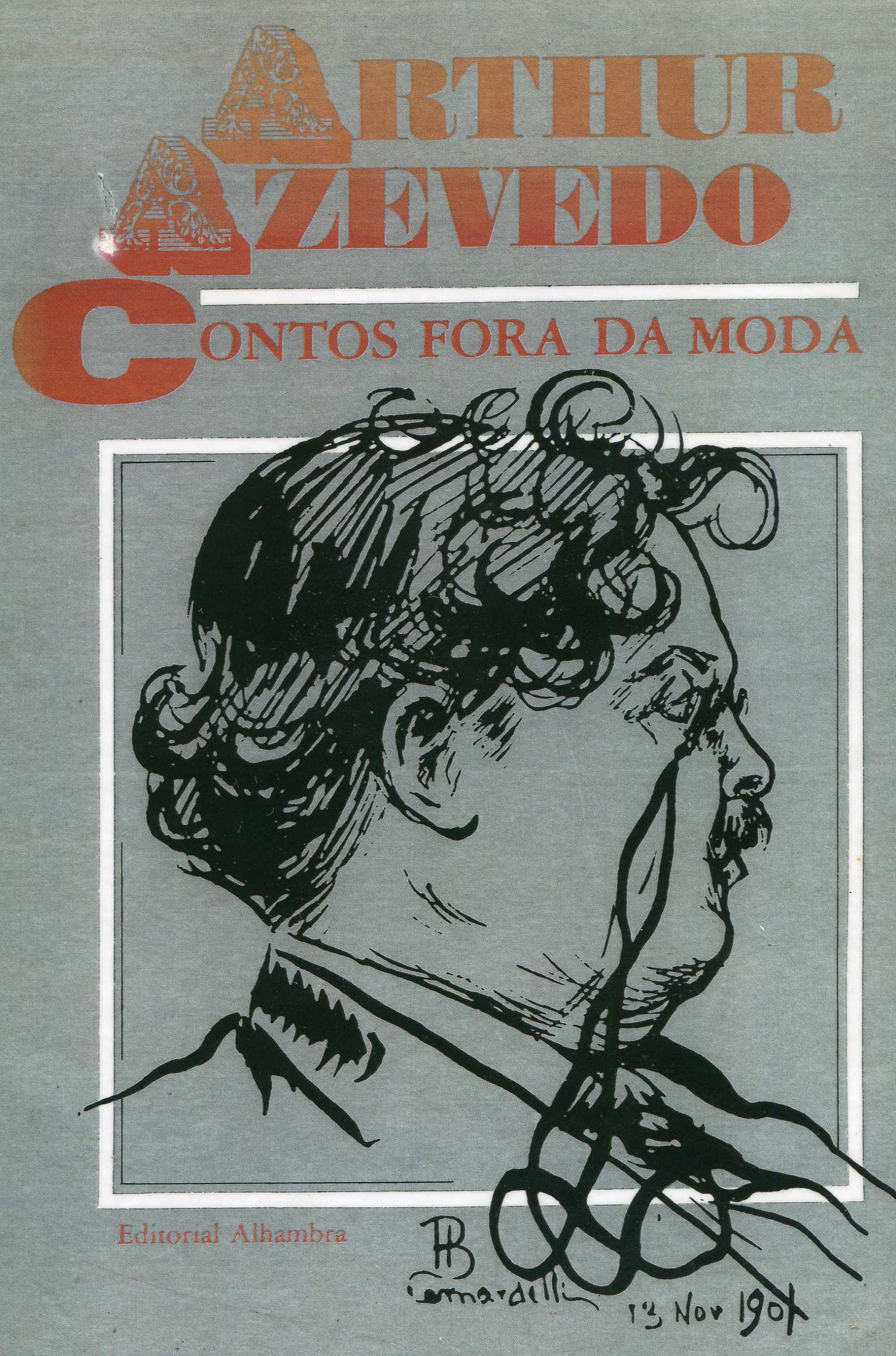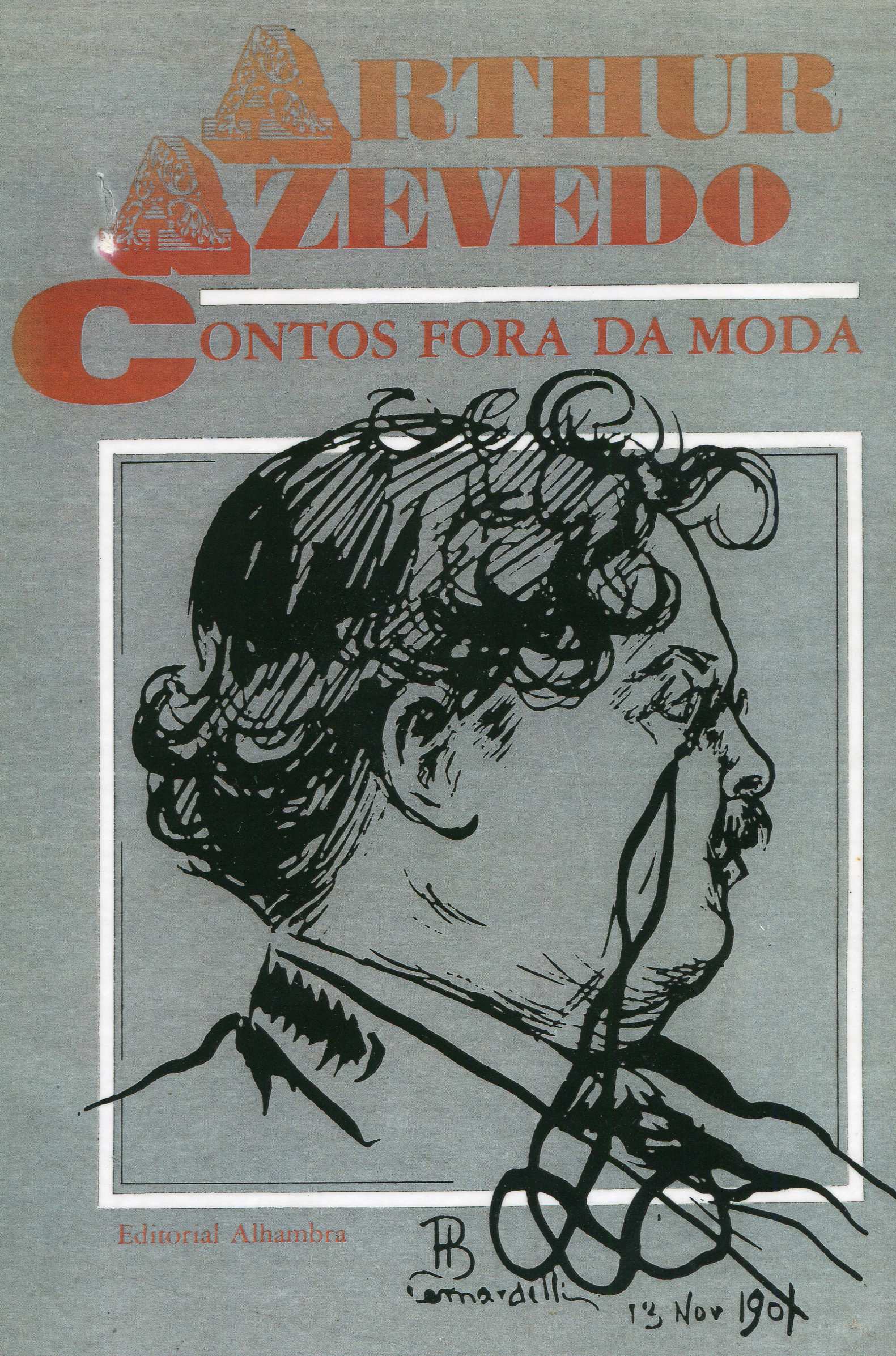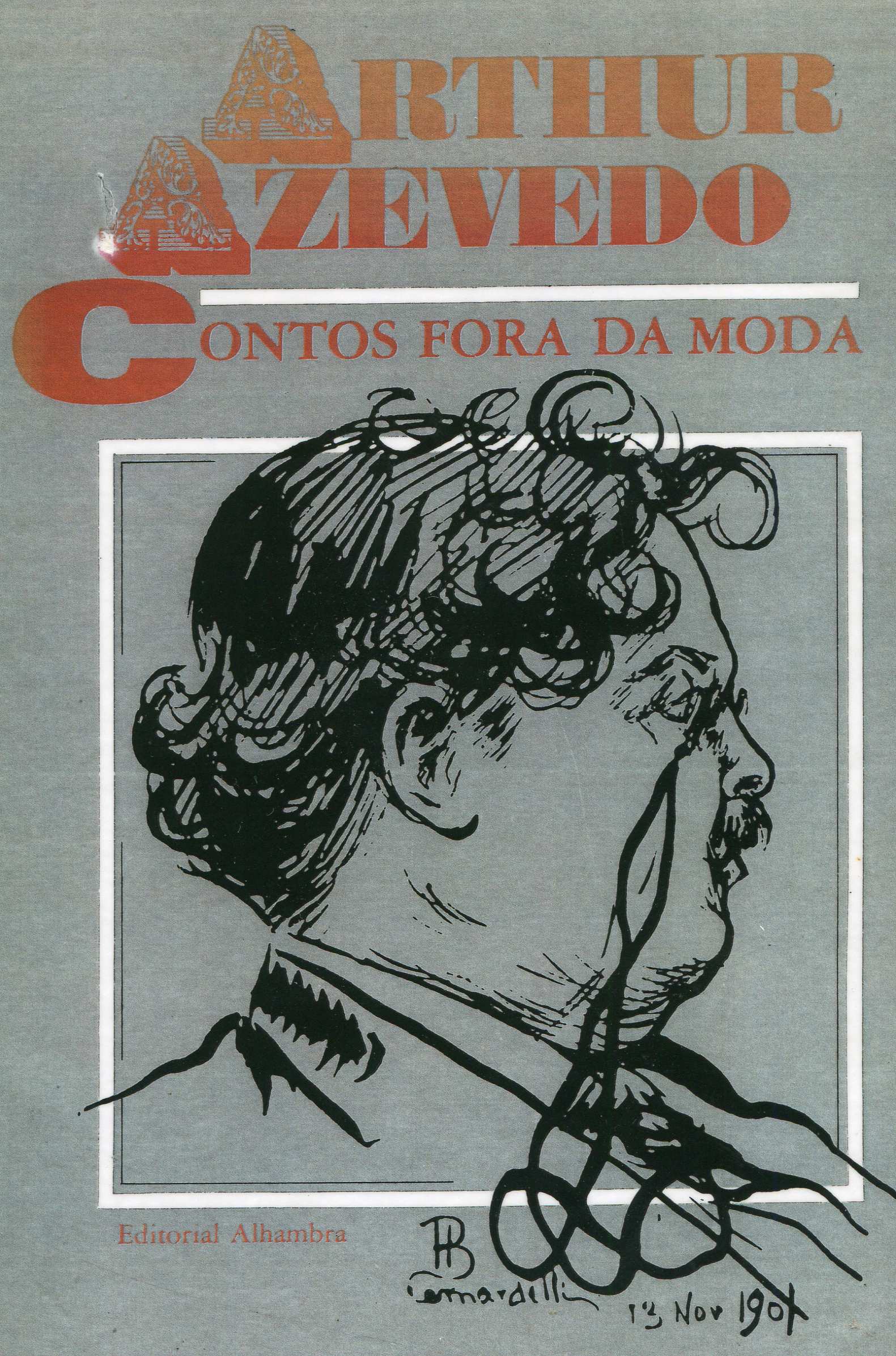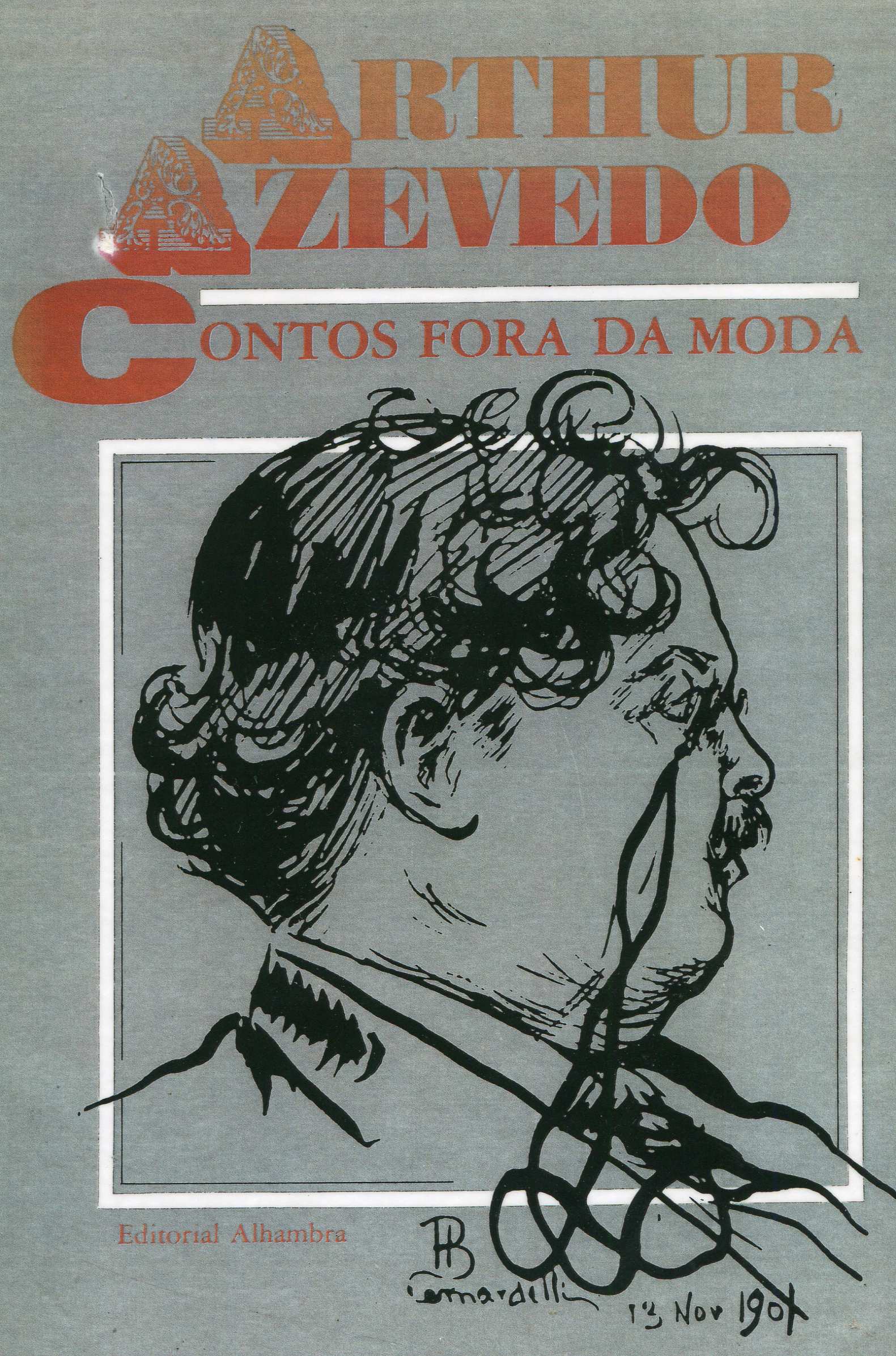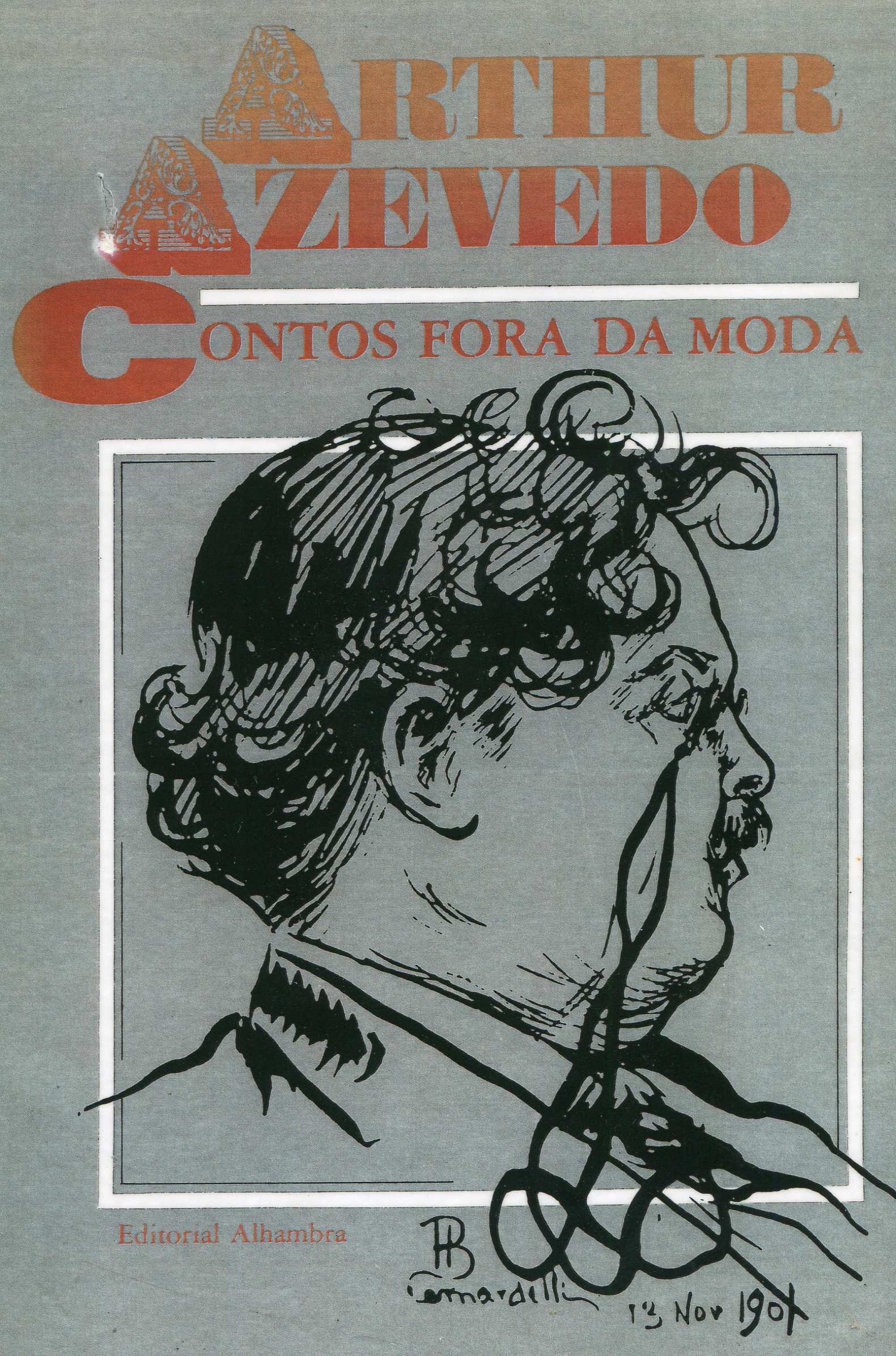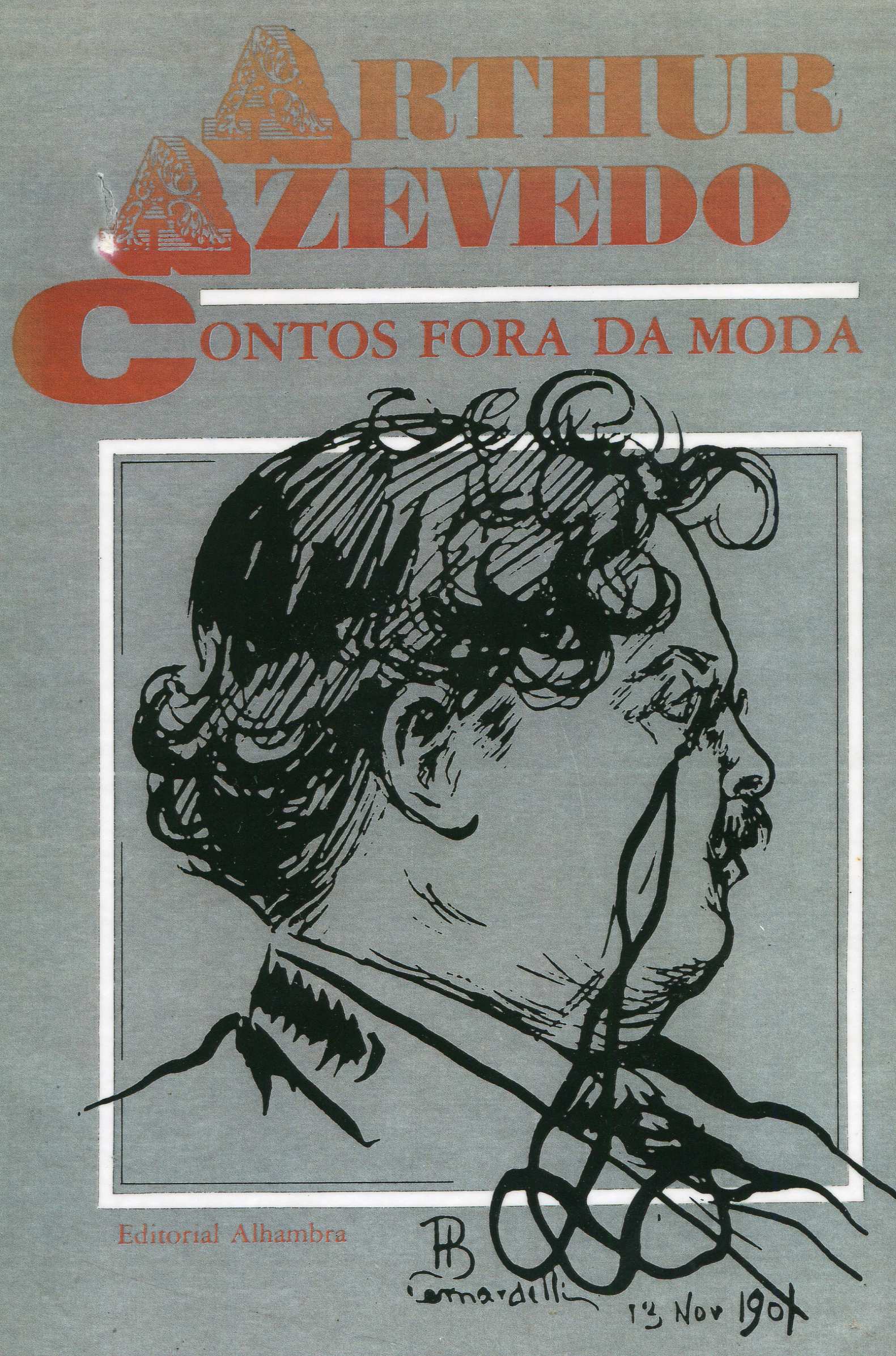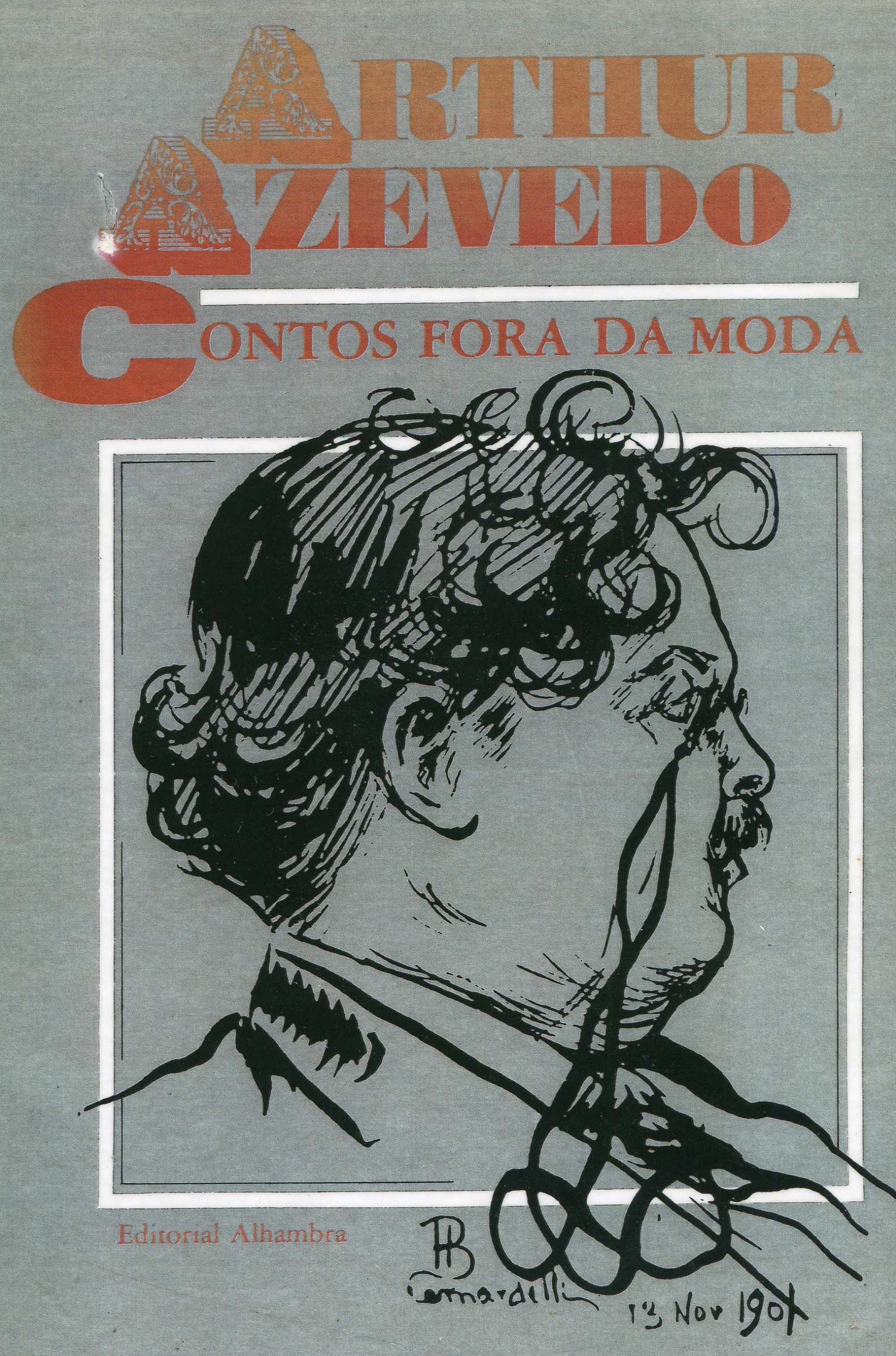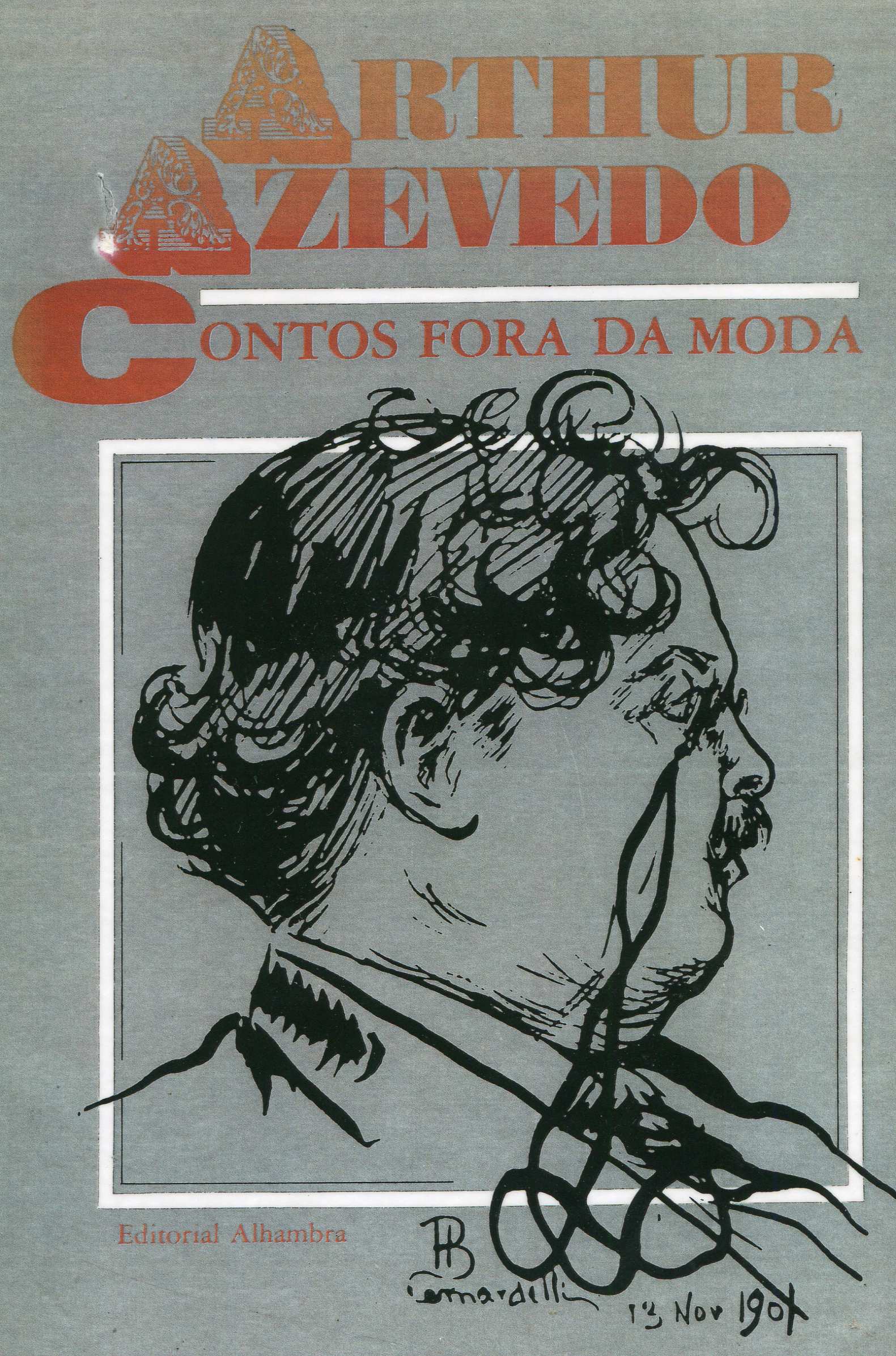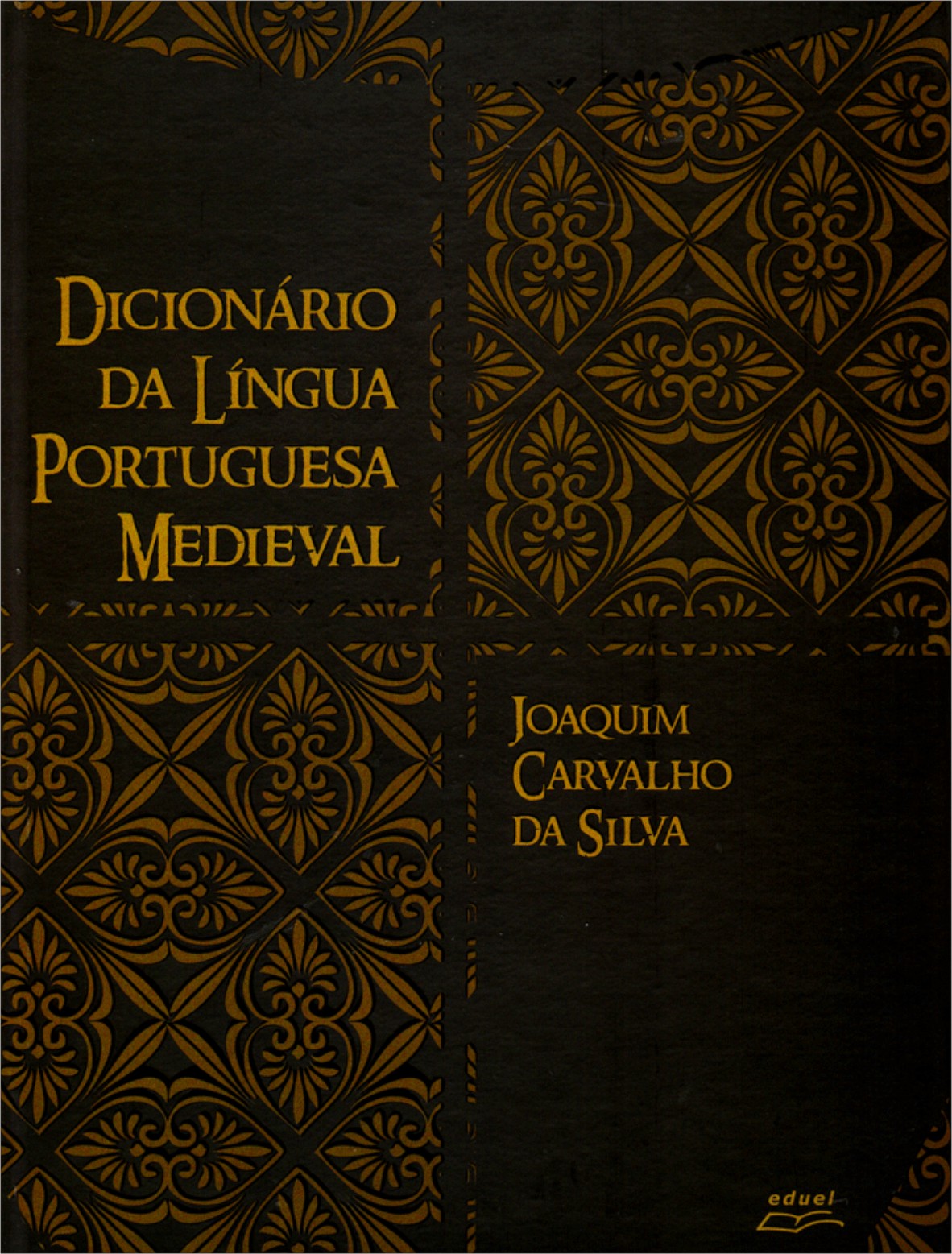A DÍVIDA
A DÍVIDA
Arthur Azevedo
I
Montenegro e Veloso formaram-se no mesmo dia, na Faculdade de Direito de São Paulo. Depois da cerimônia da colação do grau, foram ambos enterrar a vida acadêmica num restaurante, em companhia de outros colegas, e era noite fechada quando se recolheram ao quarto que, havia dois anos, ocupavam juntos em casa de umas velhotas na Rua de São José. Aí se entregaram à recordação da sua vida escolástica, e se enterneceram defronte um do outro, vendo aproximar-se a hora em que deviam separar-se, talvez para sempre. Montenegro era de Santa Catarina, e Veloso, do Rio de Janeiro; no dia seguinte aquele partiria para Santos, e este, para a capital do Império. As malas estavam feitas.
–Talvez ainda nos encontremos, disse Montenegro. O mundo dá tantas voltas!
– Não creio, respondeu Veloso. Vais para a tua província, casas-te, e era uma vez o Montenegro.
– Caso-me?! Aí vens tu! Bem conheces as minhas ideias a respeito do casamento, ideias que são, aliás, as mesmas que tu professas. Afianço-te que hei de morrer solteiro.
– Isso dizem todos...
– Veloso, tu conheces-me há muito tempo: já deves estar farto de saber que eu quando digo, digo.
– Pois sim, mas há de ser difícil que em Santa Catarina te possas livrar do conjugo vobis. Na província, ninguém toma a sério um advogado solteiro.
– Enganas-te. Os médicos, sim; os médicos é que devem ser casados.
– Não me engano tal. Na província, o homem solteiro, seja qual for a posição que ocupe, só é bem recebido nas casas em que haja moças casadeiras.
– Quem te meteu essa caraminhola na cabeça?
– Se fosses, como eu, para a Corte, acredito que nunca te casasses; mas vais para o Desterro: estás aqui estás com uma ninhada de filhos. Queres fazer uma aposta?
– Como assim?
– O primeiro de nós que se casar pagará ao outro... Quanto?
– Vê tu lá.
– Deve ser uma quantia gorda.
– Um conto de réis.
– Upa! Um conto de réis não é dinheiro. É preciso que a aposta seja de vinte contos, pelo menos.
– Ó Veloso, tu estás doido? Onde vamos nós arranjar vinte contos de réis?
– O diabo nos leve se aqueles canudos não nos enriquecerem
– Está dito! Aceito! Mas olha que é sério!
– Muito sério. Vai preparando papel e tinta enquanto vou comprar duas estampilhas.
– Sim, senhor! Quero o preto no branco! Há de ser uma obrigação recíproca, passada com todos os efes e erres!
Veloso saiu e logo voltou com as estampilhas.
– Senta-te e escreve o que te vou ditar.
Montenegro sentou-se, tomou a pena, mergulhou-a no tinteiro, e disse:
– Pronto.
Eis o que o outro ditou e ele escreveu:
"Devo ao Bacharel Jaime Veloso a quantia de vinte contos de réis, que lhe pagarei no dia do meu casamento, oferecendo como fiança desse pagamento, além da presente declaração, a minha palavra de honra."
– Agora eu! Disse Veloso, sentando-se:
"Devo ao Bacharel Gustavo Montenegro a quantia de vinte contos de réis... etc."
As declarações foram estampilhadas, datadas e assinadas, ficando cada um com a sua.
No dia seguinte Montenegro embarcava em Santos e seguia para o Sul, enquanto Veloso, arrebatado pelo trem de ferro, se aproximava da Corte.
II
Montenegro ficou apenas três anos em Santa Catarina, que lhe pareceu um campo demasiado estreito para as suas aspirações: foi também para a Corte, onde o Conselheiro Brito, velho e conhecido advogado, amigo da família dele, paternalmente se ofereceu para encaminhá-lo, oferecendo-lhe um lugar no seu escritório.
Chegado ao Rio de Janeiro, o catarinense desde logo procurou o seu companheiro de estudos, e não encontrou da parte deste o afetuoso acolhimento que esperava. Veloso estava outro: em três anos transformara-se completamente. Montenegro veio achá-lo satisfeito e feliz, com muitas relações no comércio, encarregado de causas importantes, morando numa bela casa, frequentando a alta sociedade, gastando à larga.
O catarinense, que tinha uma alma grande, sinceramente estimou que a sorte com tanta liberalidade houvesse favorecido o seu amigo; ficou, porém, deveras magoado pela maneira fria e pelo mal disfarçado ar de proteção com que foi recebido.
Veloso não se demorou muito em falar-lhe da aposta de São Paulo.
– Olha que aquilo está de pé!
– Certamente. A nossa palavra de honra está empenhada.
– Se te casas, não te perdoo a dívida.
– Nem eu a ti.
Os dois bacharéis separaram-se friamente. Veloso não pagou a visita a Montenegro, e Montenegro nunca mais visitou Veloso. Encontravam-se às vezes, fortuitamente, na rua, nos bondes, nos tribunais, nos teatros, e Veloso perguntava infalivelmente a Montenegro:
– Então? Ainda não és noivo?
– Não.
– Que diabo! Estou morto por entrar naqueles vinte contos...
III
Um dia, Montenegro foi convidado para jantar em casa do Conselheiro Brito. Não podia faltar, porque fazia anos o seu venerando protetor, mestre e amigo. Lá foi, e encontrou a casa cheia de gente. Passeando os olhos pelas pessoas que se achavam na sala, causou-lhe rápida e agradabilíssima impressão uma bonita moça que, pela elegância do vestuário e pela vivacidade da fisionomia, se destacava num grupo de senhoras.
Era a primeira vez que Montenegro descobria no mundo real um físico de mulher correspondendo pouco mais ou menos ao ideal que formara. Não há mulher, por mais inexperiente, a quem escapem os olhares interessados de um homem. A moça imediatamente percebeu a impressão que produzira, e, ou fosse que por seu turno simpatizasse com Montenegro, ou fosse pelo desejo vaidoso de transformar em labaredas a fagulha que faiscaram seus olhos, o caso é que se deixou vencer pela insistência com que o bacharel a encarava, e esboçou um desses indefiníveis sorrisos que nas batalhas do amor equivalem a uma capitulação. O acordo tácito e imprevisto daquelas duas simpatias foi celebrado com tanta rapidez, que Montenegro, completamente hóspede na arte de namorar, chegou a perguntar a si mesmo se não era tudo aquilo o efeito de uma alucinação. O namoro foi interrompido pela esposa do Conselheiro Brito, que entrou na sala e cortou o fio a todas as conversas, dizendo:
– Vamos jantar.
À mesa, por uma coincidência que não qualificarei de notável, colocaram Montenegro ao lado da moça. Escusado é dizer que ainda não tinham acabado a sopa, e já os dois namorados conversavam um com o outro como se de muito se conhecessem. Na altura do assado, Montenegro acabava de ouvir a autobiografia, desenvolvida e completa, da sua fascinadora vizinha.
Chamava-se Laurentina, mas todas as pessoas do seu conhecimento a tratavam por Lalá, gracioso diminutivo com que desde pequenina lhe haviam desfigurado o nome. Era órfã de pai e mãe. Vivia com uma irmã de seu pai, senhora bastante idosa e bastante magra, que estava sentada do outro lado da mesa, cravando na sobrinha uns olhares penetrantes indagadores. Os pais não lhe deixaram absolutamente nada, além da esmeradíssima educação que lhe deram; mas a tia, que generosamente a acolheu em sua casa, tinha, graças a Deus, alguma coisa, pouca, o necessário para viverem ambas sem recorrer ao auxílio de estranhos nem de parentes. Para não ser muito pesada à tia, Lalá ganhava algum dinheiro dando lições de piano e canto em casas particulares; eram os seus alfinetes.
– Fui educada um pouco à americana, acrescentou; saio sozinha à rua sem receio de que me faltem ao respeito, e sou o homem lá de casa. Quando é preciso, vou eu mesma tratar dos negócios de minha tia.
E elevando a voz:
– Não é assim, titia?
– É, minha filha, respondeu do lado oposto à velha, embora sem saber de que se tratava.
Lalá era suficientemente instruída, e tinha algum espírito mais que o comum das senhoras brasileiras. Essas qualidades, realmente apreciáveis, tomaram proporções exageradas na imaginação de Montenegro. Este disse também a Lalá quem era, e contou-lhe os fatos mais interessantes da sua vida, exceção feita, já se sabe, da famosa aposta de São Paulo. E tão entretidos estavam Montenegro e Lalá nas mútuas confidências que cada vez mais os prendiam, que nenhuma atenção prestaram aos incidentes da mesa, inclusive os brindes, que não foram poucos.
Acabado de jantar, improvisou-se um concerto e depois dançou-se. Lalá cantou um romance de Tosti. Cantou mal, com pouca voz, sem nenhuma expressão, e a Montenegro pareceu aquilo o non plus ultra da cantoria. Dançou com ela uma valsa, e durante a dança apertaram-se as mãos com uma força equivalente a um pacto solene de amor e fidelidade. Ele sentia-se absolutamente apaixonado quando, de madrugada, se encaminhou para casa, depois de fechar a portinhola do carro e magoar os dedos da moça num último aperto de mão.
Era dia claro quando o bacharel conseguiu adormecer. Sonhou que era quase marido. Estava na igreja, de braço dado a Lalá, deslumbrante nas suas vestes de noiva. Mas ao subir com ela os degraus do altar, reconheceu na figura do sacerdote, que os esperava de braços erguidos, o seu colega Veloso, credor de vinte contos de réis.
IV
Nesse mesmo dia, Montenegro estava sozinho no escritório, e trabalhava, quando entrou o Conselheiro Brito.
– Bom dia, Gustavo.
– Bom dia, conselheiro.
O velho advogado sentou-se e pôs-se a desfolhar distraidamente uns autos; mas, passados alguns minutos, disse muito naturalmente, sem levantar os olhos:
– Gustavo, aquilo não te serve.
– Aquilo quê?
– Faze-te de novas! A Lalá.
– Mas...
– Não negues. Toda a gente viu. Vocês estiveram escandalosos. Se tens em alguma conta os meus conselhos, arrepia carreira enquanto é tempo. Tu a conheces?
– Não, senhor; mas encontrei-a em sua casa, e tanto bastou para formar dela o melhor conceito.
–Lá por isso, não, meu rapaz! Eu não fumo, mas não me importa que fumem perto de mim.
– Então ela...?
– Não digo que seja uma mulher perdida, mas recebeu uma educação muito livre, saracoteia sozinha por toda a cidade e não tem podido, por conseguinte, escapar à implacável maledicência dos fluminenses. Demais, está habituada ao luxo, ao luxo da rua, que é o mais caro; em casa arranjam-se ela e a tia sabe Deus como. Não é mulher com quem a gente se case. Depois, lembra-te que apenas começas e não tens ainda onde cair morto. Enfim, és um homem: faze o que bem te parecer.
Essas palavras, proferidas com uma franqueza por tantos motivos autorizada, calaram no ânimo do bacharel. Intimamente ele estimava que o velho amigo de seu pai o dissuadisse de requestar a moça, – não pelas consequências morais do casamento, mas pela obrigação, que este lhe impunha, de satisfazer uma dívida de vinte contos de réis, quando, apesar de todos os seus esforços, não conseguira até então pôr de parte nem o terço daquela quantia.
Mas o amor contrariado cresce com inaudita violência. Por mais conselhos que pedisse à razão, por mais que procurasse iludir-se a si próprio, Montenegro não conseguia libertar-se da impressão que lhe causara a moça. O seu coração estava inteiramente subjugado. Ainda assim, lograria, talvez, vencer-se, se, vinte dias depois do seu encontro com Lalá, esta não lhe escrevesse um bilhete que neutralizou todos os seus elementos de reação.
"Doutor. – Sinto que o nosso romance o enfastiasse tanto, que o senhor não quisesse ir além do primeiro capítulo. Entretanto, não imagina como sofro por não saber os motivos que atuaram no seu espírito para interromper tão bruscamente... a leitura. Diga-me alguma coisa, dê-me uma explicação que me tranquilize ou me desengane. Esta incerteza mata-me. Escreva-me sem receio, porque só eu abro as minhas cartas. – Lalá."
A primeira ideia de Montenegro foi deixar a carta sem resposta, e empregar todos os meios e modos para esquecer-se da moça e fazer-se esquecer por ela; refletiu, porém, que não poderia justificar o seu procedimento, se recusasse a explicação com tanta delicadeza solicitada. Resolveu, portanto, responder a Lalá com um desengano categórico e formal, e mandou-lhe esta pílula dourada:
"Lalá. – Deus sabe quanto eu a amo e que sacrifício me imponho para renunciar à ventura e à glória de pertencer-lhe; mas um motivo imperioso existe, que se opõe inexoravelmente à nossa união. Não me pergunte que motivo é esse; se eu 1ho revelasse, a senhora achar-me-ia ridículo. Basta dizer-lhe que a objeção não parte de nenhuma circunstância a que esteja ligada sua pessoa; parte de mim mesmo, ou antes, da minha pobreza. Adeus, Lalá; creia que, ao escrever-lhe estas linhas, sinto a pena pesada como se estivessem fundidos nela todos os meus tormentos. – G. M."
– Que conselho me dá vossemecê? Perguntou Lalá à sua tia, depois de ler para ela ouvir a carta de Montenegro.
– O conselho que te dou é tratares de arranjar quanto antes uma entrevista com esse moço, e entenderes-te verbalmente com ele. Isto de cartas não vale nada. Ele que te diga francamente qual é o tal motivo... e talvez possamos remover todas as dificuldades. Não percas esse marido, minha filha. O Doutor Montenegro é um advogado de muito futuro; pode fazer a tua felicidade.
No dia seguinte Montenegro recebeu as seguintes linhas:
"Amanhã, quinta-feira, às duas horas da tarde, tomarei um bonde no Largo da Lapa, porque vou dar uma lição na Rua do Senador Vergueiro. Esteja ali por acaso, e por acaso tome o mesmo bonde que eu e sente-se ao pé de mim. Recebi a sua carta; é preciso que nos entendamos de viva voz. – Lalá."
O tom desse bilhete desagradou a Montenegro. Quem o lesse diria ter sido escrito por uma senhora habituada a marcar entrevistas. Entretanto, à hora aprazada o bacharel achou-se no Largo da Lapa. Recuar seria mostrar uma pusilanimidade moral, que o envergonharia eternamente. Depois, como ele possuía todas as fraquezas do namorado, deixou-se seduzir pela provável delícia dessa viagem de bonde. Quando o veículo parou no Largo do Machado, Lalá sabia já qual o motivo pecuniário que se opunha ao casamento. Ouvira sem pestanejar a confissão de Montenegro.
– O motivo é grave, disse ela; o Doutor Veloso tem a sua palavra de honra, e o senhor não pode mudar de estado sem dispor de uma soma relativamente considerável; mas... eu sou mulher e talvez consiga...
– O quê? Perguntou Montenegro sobressaltado.
– Descanse. Sou incapaz de cometer qualquer ação que nos fique mal. Separemo-nos aqui. Eu lhe escreverei.
Lalá estendeu a mão enluvada que Montenegro apertou, desta vez sem lhe magoar os dedos. Ele apeou-se e galgou o estribo de outro bonde que partia para a cidade.
– Já está pago, disse o condutor a Montenegro quando este lhe quis dar um níquel.
O bacharel voltou-se para verificar quem tinha pago por ele, e deu com os olhos em Veloso, que lhe disse de longe, rindo-se:
– Foi por conta daqueles vinte, – sabes?
– Reza-lhes por alma! Bradou Montenegro, rindo-se também.
V
Esse "reza-lhes por alma" queria dizer que Montenegro voltara desencantado do seu passeio de bonde. Lalá parecera-lhe outra, mais desenvolta, mais americana, completamente despida do melindroso recato que é o mais precioso requisito da mulher virgem. Ele deixou-se convencer de que a moça, depois de ouvir a exposição franca e leal das suas condições de insolvabilidade, desistira mentalmente de considerá-lo um noivo possível, dizendo por dizer aquelas palavras "talvez eu consiga", palavras à-toa, trazidas ali apenas para fornecer o ponto final a um diálogo que se ia tornando penoso e ridículo.
Montenegro fez ciente do seu desencanto ao Conselheiro Brito, que lhe deu parabéns, e daí por diante, só se lembrou de Lalá como de uma bonita mulher de quem faria com muito prazer sua amante, mas nunca sua esposa. Desaparecera completamente aquele doce enlevo causado pela primeira impressão. O "reza-lhes por alma" saiu-lhe dos lábios com a impetuosidade de um grito da consciência. A desilusão foi tão pronta como pronto havia sido o encanto. Fogo de palha.
VI
Entretanto, mal sabia Montenegro que Lalá concebera um plano extravagante e o punha em prática enquanto ele, tranquilo e despreocupado, imaginava que ela o houvesse posto à margem. Depois de aconselhar-se com a tia, que não primava pelo bom senso, a professora de piano e canto encheu-se de decisão e coragem, foi ter com o Doutor Veloso no seu escritório e disse-lhe que desejava dar-lhe duas palavras em particular. A beleza de Lalá deslumbrou o advogado, e, como este era extremamente vaidoso, viu logo ali uma conquista amorosa em perspectiva.
–Tenha a bondade de entrar neste gabinete, minha senhora.
Lalá entrou, sentou-se num divã, e contou ao Doutor Veloso toda a sua vida, repetindo, palavra por palavra, o que dissera a Montenegro durante o jantar do Conselheiro Brito. Admirado de tanta loquacidade e de tanto espírito, Veloso perguntou-lhe, terminada a história, em que poderia servi-la.
– Sou amada por um homem que é digno de mim, e o nosso casamento depende exclusivamente do doutor.
– De mim?
– A minha ventura está nas suas mãos. Custa-lhe apenas vinte contos de réis. Não quero crer que o doutor se negue a pagar por essa miserável quantia a felicidade... de uma órfã.
– Não compreendo.
– Compreenderá quando eu lhe disser que o homem por quem sou amada é o seu amigo e colega Doutor Gustavo Montenegro.
– Ah! Ah!...
– Escusado é dizer que ele ignora absolutamente a resolução, que tomei, de vir falar-lhe.
– Acredito.
– Qual é a sua resposta?
– Minha senhora, balbuciou Veloso, sorrindo; eu tenho algum dinheiro, tenho... mas perder assim vinte contos de reis...
– Recusa?
– Não, não recuso; mas peço algum tempo para refletir. Depois de amanhã venha buscar a resposta.
A conversação continuou por algum tempo, e Veloso começou a sentir pela moça a mesmíssima impressão que ela causara a Montenegro. Lalá notou o efeito que produzia, e pôs em distribuição todos os seus diabólicos artifícios de mulher astuta e avisada.
– Feliz Gustavo!
– Feliz... por quê?
– É amado!
– Oh! Não vá agora supor que ele me inspirasse uma paixão desenfreada!
– Ah!
– É um marido que me convém, isso é; mas se o doutor não abrir mão da dívida, e ele não se puder casar, não creia que eu me suicide!
Ouvindo esta frase, Veloso adiantou-se tanto, tanto, que, dois dias depois, quando Lalá foi saber a resposta, ele recebeu-a com estas palavras:
– Não!... Se eu abrisse mão dos vinte contos, ele seria seu marido, e...
– E...?
– E eu... tenho ciúmes.
No dia seguinte ele era apresentado à tia, manejo aconselhado pela própria velha.
– Este é mais rico, mais bonito e até mais inteligente que o outro... Não o deixes escapar, minha filha!
A verdade é que Veloso não se introduziu em casa de Lalá com boas intenções; mas a esperteza da moça e as indiscrições do advogado determinaram em breve uma situação de que ele não pôde recuar. Imagine-se a surpresa de Montenegro quando lhe anunciaram o casamento de Lalá com o seu colega, e a indignação que dele se apoderou quando por portas travessas veio ao conhecimento do modo singular por que fora ajustado esse consórcio imprevisto.
VII
No dia seguinte ao do casamento, estava Montenegro no escritório, quando recebeu um cheque de vinte contos de réis, enviado pelo marido de Lalá.
– Não acha que devo devolver este dinheiro? Perguntou ele ao Conselheiro Guedes.
– Não; mas não o gastes; afianço-te que terás ocasião mais oportuna para devolvê-lo.
E assim foi.
A lua-de-mel não durou dois meses. Os dois esposos desavieram-se e logo se separaram judicialmente. Ele voltou à vida de solteiro e ela tornou para casa da tia. Um dia, Montenegro encontrou-a num armarinho da Rua do Ouvidor, e tais coisas lhe disse a moça, tais protestos fez e tão arrependida se mostrou de o haver trocado pelo outro, que dois dias depois ela entrava furtivamente em casa dele. Nesse mesmo dia o desleal Veloso recebeu uma cartinha concebida nos seguintes termos:
"Doutor Veloso. – Devolvo-lhe intacto o incluso cheque de vinte contos de réis, porque a dívida que ele representa é uma estudantada imoral, sem nenhum valor jurídico. – Gustavo Montenegro."