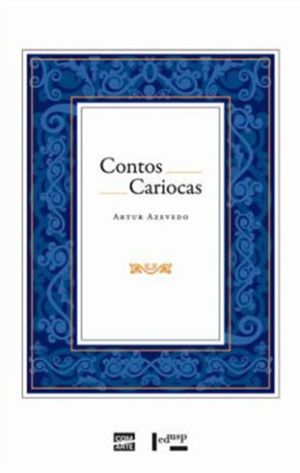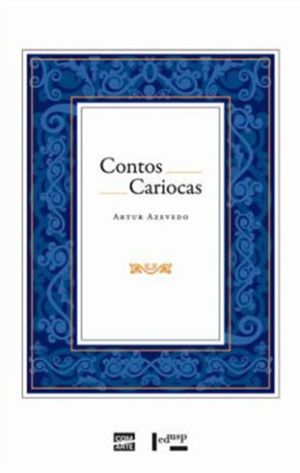A TIA ANINHA
A TIA ANINHA
Arthur Azevedo
Ainda há poucos anos, havia, numa das capitais do Norte, uma velhinha pobre, paupérrima que não mendigava, mas aceitava o agasalho que lhe davam algumas famílias compassivas, passando um mês aqui, outro ali, quinze dias acolá. Uma bela manhã chegava com sua lata de folha (tudo quanto possuía) e aboletava-se entre afagos e sorrisos de boa-vinda.
– Seja bem aparecida, tia Aninha! O seu quarto lá está, tem sua cama preparada! Mas desta vez demore-se mais tempo: você a ninguém incomoda nesta casa, nem aumenta a despesa: fique o tempo que quiser.
Mas a tia Aninha, quando suspeitava que a sua presença ia se tornando aborrecida, levantava o voo e partia, com a sua lata de folha, para alojar-se noutra parte.
Era uma velhinha alegre, mas de uma alegria que nenhum observador experimentado acharia natural e sincera.
As crianças adoravam-na, porque ela sabia contar-lhes muitas histórias bonitas de fadas e lobisomens – e aí está um dos motivos por que a tia Aninha, depois de prolongada ausência, era sempre bem recebida, com a sua lata de folha.
*
Foi numa dessas casas hospitaleiras que a encontrei um dia (antes a não encontrasse!), rodeada de fedelhos boquiabertos e ofegantes. Interessou-me aquele rosto enrugado e macilento, em que julguei descobrir vestígios de um passado cheio de peripécias e vicissitudes.
A velha boêmia simpatizou comigo, pelo que, aliás nenhum merecimento me atribui, porque ela – coitadinha! – simpatizava com toda a gente. Nas suas palavras, nos seus gestos e nos seus olhares, que brilhavam ainda através de duas pequeninas frestas esquecidas entre as pálpebras, nunca ninguém descobriu a menor prevenção contra pessoa alguma.
Não pertencia ao tipo, muito comum no Brasil e creio que em toda a parte, da velha parasita, que anda de lar em lar, de alcova a alcova, trazendo e levando enredos, novidades e mexericos, dando fé do que se passa em casa de Fulano para chalrar em casa de Beltrano, adulando as donas e seduzindo as donzelas, embiocada e devotada.
Como lhe mentissem, dizendo que eu era romancista, a tia Aninha me declarou, sorrindo, que a sua vida tinha sido um verdadeiro romance, e essa declaração me levou (antes não levasse!) a revolver aquelas cinzas, curioso de se embaixo delas crepitavam ainda as derradeiras brasas.
Crepitavam; mas a história da tia Aninha era vulgaríssima, sem incidentes excepcionais nem grandes lances e surpresas do acaso. Se ela imaginava que aquilo daria um romance, não fazia mais do que fazem todos os indivíduos para quem o mundo não foi um mar de rosas. Não há criatura infeliz que não esteja persuadida que da sua existência se faria a mais interessante das novelas.
Nascera a tia Aninha pouco depois da Independência. Era filha única de um negociante português, sofrivelmente apatacado. A sua vida correu pacifica e serena até os vinte anos. Foi nessa idade que o seu coração falou: ela apaixonou-se por um caixeiro do pai.
A mãe que desejava ser sogra de um príncipe, descobrindo um dia esses amores, que aliás duravam, havia já dois anos, foi ter com o marido e disse-lhe tudo.
O negociante enfureceu-se; pôs imediatamente no andar da rua o mísero subalterno que se atrevia a levantar os olhos tão alto, e andou por o todo bairro comercial a pedir de porta em porta que ninguém o arrumasse. O rapaz ficou, portanto, incompatibilizado com a praça, e resolveu partir para o Rio de Janeiro, procurando no Sul a fortuna que lhe fugia no Norte. Partiu.
Partiu, mas antes disso, prometeu, por intermédio de uma boa amiga da moça, guardar-lhe fidelidade, e voltar um dia, quando melhorasse de posição, e de haveres, para casar-se com ela.
Prometeu igualmente escrever-lhe por todos os correios, promessa que cumpriu, graças ainda ao gracioso intermédio da amiga, que recebia as cartas, embora endereçadas à tia Aninha.
Isto passava-se em 1844. Durante dois anos vieram cartas por todos os correios. Nas penúltimas, o moço queixava-se, em caracteres trêmulos, de que se sentia muito enfermo, e nas últimas que eram lacônicas, escritas sob um esforço violento e visível já não falava um doente, mas um moribundo. "Talvez seja esta a minha última carta", escreveu ele um dia – e a moça não recebeu mais nenhuma.
Dois ou três meses depois, o pai friamente, à mesa do jantar, deu-lhe a notícia da morte do noivo.
A pobrezinha contava já vinte e seis anos. Se até então repelira todas as propostas de casamento que lhe foram feitas pelo pai, dali por diante não admitiu que lhe falassem mais nisso.
O velho, depois de se meter imprudentemente numa arriscada especulação de açúcares, faliu em 1850, e alguns meses depois desaparecia, fulminado por uma congestão.
Mãe e filha ficaram reduzidas à pobreza extrema. Os amigos de outrora, sumiram-se, afugentados pelo aspecto da miséria.
Em 1855, redobraram ainda os infortúnios de Aninha, com a morte da mãe, vítima do cólera-morbo.
Datavam dessa época a sua vida de boêmia e a sua lata de folha. Tinha então apenas trinta e três anos, mas não lhe davam menos de cinquenta tais foram os estragos causados pelo sofrimento.
*
Quando a tia Aninha acabou de me contar todas essas coisas, uma tarde em que por acaso nos achamos sozinhos, num dos seus asilos habituais, no jardim, à sombra de uma latada, não me atrevi a dizer-lhe que na sua existência de viúva-virgem não havia matéria para um romance, a menos que o talento e a imaginação do romancista suprissem o que lhe faltava. Entretanto, proferi esta frase, que continha uma fórmula de consolação:
– A sua vida é, na realidade, um verdadeiro romance, tia Aninha; mas creia que esse mesmo tem sido o romance de muitas mulheres.
– Oh! Se o senhor lesse as cartas que ele me escreveu! Só elas dariam páginas e páginas. Era um simples caixeiro, mas muito inteligente. Quer vê-las?
– O quê?
– As cartas!
– Ainda as conserva?
– Se ainda as conservo? São a minha fortuna. Vou buscá-las.
A velha ergueu-se, foi ao seu quarto, e pouco depois voltou trazendo a sua inseparável lata de folha.
*
Li algumas das cartas: nada havia nelas de extraordinário, mas tinham, relativamente, muito valor material, porque estavam todas seladas com os selos das nossas primeiras emissões postais: o "olho de boi", o "trezentos réis inclinados" e outros.
– Diz a senhora muito bem; a sua fortuna está nestas cartas! Saiba, tia Aninha, que cada um destes selos vale centenas de mil réis!
A pobre velha, que ignorava a mania filatélica, não compreendeu: foi preciso que eu lho explicasse.
Ela protestou:
– Desfazer-me das minhas cartas? Nunca!
– Não se desfaça das cartas; desfaça-se dos selos.
– Estes selos podem valer milhões! Não os venderei! Para que preciso de dinheiro?
Deveria calar-me. Tenho remorsos de haver revelado ao dono da casa onde me achava a existência dos selos da tia Aninha. Ele foi o primeiro a querer comprá-los para negócio.
Pouco tardou que se espalhasse em toda a cidade a notícia de que a velha possuía uma riqueza encerrada na sua lata de folha. Por fim, já não se dizia que eram selos do correio, mas velhas moedas de ouro, joias raras e preciosíssimas, o diabo!
E era o seu tesouro tão cobiçado, tanta gente lhe falava nele e manifestava o desejo de examiná-lo, que a tia Aninha, mais ciosa da sua lata de folha que Harpagon do seu cofre, tinha pesadelos e alucinações terríveis, vivia num contínuo sobressalto, não podia dormir duas horas que hão despertasse aos gritos, sonhando que lhe roubavam a sua querida lata, o seu travesseiro.
Agora havia empenhos para hospedá-la; aconselhavam-na a fazer testamento, adulavam-na, perseguiam-na com uma solicitude que a desvairou, que lhe tirou lentamente o raciocínio e a saúde.
Mais do que nunca não esquentava lugar, aparecia e logo desaparecia; já não contava às crianças as suas bonitas histórias de fadas e lobisomens; já não falava a ninguém no seu romance, sem perceber, coitada! que o seu romance começava agora.
Os pequeninos, que dantes a adoravam, tinham medo dela, e os garotos apupavam-na quando a mísera passava, com a desconfiança no olhar, desgrenhada, andrajosa, descalça, faminta, apertando nos braços esqueléticos a sua lata de folha, o seu travesseiro, o seu tesouro.
*
Uma noite em que a tia Aninha, vagabundeando à-toa, atravessava uma praça deserta e silenciosa, foi assaltada por um malfeitor que a roubou, depois de atordoá-la com uma paulada. Conduzida, algumas horas depois, para um hospital, expirou pronunciando o nome do noivo, martirizada menos pela paulada assassina que pela ideia de haver perdido as suas cartas de amor.
(Do livro Contos Cariocas)